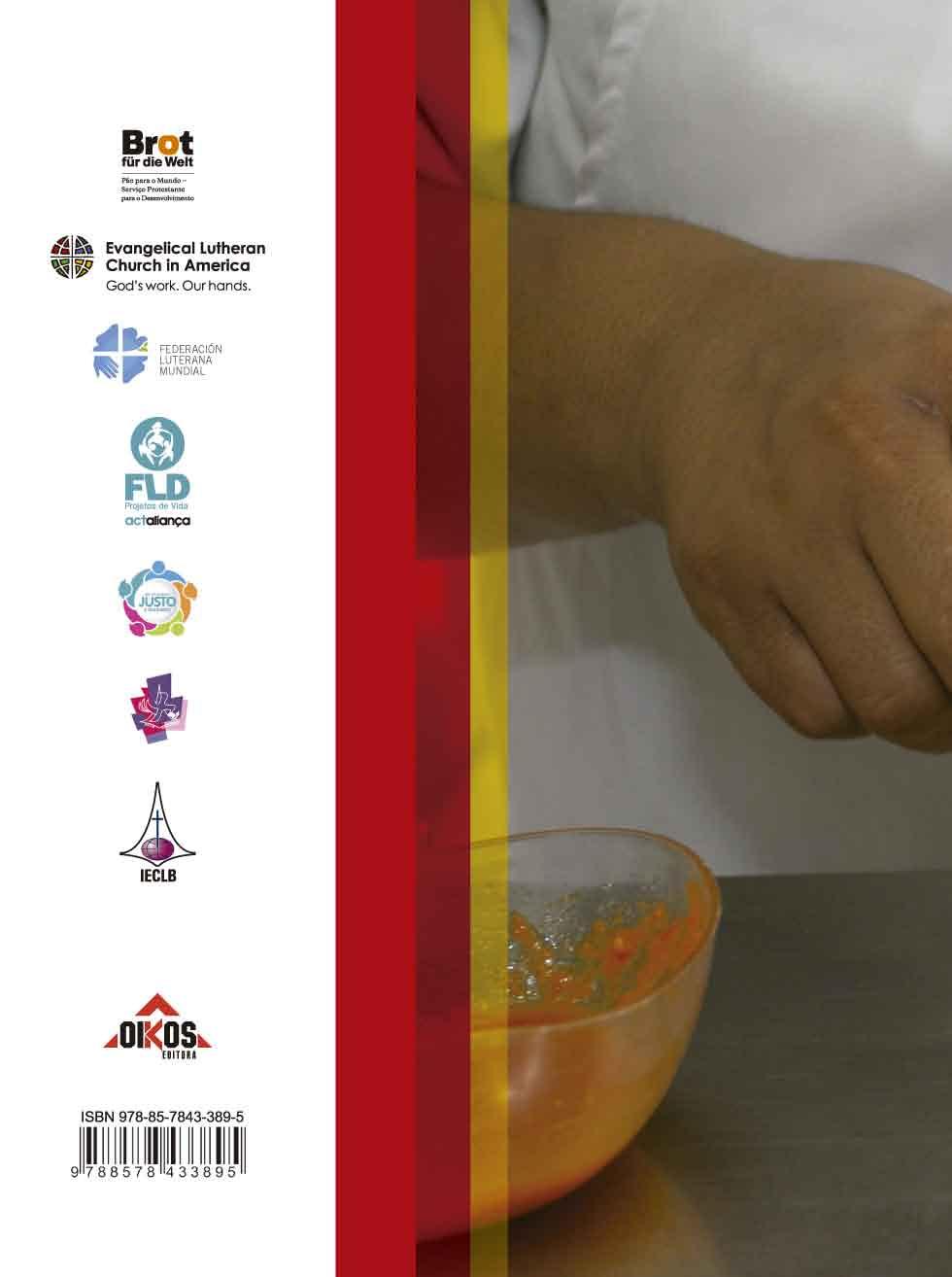12 minute read
Sustentabilidade dos empreendimentos da economia solidária
from Economia solidária, Diaconia e Desenvolvimento Transformador
by Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB)
82
Gabriel Kraychete1
Esse texto busca contribuir para a compreensão das condições necessárias à sustentabilidade dos empreendimentos da economia popular solidária. Está organizado em torno de duas questões e uma proposição: I) quando falamos em empreendimentos da economia solidária o que se pretende, de fato, viabilizar e (re)produzir; II) como os diferentes espaços interferem nas condições de sustentabilidade dos empreendimentos solidários. A proposição é de que a sustentabilidade dos empreendimentos da economia solidária pressupõe uma ambiência que favoreça o desenvolvimento dessa economia.
Empreendimentos solidários: o que se busca viabilizar e (re)produzir
Não existe uma produção em geral. A produção, fora do seu contexto, é uma abstração. Qualquer processo de trabalho, seja de uma empresa privada, de um agricultor familiar, de um trabalhador por conta própria ou de um empreendimento associati vo, possui os mesmos elementos consti tuti vos, ou seja: I) a força de trabalho; II) o objeto de trabalho (matérias-primas) sobre o qual o trabalho atua; e III) os meios de trabalho (instrumentos de trabalho) através dos quais o trabalho atua. Na realidade, o que existe são formas concretas de produção que supõem
uma determinada combinação de relações técnicas e relações sociais de produção. Um indivíduo que trabalha a terra estabelece determinadas relações técnicas com a terra e com os meios de trabalho. Esta pessoa, entretanto, pode ser um agricultor familiar, um trabalhador assalariado, um trabalhador cooperativado etc. Ou seja, concretamente, um mesmo conteúdo técnico toma diferentes formas sociais de produção, que expressam diferentes relações de propriedade dos meios de produção e de apropriação do resultado do trabalho.
A mercadoria resulta do trabalho humano e se destina ao mercado. A produção de mercadorias não é uma invenção do capitalismo. Nem todo produto é mercadoria e nem todo dinheiro é capital. O que caracteriza o capital não é o uso de máquinas e equipamentos, mas a transformação da força de trabalho em mercadoria. O capital é uma relação social caracterizada pelo uso do trabalho assalariado. Não existe capital sem trabalho assalariado.
Em outras formas sociais de produção a força de trabalho não se constitui numa mercadoria. É o caso, por exemplo, do trabalho realizado de modo individual ou familiar, ou dos empreendimentos associativos da economia solidária. Os trabalhadores associados produzem mercadorias, mas a sua força de trabalho não se constitui numa mercadoria. Ou seja, temos a produção de mercadorias por uma não mercadoria (KRAYCHETE, 2002).
Na empresa capitalista o processo de trabalho começa com um contrato que estabelece as condições de venda da força de trabalho pelo trabalhador e sua compra pelo empregador. O processo de trabalho ocorre entre coisas que pertencem ao capitalista e, por isso mesmo, requer o controle imposto, abusivo ou refinado, sobre os trabalhadores. A força de trabalho é uma mercadoria, cujo uso o empresário compra em troca de um salário. O empresário decide sobre as técnicas de produção, os mecanismos de controle e de gestão que vai utilizar. As decisões são tomadas visando o maior lucro.
Nos empreendimentos da economia solidária o processo de trabalho começa com a definição das regras de convivência e de gestão do empreendimento pelo conjunto dos trabalhadores associados. Para os empreendimentos econômicos solidários, conceitos típicos da economia capitalista, como salário e lucro, tornam-se inapropriados e perdem o seu significado, pois não expressam as relações sociais de produção que caracterizam aqueles empreendimentos.
As condições de viabilidade de um empreendimento associativo, portanto, têm por substrato a reprodução de uma determinada relação social de produção, marcada pela condição de não mercadoria da força de trabalho e pela apropriação do resultado do trabalho pelos trabalhadores associados, conforme as regras por eles definidas.
Se o que se busca é um processo de transformação social, a viabilidade de um empreendimento solidário não se reduz ao equacionamento de problemas técnicos, econômicos e comerciais particulares a cada empreendimento. A viabilidade dos empreendimentos da economia popular solidária não se traduz apenas na produção 83
84
de bens e serviços, mas na (re)produção de relações de trabalho economicamente viáveis e socialmente justas. Se isso é verdade, a efi ciência econômica não é um fi m em si mesmo, mas pressupõe a indagação: efi ciência econômica para quais objeti vos?
Um empreendimento, dito popular e solidário, pode alcançar a efi ciência através de medidas exclusivamente técnicas, conduzidas por especialistas, mas que terminam reproduzindo anti gas relações de dependência. Ou seja, o empreendimento pode ser efi ciente na obtenção de resultados econômicos, mas inefi caz se o que se pretende é viabilizar relações de trabalho emancipadoras.
O reverso desta situação é a condição de precariedade que, por diferentes razões, caracteriza a existência dos empreendimentos solidários. Apesar dos avanços e das conquistas dos empreendimentos da economia solidária, os dados disponíveis (MTE, 2005) revelam que os empreendimentos, em sua maior parte, contam apenas com os seus próprios recursos, funcionam em espaços emprestados e auferem uma receita insufi ciente para pagar as despesas e obter alguma sobra. Tomando-se por referência o conceito de trabalho decente tal como defi nido pela OIT2, pode-se concluir que uma parte signifi cati va dos empreendimentos da economia solidária enfrenta uma situação bastante adversa marcada pela precariedade do trabalho.
Economia popular solidária: indicadores para qual sustentabilidade?
Os indicadores não são neutros, mas servem a determinados objeti vos. Não apenas captam um aspecto de uma determinada realidade, mas conferem um senti do, uma direção e um signifi cado às ações e aos desejos, balizam e sancionam metas e avaliações. O PIB, como se sabe, é um indicador de crescimento econômico, mas nada nos informa sobre como é dividido o resultado desse crescimento nem, tampouco, qual o seu impacto sobre o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. Se nos orientarmos, apenas, por um indicador de crescimento econômico, tomando-o como a fi nalidade essencial da ati vidade econômica, o resultado pode ser desastroso. Se o objeti vo é a melhoria da qualidade de vida, cabe indagar o que está crescendo e para quem. Todo indicador subordina-se a um objeti vo social. Escolher indicadores pressupõe uma escolha entre concepções do que é bom e desejável para o ser humano. Não é uma escolha apenas técnica ou econômica, mas, essencialmente, éti ca e políti ca. A rentabilidade de uma ati vidade não possui o mesmo signifi cado para diferentes sujeitos econômicos. Para a empresa, a taxa de lucro é um indicador essencial que determina as suas decisões. Os empreendimentos da economia solidária possuem outros pressupostos e moti vações. Para esses empreendimentos, seria um despropósito teórico e práti co uti lizar indicadores dos quais se servem os capitais em busca do lucro máximo. Texto extraído de Kraychete, G. “Economia popular solidária: indicadores para a sustentabilidade. Porto Alegre, Tomo Editorial, 2012
2 A OIT entende por trabalho decente o trabalho adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, eqüidade e segurança, capaz de garanti r uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho (MTE, 2006).
Os empreendimentos não levitam num espaço vazio, mas localizam-se em determinados territórios. Em que medida estes territórios, como palcos de determinadas relações sociais, restringem ou potencializam as condições necessárias à sustentabilidade dos empreendimentos que neles se situam?
As condições de sustentabilidade dos empreendimentos associati vos nos espaços urbano e rural são bem diferentes. A diferença espacial é a mais imediatamente visível, mas esconde uma diferença maior e mais fundamental, ou seja, a relação entre o trabalho e os meios de produção. Os mecanismos de gestão e as condições de sustentabilidade dos empreendimentos são determinados pela relação de propriedade pré-existente dos trabalhadores com os meios de produção.
Os agricultores familiares, antes de iniciarem uma ati vidade associati va, já exercem um trabalho na condição de proprietários dos meios de produção. Eles já possuem a terra e os instrumentos de trabalho. Ou seja, não existe uma separação prévia entre força de trabalho e meios de produção. Os objetos de trabalho e os meios de trabalho pertencem ao agricultor familiar.
Em geral, as ati vidades que os agricultores familiares realizam de forma associati va não são as ati vidades agrícolas, mas a comercialização ou o benefi ciamento da produção advinda de cada unidade de produção familiar.
Quando os agricultores familiares organizam um empreendimento para a venda coleti va ou para benefi ciamento da sua produção, estas novas ati vidades diferem daquelas que já realizavam com os seus meios de produção individuais. A ati vidade coleti va consti tui-se numa via natural para obterem um ganho maior. Nestas circunstâncias, o empreendimento associati vo consti tui-se numa possibilidade real de melhoria do nível de renda dos agricultores familiares. Ou seja, eles encontram moti vos para a cooperação mesmo quando buscam o auto-interesse3 . Se nada mais funcionar, eles têm a opção de retomarem a forma tradicional em que se inseriam no mercado, nem que seja vendendo para o atravessador local.
Esta situação é bem diferente daquela que caracteriza a organização de empreendimentos associati vos nos espaços urbanos. Neste caso, a obtenção de resultados positi vos adquire uma urgência bem mais intensa para os associados,
3 Com o risco de reafi rmar o óbvio, convém insisti r que não se trata de idealizar os empreendimentos da economia popular solidária como se fossem regidos por valores e práti cas assentados exclusivamente em relações de solidariedade, e que estas se consti tuiriam na moti vação determinante dos seus integrantes para a organização e gestão destes empreendimentos. Os seres humanos não são movidos apenas por necessidades, mas também por desejos. E podem encontrar moti vos para a cooperação, mesmo quando buscam o auto-interesse. A suposição restrita e simplifi cadora de que os empreendimentos da economia popular solidária assentam-se num único princípio moti vador e organizador gera a ilusão sedutora de aparentes soluções perfeitas, mas frustrantes, transformando paisagens socialmente vivas e factí veis em miragens. Além disso, como observam ASSMANN e SUNG (2000, p.158) “Quando se busca a ‘solidariedade perfeita’, ou ‘soluções defi niti vas’, impõe-se sobre as pessoas e grupos sociais um fardo pesado demais para se carregar”. 85
86
sobretudo quando os mesmos não possuem outra fonte de renda. Diferentemente dos agricultores familiares, os trabalhadores urbanos quando se propõem a organizar um empreendimento associati vo não possuem nenhum meio de produção anterior. Contam apenas com a sua força de trabalho.
Nos espaços urbanos, as pessoas que integram os empreendimentos associati vos não são as que possuem um emprego regular assalariado, mas aquelas que, em geral, estão desempregadas ou ti ram o seu sustento das ati vidades realizadas de forma individual ou familiar4. Não possuem a cultura do trabalho associati vo. A referência do “bom” trabalho que possuem é a do emprego assalariado e a práti ca que vivenciam é a do trabalho por conta própria. Diante das difi culdades inerentes aos empreendimentos associati vos, essas pessoas são atraídas pelas expectati vas de um emprego assalariado, mesmo que precário, desde que proporcione uma regularidade na renda.
Existem, portanto, fortes razões para se analisar as condições de existência da economia dos setores populares5, sobretudo de uma economia popular urbana, se o que se busca é o entendimento e a promoção da sustentabilidade dos empreendimentos associati vos. São milhões de pessoas que ganham o seu sustento através do trabalho realizado de forma individual ou familiar e que nunca ti veram um emprego regular assalariado.
Desenvolvimento local e sustentabilidade da economia solidária: uma ambiência necessária
Neste passo, podemos formular a seguinte questão: como equacionar a relação entre desenvolvimento local e economia solidária? Em geral, esta relação é colocada nos seguintes termos: como os empreendimentos da economia solidária podem promover o desenvolvimento local?
Os empreendimentos da economia solidária apresentam uma escala de produção reduzida e concentrada em poucas ati vidades (agropecuária, extrati vismo, pesca, alimentos e bebidas e produção de artesanato). As condições de investi mento e produção são bastante adversas. Os empreendimentos não dispõem de crédito, os recursos para iniciar a ati vidade provêm, sobretudo, dos próprios associados e de doações. Boa parte dos empreendimentos funciona em locais emprestados. São problemas que não se resolvem apenas a parti r do desejo dos trabalhadores em produzirem de forma associada . Nestas circunstâncias, quais as condições destes empreendimentos promoverem um processo de desenvolvimento local?
Nas condições atuais, parece que seria mais apropriado subverter os termos da relação entre desenvolvimento local e empreendimentos econômicos solidários,
4 É bom lembrar, também, que os clientes dos Bancos Comunitários são pessoas que realizam ati vidades de forma individual ou familiar. 5 Para mais detalhes, ver KRAYCHETE, G. Economia dos setores populares e economia solidária: uma abordagem conceitual para políti cas públicas. Disponível em <www.ucsal.br/itcpucsal.br>.
ou seja: a sustentabilidade dos empreendimentos da economia popular solidária pressupõe um processo de desenvolvimento que conjugue, com esta economia, a promoção de outros direitos fundamentais. A sustentabilidade não se reduz aos aspectos econômicos, mas envolve o acesso a direitos: financiamento adequado; assistência técnica continuada e apropriada; legislação pertinente, etc.
A sustentabilidade dos empreendimentos da economia solidária pressupõe uma ambiência que remova as principais fontes de privação que envolvem as condições de existência desses empreendimentos. Essas privações não se reduzem aos aspectos econômicos, mas revelam-se nas (im)possibilidades de escolha, de oportunidades e opções, ou seja, nos direitos que podem ser efetivamente exercidos pelos integrantes dessa economia.
É insuficiente pensar, isoladamente, a sustentabilidade de cada empreendimento, como se a resolução de problemas particulares de cada um resultasse na sustentabilidade do todo. É necessário que haja uma ambiência que contribua para a sustentabilidade do conjunto.
Certamente, nada substitui a necessidade dos trabalhadores associados saberem tocar e gerir os seus empreendimentos. Mas a sustentabilidade dos empreendimentos associativos, entendida como a capacidade de ampliarem continuamente o alcance de suas práticas , requer ações convergentes e complementares de múltiplas instituições e iniciativas nos campos econômico, tributário, social, jurídico e tecnológico.
Entendida desta forma, a sustentabilidade dos empreendimentos da economia popular solidária não é uma questão técnica ou estritamente econômica, mas, essencialmente, política. O que está em jogo não são iniciativas pontuais, localizadas, compensatórias, dependentes de recursos residuais ou da benevolência empresarial, tida como socialmente responsável, mas ações políticas comprometidas com um processo de transformação social.
Referências
ASSMANN, H. e SUNG, J.M. Competência e sensibilidade solidária. Educar para a esperança.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. BRAUDEL, F. O tempo do mundo. São Paulo: Martins Fontes, 1996. KRAYCHETE,G. A produção de mercadorias por não mercadorias. Bahia Análise & Dados, Salvador, v.1, p. Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, 2001. KRAYCHETE, G. e CARVALHO, P. Economia popular solidária: indicadores para a sustentabilidade. Porto Alegre, Tomo Editorial, 2012. SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Sistema nacional de informações em economia solidária. Relatório Nacional 2005. Disponível em: <http// www.mte.gov.br>. __________. Agenda nacional do trabalho decente. Brasília, 2006. Disponível em http://www. oitbrasil.org.br>. Acesso em: 30/09/2010. 87