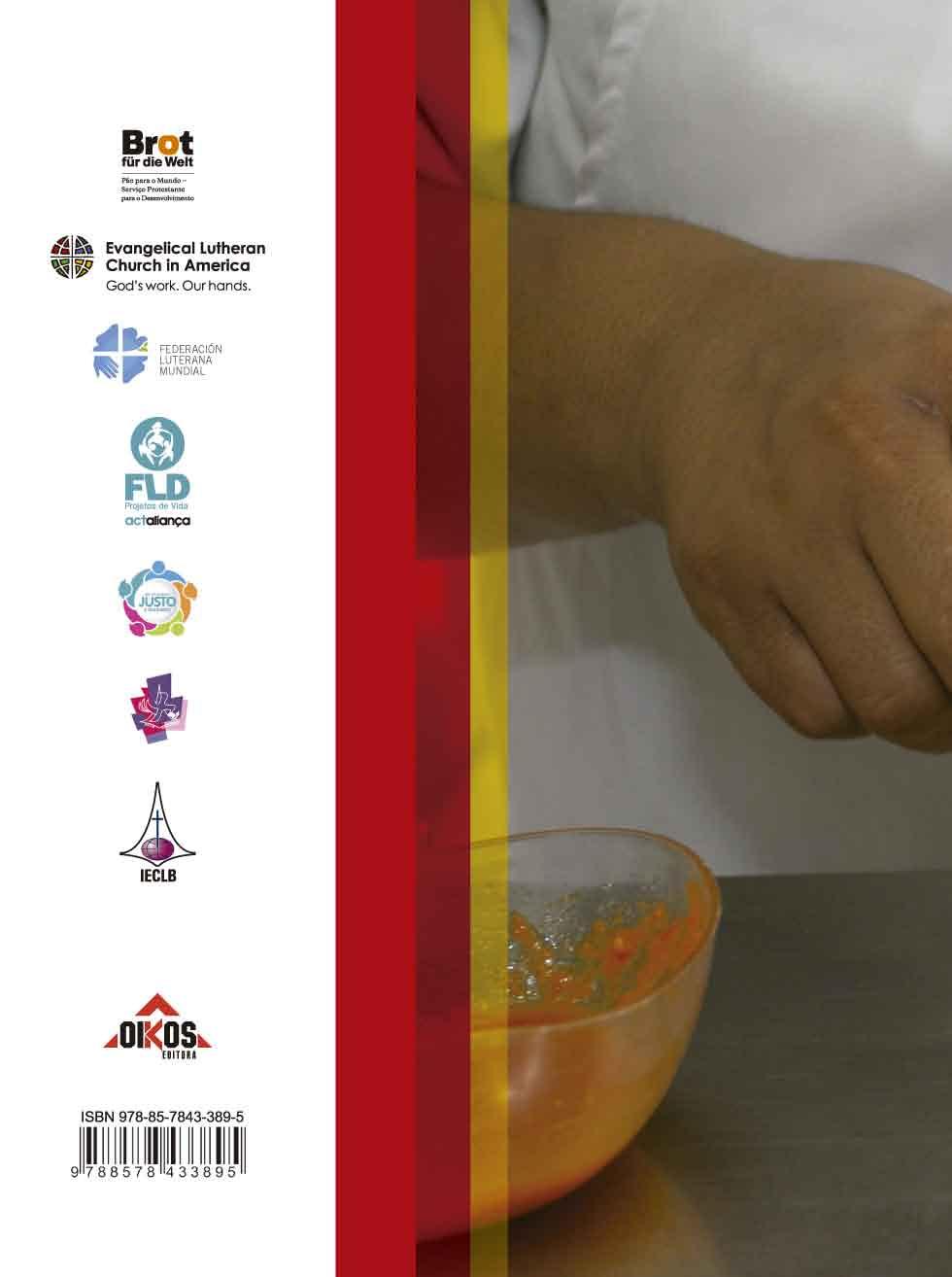19 minute read
Diaconia, gênero e desenvolvimento: diálogos necessários
from Economia solidária, Diaconia e Desenvolvimento Transformador
by Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB)
60
Márcia Paixão1
Introdução
A tríade Diaconia, Gênero e Desenvolvimento são temáti cas que dialogam entre si a parti r do coti diano e que se entrelaçam conceitualmente no campo religioso. O contexto é o lugar por excelência que entrecruza esses temas e permite que os olhares e os diálogos sobre cada conceito produzam outras refl exões a respeito de nosso fazer-pensar. São três grandezas que serão abordadas nesse arti go como sugestão de ensaio e como convite para pensar nossas práti cas e possíveis ressignifi cações conceituais.
1. Sobre Diaconia
Na teologia luterana a palavra Diaconia tem origem grega (Diakoneo – verbo Diakonein) e signifi ca servir no senti do geral ou ligado ao servir à mesa (tarefa de escravos). No ministério de Jesus, este retoma a palavra para o contexto da fé e lhe dá lugar de destaque. Ele diz, em Lc 22.27, “No meio de vós, eu sou como quem serve”. Em Jo 13 – o clássico lava-pés – Jesus é aquele que serve, fazendo o serviço
1 Professora na Universidade Federal de Santa Maria/USFM. Doutora em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos UNISINOS/RS.
(lavar os pés) que era de escravos e considerado menor, sem valor, mostrando na prática que servir é importante. Com essa atitude, dignifica o servir e desafia as pessoas que têm fé a diaconar, isto é, ter ações em gratidão ao amor de Deus. Isso significa dizer que a fé se manifesta em ações. Esta ação com a outra pessoa visa a auxiliar a outra pessoa a sair de seu lugar de sofrimento. Diaconar envolve o eu e o tu numa relação de igualdade. As ações acontecem na realidade, no cotidiano e com as pessoas, buscando com elas formas de superar a dominação, a opressão, a exclusão. A ação diaconal é cristológica, pois foi o próprio Cristo quem se autodefiniu como servo/diácono e, em seu ministério, igualou Palavra (evangelho/ salvação) e Ação (diaconia – ação da fé diante dos sofrimentos humanos). Assim, Jesus inverteu a lógica de seu tempo que separava as ações da alma e as ações do corpo. Para ele, Palavra e Ação estavam no mesmo nível e não havia hierarquias.
No livro Teologia Prática no contexto da América Latina (1998), Kjell Nordstokke define Diaconia como “ação, a partir da identidade cristã, num contexto de sofrimento e injustiça, com a finalidade de transformar” (p. 271). O conceito aponta para a identidade da ação, para os muitos nomes que a injustiça e o sofrimento têm, e que as pessoas, nessas situações, são o alvo da ação diaconal, com a finalidade de transformar opressão em libertação. A ação diaconal trabalha com corpos que sofrem (os sofrimentos têm muitos nomes), se vincula com as pessoas e busca com elas um modo de dignificar a vida.
No contexto de área teológica, a Diaconia se insere na área de Teologia Prática. Lothar Hoch traz o desconforto histórico que a Teologia Prática encontrou (e encontra) para ter lugar como disciplina teológica. Em seu texto, destaca que
a tarefa primeira da Teologia Prática consiste, por isso mesmo, em encontrar seu lugar específico, desde o qual possa dar a sua contribuição própria tanto à teologia como à Igreja e, muito especialmente, aos desafios que a sociedade, no nosso caso a sociedade latino-americana, lhe colocam” (HOCH, 1998, p. 26).
Historicamente há reservas quanto à Diaconia (enquanto ação de toda pessoa que crê e enquanto Ministério ordenado na IECLB. Há quatro ministérios ordenados na IECLB, a saber: diaconal, catequético, pastoral e missionário). Enquanto práxis da Igreja (individual e coletiva) encontra muitas resistências em seu próprio contexto, pois ainda há pensamentos hierárquicos (explícitos e velados) acerca de quais serviços são os mais importantes no seio da Igreja. Práxis é um conceito que engloba ação-reflexão-ação e que inclui simultaneamente o fazer e o pensar com o intuito de intervir sobre situações sociais e promover libertação\ transformação. Pode-se dizer que a ação de Jesus foi práxis, foi diaconia.
Ainda vivemos o clássico dualismo helênico espírito x corpo. Com isso, fugimos da realidade concreta, do cotidiano. Falamos dela (enquanto igreja), mas não vamos ao seu encontro (ou vamos muito pouco) para ouvir suas experiências e os relatos de suas dores e ver como é possível reinventar a realidade. Dessa forma, a teologia tende a ser uma teologia das ideias, da razão e que pouco se relaciona com 61
62
os corpos que sofrem. Dizer algo para um contexto ou pessoas que sofrem exige presença no coti diano e ouvir as dores. Só assim será possível oferecer
sinais concretos – corporais – da presença e do carinho de Deus. Exatamente como fez Jesus em sua atuação em favor dos enfermos, dos marginalizados e dos abati dos. Por esses sinais, anuncia-se de maneira palpável um novo mundo possível. São sinais proféti cos. A diaconia do Reino é essencialmente proféti ca” (GAMELEIRA,1996, p. 53).
Seguindo a argumentação, Sebasti ão Gameleira denuncia esse pensamento hierárquico corpo e alma; palavra e ação quando lembra alguns ensinamentos que ainda permanecem:
Somos educados/as sob o peso da ideia, e mais ainda, do senti mento de que a matéria é inferior, desprezível e má. Fonte de pecado importa o espírito, a ideia. O trabalho, por isso, é coisa de escravo, é negócio, negação do ócio, este, condição própria de homens superiores, chamados, não a trabalharem a materialidade do mundo, mas contemplarem-na para dela se afastarem sempre mais. A contemplação deve arrancar da matéria a ideia que aí jaz prisioneira (GAMELEIRA,1996, p. 49).
A parti r desse rápido recorte, é possível entender o lugar que a ação e a experiência têm no campo teológico. O diaconar ainda é visto como um serviço menor, ligado ao corpo, ao coti diano, portanto secundário e seu lugar é o espaço privado. A parti r daí, entende-se seu lugar subalterno e a suti l exclusão que a ação, que o coti diano, que a experiência enfrentam nesse campo2 .
Superar as hierarquias dominadoras entre palavra e ação nos dias atuais ainda é um grande desafi o para a teologia e para a práti ca pessoal e comunitária. Pensar Diaconia enquanto Práxis, que une o fazer (ação) e o pensar (teoria) com vistas à transformação de situações injustas e opressoras em situações de igualdade e vida digna, é cumprir com os ensinamentos de Jesus (sua práti ca e sua teoria) conti dos no Evangelho.
Sobre gênero
Não existe um acordo defi niti vo sobre o conceito “gênero”. A sua uti lização é recente, e o feminismo foi o movimento que abriu espaço para uti lizar o conceito e desenvolver estudos, refl exões e teorias dos sistemas de gênero. Nesse senti do, trazer a perspecti va da teoria feminista para o contexto da análise da exclusão, em geral, e das mulheres, em específi co, é questão que considero fundamental para entender as relações de gênero.
Um aspecto que Ivone Gebara (2000) destaca no conceito de gênero diz respeito à
diferença. A autora salienta que há uma infinidade de diferenças: entre homens e mulheres, entre homens e homens, entre mulheres e mulheres. Além disso, há outros cruzamentos que delimitam a singularidade das pessoas, tais como: idade, cultura, religião, etnia, etc. Essas diferenças e esses cruzamentos são questões fundamentais na análise de gênero defendida por Gebara, pois para mudar situações marcadas pela injustiça é necessário compreender as contradições e os antagonismos que marcam as relações sociais. Para Gebara, o conceito de gênero não é só um instrumento de análise, mas também um “instrumento de autoconstrução feminina e de tentativa de construção de relações sociais mais fundadas na justiça e na igualdade, a partir do respeito à diferença” (GEBARA, 2000, p. 105). Dessa forma, o objetivo de refletir sobre gênero é trazer para o centro da reflexão esta categoria tão pouco utilizada (na teologia, na educação) no intuito de mostrar como as relações entre homens e mulheres funcionam para manter a “ordem social” e vislumbrar mudanças significativas.
Na sequência, Maria Carmelita de Freitas traz informações sobre a utilização do conceito gênero nas ciências sociais que datam de 1955 e, posteriormente, 1968. Lembra que foi o pesquisador John Money quem propôs a utilização do termo para definir os gêneros, o “papel de gênero” com intencionalidade explicativa.
Em 1968, o psicólogo americano Robert Stoler estabeleceu mais nitidamente a diferença de conceitos entre sexo e gênero, quando fez pesquisa com meninos e meninas, educados de acordo com um sexo que, por problemas anatômicos, não era o seu (FREITAS, 2003, p. 16-17).
As feministas reconhecem que as reflexões avançaram nas últimas décadas a respeito dos conceitos de gênero e sexo. Feministas de várias áreas sinalizam para a dimensão da construção social e cultural para o conceito de gênero e que este é um produto aprendido e ensinado de geração em geração.
Na concepção de Joan Scott, utilizar o termo gênero é uma tentativa das feministas contemporâneas de reivindicar definições que auxiliassem na reflexão acerca das inadequações das teorias existentes, que tentavam explicar as desigualdades entre homens e mulheres. Nessa linha de pensamento, Scott define gênero como
uma maneira de indicar “construções sociais” – a criação inteiramente social de ideias sobre papéis adequadamente aos homens e às mulheres (p. 7) [...] e o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é um primeiro modo de dar significado às relações de poder (SCOTT, 1990, p. 7 e14).
No entendimento de Scott (1990), gênero é um elemento das relações sociais de poder e é composto de quatro elementos que atuam juntos, mas não são necessariamente simultâneos. São eles: símbolos, conceitos normativos, noção política e identidade subjetiva. Dessa forma, trazer a reflexão sobre gênero
fará emergir uma história que oferecerá novas perspectivas a velhas questões [...] esta nova história abrirá possibilidades para a reflexão sobre as estratégias políticas 63
64
atuais e o futuro (utópico), pois ela sugere que o gênero deve ser redefi nido e reestruturado em conjunção com uma visão de igualdade políti ca e social que inclui não somente o sexo, mas também a classe e a raça (SCOTT, 1990, p. 19).
Esses elementos que Scott destaca são pontos de parti da na ampla refl exão das categorias da temáti ca gênero. A contribuição desta categoria é que ela amplia a visão de análise e mostra que as exclusões acontecem pela via do poder e vêm, muitas vezes, mascaradas e suti s para o campo social. Se não olharmos a realidade e os fatos sociais a parti r da perspecti va de gênero, não enxergamos essas exclusões. Portanto, conhecer os instrumentais de gênero e ter espaços de aprendizagens são elementos estratégicos de igualdade políti ca e social que as mulheres ainda precisam aprender, conhecer e ressignifi car.
A propósito, Elizabete Bicalho (2003), ao refl eti r sobre a categoria gênero, aprofunda o debate quando explicita que o leque de estudo de gênero se dá pela via da interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento. A parti r desse diálogo, a categoria gênero chama para a análise a situação feminina e masculina na sua dimensão relacional social, que estabelece o modo de ser feminino e masculino e que traz engendrada a hierarquia e o poder nas construções sociais e culturais. Bicalho destaca que a uti lização da categoria gênero desconstrói as construções históricas que discriminaram e hierarquizaram as relações entre homens e mulheres por gênero, classe e raça. Além disso, gênero abre o debate para além do conceito dominação/subordinação “como o único terreno de confronto. A atuação feminina nas relações de poder é sublinhada na análise de gênero” (BICALHO, 2003, p. 48). De mãos dadas com o poder, temos as questões do público e do privado que não podem ser esquecidas na análise. Bicalho explica que
como proposta metodológica, a categoria gênero estuda o privado e o público a parti r de uma visão dialéti ca; público versus privado não é o enfoque aceito, mas privado e público como uma unidade capaz de resolver a análise da contradição da vida feminina, historicamente colocada entre esses dois mundos sociais. O privado também se consti tui como esfera políti ca, em que emergem diversas formas de relações de poder (BICALHO, 2003, p. 48-49).
Nessas afi rmações que pontuam dados específi cos das relações sociais, percebe-se que práti cas de exclusão são implantadas, sustentadas e vivenciadas em diferentes campos de formas explícitas e suti s. Ao abordar a categoria gênero na análise da exclusão nos diferentes espaços, fi ca evidente que esta acontece. A categoria “classe” ainda permanece como a mais importante chave de análise das exclusões. Vista apenas por esse específi co, as demais exclusões não aparecem, não são nomeadas e fi cam invisíveis, embora estejam presentes nos campos3 .
A Teologia Feminista explicita que seu ponto de parti da é a experiência das mulheres (incluindo as experiências de fé) e insiste que o específi co, o parti cular, seja reconhecido no intuito de estabelecer outras conexões superando o sexismo, o racismo e a dominação dos corpos. O instrumental de gênero, junto com classe e raça, é uti lizado para avaliar como os papéis sociais são atribuídos aos homens e às mulheres e de como são construídos. Nesse senti do, é inevitável dialogar com as relações de poder que determinam lugares, possibilidades, padrões de comportamentos (que são aceitáveis ou não) e que limitam e cerceiam as possibilidades de homens e mulheres (DEIFELT, 2008).4
A teoria e a teologia feministas defendem o compromisso com a igualdade de direitos, com o respeito, com a justi ça e a erradicação da discriminação, da dominação, da violência e da opressão. Isso tudo num movimento circular, possibilitando um ensaio de novas maneiras de relações de gênero. Nesse senti do, os homens também precisam se repensar e ter espaços para refl eti r sobre relações de gênero e masculinidade.
O compromisso com e pela igualdade entre os gêneros levou a Teologia Feminista a uma metodologia da desconstrução e reconstrução. Wanda Deifelt explica que “para desconstruir, é necessária uma revisão das estruturas simbólicas que se perpetuam e mantêm relações assimétricas de poder. Para reconstruir, é necessário elaborar concepções e práti cas alternati vas do fazer teológico” (DEIFELT, 2008, p. 15). Esses movimentos mostram a possibilidade de modos alternati vos que incenti vam a solidariedade, a amizade e a reciprocidade nas relações humanas. A aplicação dessa metodologia almeja relações de inclusão das pessoas excluídas – especialmente as mulheres, mas não exclusivamente – num exercício de cidadania plena em todos os campos (DEIFELT, 2008).
A parti r dessas rápidas pinceladas, percebe-se a vinculação entre diaconia e gênero em seu aspecto teórico-práti co e quanto aos desafi os que o tema traz para a práxis da Igreja. Ressignifi car o conceito de serviço enquanto dominação e subserviência e restrito apenas às mulheres e trazer a perspecti va de práxis – fazer é pensar – é um desafi o para toda a comunidade cristã ainda hoje. Nesse senti do, essa refl exão quer auxiliar a superação das discriminações a respeito da ação diaconal enquanto ação menor ou de servidão, e que as questões de gênero são categorias importantes no fazer-pensar da Igreja.
Em conti nuidade, seguimos a refl exão em torno do conceito de desenvolvimento em diálogo com esses dois temas.
Sobre Desenvolvimento
O conceito desenvolvimento entrou com mais força nas rodas de conversas dos diferentes campos nas últi mas décadas. As refl exões em torno de outro mundo possível para todas as pessoas, que acompanha os debates do Fórum Social 65
66
Mundial, têm mobilizado as diferentes áreas do conhecimento e os movimentos sociais a aprofundar as implicações desse conceito na vida das pessoas.
A parti r dos pontos anteriores, fi co inclinada a dizer que a perspecti va do conceito de desenvolvimento e o conceito de diaconia são, apenas, divisões didáti cas da mesma moeda. Nesse senti do, penso que é possível dizer que diaconia é o conceito teológico para o campo religioso e, desenvolvimento, é o conceito secular da igreja para o campo social. A parti r de seu mandato bíblico, o desenvolvimento se irmana com muitas iniciati vas solidárias do campo social e que também se ocupam com a vida digna para todas as pessoas. Pode-se dizer que Igreja e sociedade civil, a parti r de pontos e moti vações diferentes, buscam o protagonismo e o bem-estar para as pessoas através de ações conjuntas.
Apoio-me nessa ideia a parti r da posição de EED (Serviço das Igrejas para o Desenvolvimento, Alemanha – atualmente Pão para o Mundo) quanto ao seu conceito de desenvolvimento. Em seu site ofi cial5, o EED defi ne sua orientação para a ação práti ca a parti r do entendimento de que o mandato bíblico é que os impulsiona para o testemunho público. Entendem que trabalhar para uma vida justa, pacífi ca e com respeito em todos os níveis compreende a ação de desenvolvimento no mundo, nas diferentes culturas e nas sociedades. Esse desenvolvimento compreende um processo de libertação da fome, da pobreza, das doenças, das estruturas de poder injustas que atentam contra os povos em sua dignidade, em seus recursos naturais e em seus direitos. EED se coloca enquanto insti tuição social e ecumênica e que age local e globalmente respeitando as culturas e as outras religiões. Sente-se comprometi do com o diálogo e com a cooperação com outras religiões e organismos sociais.
A parti r dessa perspecti va, essa insti tuição investe em ações de cooperação internacional, pois entende que isso é uma das formas de testemunhar a fé num contexto de sofrimentos e injusti ças visando alternati vas possíveis de mudança de vida em diferentes contextos. Entendem que, em parcerias, é possível estabelecer as mudanças para a dignidade humana nesse mundo.
Em semelhança, muitas enti dades da sociedade civil organizada, universidades e grupos têm se ocupado em pensar e arti cular alternati vas para o desenvolvimento sustentável em todos os níveis. Ivo Lesbaupin (2010) traz a perspecti va de que é necessário romper com a lógica produti vista-consumista presente na ideia de desenvolvimento social. Nesse senti do, é necessário superar o modelo econômico vigente. Esse autor traz a perspecti va da economia solidária e ecológica como formas de viver em sociedade. O viver bem é possível sem o esgotamento dos recursos naturais, mas produzindo aquilo que é necessário. O autor enfoca a questão da vida e não o consumismo que explora.
Nesse senti do, é necessário rever o conceito de desenvolvimento vigente
como adverte Lesbaupin6:
Precisamos pensar outra concepção de desenvolvimento, centrado na sati sfação dessas necessidades. Desenvolvimento não é sinônimo de crescimento econômico, como afi rma a teoria econômica dominante, difundida pela grande mídia. Desenvolvimento não é sinônimo de produti vismo-consumismo. Desenvolvimento é desdobrar as potencialidades existentes nas pessoas e na sociedade para que tenham vida e possam viver bem (LESBAUPIN, 2010, p.2).
Garanti r a proteção social, isto é, alimentação, educação, lazer, trabalho e emprego, saúde, habitação, segurança, cultura implica perguntar em como essas coisas vão acontecer para todas as pessoas de uma forma em que economia e vida digna caminhem juntas. A resposta é bastante complexa e requer rever o conceito de desenvolvimento. Lesbaupin enfati za este aspecto quando diz que “Não basta fazer coleta seleti va de lixo, evitar o desperdício de água, substi tuir os carros a gasolina por carros elétricos. Na verdade, o que é preciso mudar, para interromper a destruição do planeta, é o ti po de desenvolvimento... (LESBAUPIN, 2010, p.2)”.
Percebe-se, a parti r dessa refl exão, que é necessário reconceituar o entendimento e a práti ca de desenvolvimento. Muitas autoras e autores têm trazido a experiência de grupos que estão vivenciado esse outro conceito de desenvolvimento humano em seus contextos a parti r da reconceituação do conceito atual. Lesbaupin desafi a dizendo que
Queremos um desenvolvimento que nos dê vida, e não produtos. Temos de produzir aquilo que precisamos, não aquilo que as empresas querem que consumamos para atender à sua ganância por lucro. Não precisamos de um celular novo por ano, de uma televisão a cada Copa do Mundo, de mais ruas, avenidas e viadutos para garanti r a venda de mais carros. Não precisamos de máquinas de lavar, que quebram depois de um ano, ou computadores, que fi cam obsoletos depois de alguns meses. Tudo aquilo que precisamos pode ser feito de modo a ter longa duração, a poder ser aperfeiçoado sem ser trocado, a ser consertado em vez de eliminado. Precisamos de reengenharia, sim, mas para que nossas indústrias dediquem-se a uti lizar o que já existe para produzir coisas novas e úteis. Não precisamos de propaganda para nos convencer a comprar um novo produto, muitas vezes supérfl uo. Aquilo de que precisamos não supõe propaganda: basta a informação sobre sua fi nalidade e as substâncias que contêm. Com isso, saberemos decidir por nós mesmos qual dos produtos nos convém. Sim, é verdade: “outro mundo é possível” – e ele será melhor que o atual (LESBAUPIN, 2010, p.3).
Para dar conta dessa reconceituação e colocá-la em práti ca, serão necessárias muitas parcerias em todos os níveis. A tarefa não é nada fácil e exige muitas e di-
6 Por uma nova concepção de desenvolvimento – Ivo Lesbaupin. Disponível em http://www.abong.org.br/noticias. php?id=2436 Acesso em 01-07-12 67
68
ferentes articulações em todos os campos. O novo conceito de desenvolvimento necessita também levar em consideração em suas análises as questões de gênero e de etnia ao lado das questões de classe, tão bem abordadas pelos autores em seus textos. Gênero, classe e etnia são categorias de análise que precisam sempre caminhar juntas quando se pensa e se articula vida digna.
Não tenho a pretensão de esgotar a reflexão acerca das questões que englobam diaconia, gênero e desenvolvimento. Ao abordar cada uma em separado, percebo sua vinculação e o ponto que as une: a vida digna para mulheres e homens. Dessa forma, essas três grandezas são complementares na medida em que, a partir de seus lugares específicos, buscam o bem viver de todas as dimensões da vida para mulheres e homens (desde a criança até a pessoa adulta) que vivem nesse mundo.
O texto é um convite à reflexão. Encerro o texto, mas não o assunto.
Referências
BICALHO, Elisabete. Correntes feministas e abordagens de gênero. In: SOTER (org). São Paulo:
Paulinas/Loyola, 2003, p. 37-50. DEIFELT, Wanda. Da cruz à árvore da vida: epistemologia, violência e sexualidade. In: NEUEN-
FELDT, Elaine; BERGESCH, Karen; PARLOW, Mara. Epistemologia, violência e sexualidade: olhares do II Congresso Latino-Americano de Gênero e Religião. São Leopoldo: Sinodal/
EST, 2008. p. 13-30. ______. Temas e metodologias da Teologia Feminista. In: Gênero e Teologia. Interpelações e perspectivas. SOTER (Org). São Paulo: Paulinas/Loyola, 2003. p. 171-186. EED– disponível em www.eed.de/de/de.eed/de.eed.eed/de.eed.eed.basics/index.html Acesso em 01-07-12 FREITAS, Maria Carmelita de. Gênero/Teologia Feminista: interpelações e perspectivas para a teologia – Relevância do tema. In: SOTER (org). São Paulo: Paulinas/ Loyola, 2003. p. 13-33 HOCH, Lothar. O Lugar da Teologia Prática como disciplina teológica. In: SCHNEIDER-HARPPRE-
CHT, Cristoph (Org). Teologia Prática no contexto da América Latina. São Leopoldo: Sinodal.
São Paulo: ASTE, 1998. p. 21-35. GEBARA, Ivone. Rompendo o Silêncio. Uma fenomenologia feminista do mal. 2. ed. Petrópolis:
Vozes, 2000. LESBAUPIN, Ivo. Por uma nova concepção de desenvolvimento. Disponível em http://www. abong.org.br/noticias.php?id=2436 Acesso em 01-07-12 NORDSTOKKE, Kjell. Diaconia. In: SCHNEIDER-HARPPRECHT, Cristoph (Org.). Teologia Prática no contexto da América Latina. São Leopoldo: Sinodal; São Paulo: ASTE, 1998. p. 268-290. PAIXÃO, Márcia E. L. da. A experiência educativa da Extensão na Faculdades EST analisada sob a perspectiva da hermenêutica feminista. Tese (doutorado) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Programa de Pós-Graduação em Educação. São Leopoldo, RS, 2011. SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Revista Educação e Realidade, v. 16, n. 2, jul./dez. 1990 SOARES, Sebastião A. Gameleira. Evangelização e Diaconia. In: Cidadania e Diaconia. CESE
Debate, n. 5, ano VI, jul. 1996.