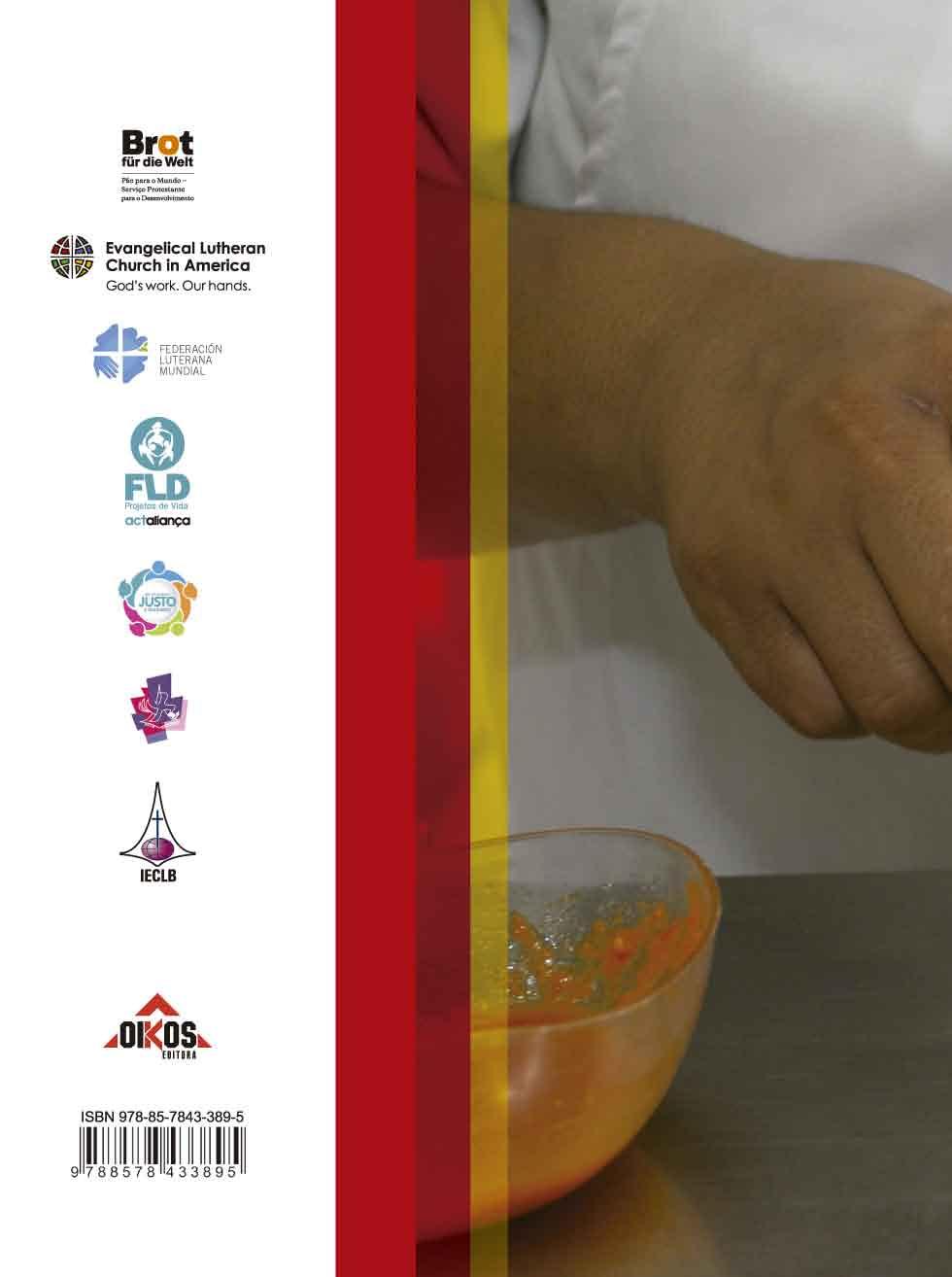24 minute read
Economia solidária e desenvolvimento
from Economia solidária, Diaconia e Desenvolvimento Transformador
by Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB)
Carlos Schmidt1 Angelique J. W. M. van Zeeland2
Introdução
Em primeiro lugar, é necessário estabelecer o que entendemos por desenvolvimento econômico. Historicamente, a visão tradicional da economia consolidou a ideia de desenvolvimento identi fi cado como crescimento econômico, ou seja, o aumento da produção e das forças produti vas, independente das condições necessárias para isso acontecer. Para nós, desenvolvimento econômico signifi ca a melhoria das condições de vida da população. Isto se traduz em mais saúde, educação, saneamento, moradia e, sobretudo, mais democracia, que é a condição de realização de todos os elementos antes citados. Sem empoderamento da população, as políti cas que estão na base do bem-estar não se sustentam. Obviamente, hoje está cada vez mais comprovado cienti fi camente que sem preservação e restauração do ambiente é impossível o bem estar e até mesmo a sobrevivência humana. Este aspecto é, portanto, transversal a todos os demais.
Uma discussão que não vamos realizar com profundidade no âmbito deste arti go é se o sistema socioeconômico capitalista é compatí vel com o desenvol-
1 Professor aposentado da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS. Doutor em Socioeconomia do Desenvolvimento pela École des Hautes Études em Sciences Sociales. 2 Assessora de Projetos da FLD. Doutoranda em Economia e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS. 69
70
vimento tal como o caracterizamos acima. Sua lógica de funcionamento, com todos seus efeitos de instabilidade, de concentração da riqueza e da renda, sua dinâmica, por mais que se tente regulá-la, implicam sempre na desagregação das condições de vida das maiorias e em regressão dos patamares de civilização alcançados. A julgar pelo longo período em que identificamos esse sistema presente na história, podemos observar que, com exceção dos 30 anos que se seguiram após a 2ª Guerra Mundial, quando houve algum espaço para o estado de bem-estar social, o sistema capitalista se caracterizou pela instabilidade, pela regressão de conquistas anteriores e, sobretudo, por muita violência.
Isto posto, mesmo dentro do sistema capitalista tem surgido movimentos e práticas econômicas que em certos aspectos contrariam a lógica do capital, pilar sustentador do capitalismo. Entre elas está a economia solidária que, ainda sendo fruto das contradições do capital, se desenvolve dentro do sistema capitalista de forma alternativa à lógica do capital. Mesmo assim, intercambiando com o capital, submetida ao mercado, portanto à concorrência, e em geral com relações assimétricas com as empresas capitalistas.
A questão que nos ocupa neste artigo é demonstrar que a economia solidária, pela sua dinâmica própria, tem um viés que favorece a economia real, distribui renda e riqueza (fluxo e estoque) e tem criado uma identidade associada à preservação ambiental. Desta forma, se encaixa na noção de desenvolvimento que mencionamos anteriormente.
Nossa demonstração começa pela discussão da viabilidade econômica da economia solidária. Em seguida vamos verificar que, pelas pesquisas realizadas, e por razões lógicas, a economia solidária tem um comportamento microeconômico que, se agregado, favorece à economia produtiva. Assim sendo, propugnamos uma política de estado afirmativa para a economia solidária, em relação a qual parece existir um grande acordo, inclusive com os governos no período de 2003 a 2014. Finalmente, vamos analisar, a partir de algumas experiências, a política atual em relação à economia solidária para verificar se está efetivamente de acordo com o discurso de apoio a ela.
A economia solidária não é um sonho romântico
As energias mobilizadas pelos agentes econômicos (os/as trabalhadores/as) na economia solidária não se restringem aos comportamentos pensados pela economia standard. Nem o modelo do homem econômico, maximizador, que idealizavam os pensadores neoclássicos, nem as variantes da teoria dos jogos, como o dilema dos prisioneiros, esgotam as motivações de um/a trabalhador/a da economia solidária. O elemento central da economia solidária é a autogestão. É através dela que passa a justiça distributiva no empreendimento, assim como a definição dos seus rumos. Assim, se o interesse individual de cada trabalhador existe, ele está
intimamente ligado ao interesse coletivo e à cooperação. É um tipo de cooperação que exige que o agente disponha-se à priori “se doar”, no sentido de mobilizar suas capacidades permanentemente sem pensar no retorno imediato. Este tipo de comportamento está associado ao registro da dádiva e reciprocidade, à empatia criada pela pertinência a um grupo que se constrói com objetivos comuns, diferente, por exemplo, do mercado, onde cada indivíduo procura maximizar sua utilidade.
O tema dos comportamentos não utilitários tem sido trabalhado por pesquisadores que se aglutinam em torno da revista MAUSS, cujo nome, além de ser uma homenagem a Marcel Mauss, etnólogo e sociólogo francês, é a sigla em francês de Ação Antiutilitária em Ciências Sociais. Este grupo – que tem como mais conhecido pensador Alain Caillé – mobiliza vários campos da ciência (etnologia, neurociências, etc.) para mostrar que existem comportamentos humanos relacionados com os bens materiais que não são pautados pelo utilitarismo. Fica aberta, desta maneira, a possibilidade de se desenvolver uma outra economia que encontra suporte, do ponto de vista comportamental, em ações baseadas na cooperação, dádiva, reciprocidade, comunicação e respeito a expressões dos outros. O desenvolvimento da economia solidária, quando encontra um ambiente adequado, tem demonstrado esta possibilidade.
Base microeconômica para uma macroeconomia produtiva
Na economia capitalista, a acumulação individual do capital pelos agentes econômicos é a regra geral. Cada agente busca nas suas aplicações a máxima taxa de retorno e também liquidez, isto é, dinheiro. No período em que vivemos, com a redução da demanda provocada pelo empobrecimento relativo dos assalariados, boa parte da poupança é encaminhada para aplicações financeiras de caráter especulativo.
Já na economia solidária, os agentes (trabalhadores/as associados/as) têm como prioridade a preservação do seu instrumento de trabalho e geração de renda. Por razões objetivas, não lhes é dado a opção de acumulação individual do capital. Desta forma, a parte do excedente gerado que é apropriado pela empresa tem dois destinos: ou é reinvestido, ou é distribuído entre os/as trabalhadores/as na forma de sobras que, por sua vez, é majoritariamente consumido. Assim, ambos o investimento e o consumo caem no circuito da economia real produtiva. Esta dinâmica, tanto do ponto de vista lógico e teórico quanto empírico, é muito bem descrita no livro de Dal Ri e Vieitez sobre trabalho associado (DAL RI, VIEITEZ, 2001).
Pelo visto anteriormente, a economia solidária mobiliza as energias e criatividade dos/as trabalhadores/as, portanto tende a melhorar a produtividade e qualidade dos produtos. Pela sua natureza, distribui renda e democratiza a propriedade, ambos movimentos em grande parte resultado da autogestão, e concretamente tem buscado práticas ambientais corretas. Como exemplo, temos 71
72
a cadeia do algodão ecológico e a cadeia do plástico PET. Um setor da economia que tem estas potencialidades não deveria ter o apoio decidido do estado?
Análise dos empreendimentos da economia solidária
No ano de 2004 a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) implantou o Sistema Nacional de Informações de Economia Solidária (SIES). No período de 2005 a 2007 foi realizado o primeiro mapeamento de economia solidária, na qual foram identificados 21.859 empreendimentos econômicos solidários (EES), nos quais participavam 1.683.693 pessoas. No período de 2010 a 2012 foi realizado o segundo mapeamento, no qual 11.663 novos EES foram identificados, além destes foram revisitados os EES do período anterior, dos quais se obteve informações de 8045 EES que continuam atuando dentro dos princípios da economia solidária. Portanto no período de 2010 a 2012 existem dados atualizados referente a 19.708 EES com 1.423.631 sócios.
Em relação à distribuição geográfica dos EES, houve um crescimento na região Norte. No período de 2005 a 2007, 12% do total dos EES eram oriundos da região Norte, no período de 2010 a 2012, esta porcentagem cresceu para 16%, nas regiões Nordeste e Sudeste houve um pequeno decréscimo respectivamente de 43,5% para 41% e de 18% para 16,5%. Porém como pode ser observada a região Nordeste continua sendo a região com maior número de EES. As regiões Sul e Centro Oeste mantiveram as mesmas porcentagens respectivamente 16,5% e 10%. O Gráfico 1 mostra a atual distribuição geográfica.
Distribuição geográfica dos EES por regiões no Brasil
Fonte: SIES/Base Atualizada 2013.
Quanto às formas de organização dos EES observa-se um grande predomínio da associação, no período de 2005-2007, 52% do total dos EES eram organizados na
forma de associação, no período de 2010-2012 a organização associativa aumentou, aproximadamente 60% dos EES são constituídos como associação. As cooperativas se mantiveram estáveis, em ambos os períodos representam em torno de 10%. Os grupos informais são o segundo grupo mais representativa na forma organizativa dos EES, porém entre os dois períodos sua presença diminuiu de 36,5% para 30,5%. Outras formas de organização, como a sociedade mercantil giram em torno de 1% em ambos os períodos. O gráfico 2 mostra os tipos de organizações dos EES.
Tipo de Organização dos EES no Brasil
Fonte: SIES/Base Atualizada 2013.
Nas regiões Sudeste e Sul os grupos informais ocupam o primeiro lugar como tipo de organização dos EES, respectivamente 48,5% e 44% no período de 2010 a 2012, portanto bem acima da média nacional. Na região Nordeste os grupos informais representam somente 21% do total dos EES, nesta região a associação é a forma predominante, representando 74% dos EES. Nas regiões Sudeste e Sul a associação vem em segundo lugar, representando respectivamente 40,5% e 36,5%. A região Sul também se caracteriza pela alta porcentagem de cooperativas, respectivamente 18,5% dos EES são organizados sob a forma de cooperativa, mais que o dobro da média nacional. Em relação à área de atuação constata-se que há uma grande diversidade entre as regiões. No período de 2010 a 2012 aproximadamente 55% do total dos EES atuavam na área rural, 35% na área urbana e 10% em ambos. Porém nas regiões Sudeste e Sul esta relação se inverte, a maioria dos EES atuam na área urbana, respectivamente 61% e 42%. Este fato pode explicar também a predominância, nestas regiões, dos grupos informais, que tem maior presença nas áreas urbanas. Na região Nordeste, onde 74% dos EES são organizados sob a forma de associação, 72% dos EES atuam na área rural. De acordo com o mapeamento no período de 2010 a 2012 há uma predominância dos EES que atuam na área de produção ou produção e comercialização, 73
74
respectivamente 56% dos EES. Em segundo lugar vem o consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios realizados por 20% dos EES no Brasil e 10% dos EES na região Sul. O terceiro lugar é para a atividade de comercialização, atividade principal de 13% dos EES no Brasil e 25% dos EES na região Sul, na região Sul é o segundo tipo de atividade principal mais freqüente. As atividades de prestação de serviços ocupam o quarto lugar como principal atividade realizada pelos EES (7%), seguido por poupança, crédito ou finanças solidárias e troca de produtos ou serviços, ambos com aproximadamente 2%.
A Tabela 1 mostra as áreas de atividade econômica dos EES, com destaque para a indústria de transformação, aonde ao nível nacional as principais atividades são fabricação de farinha de mandioca e derivados e fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico, na região Sul a principal atividade é fabricação de produtos de panificação. Na atividade de comércio se destaca o comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, seguido pelo comércio atacadista de frutas, verduras, raízes e tubérculos e de leite e lacticínios. Na seção de agricultura há destaque para cultivo de feijão e de milho, seguido de horticultura, na região Sul a preparação de leite aparece como principal atividade. A gestão de resíduos abrange a coleta e a triagem de materiais recicláveis e representa 5% ao nível nacional e 11% na região Sul.
Tabela 1 – Tipo de Atividade Econômica dos EES no Brasil e na Região Sul
Atividade Econômica
Indústrias de Transformação
Comércio
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal,
Pesca e Aquicultura
Gestão de Resíduos
Atividades Financeiras
Outras Atividades Fonte: SIES/Base Atualizada 2013.
Brasil
26% 22%
26% 5% 2% 19%
Região Sul
34% 36%
16% 11% 3% -
Em relação à categoria social dos sócios as categorias predominantes são agricultores/as familiares e artesãos, respectivamente 55% e 18%, Trabalhadores/ as autônomos/as vem em terceiro lugar (6%) e em seguido catadores/as de materiais recicláveis (3%). Em relação a esta última categoria há uma diversidade aonde na região Norte esta categoria não aparece, na região Sul os EES formados por catadores/as de materiais recicláveis compõem 5% do total dos EES, sendo uma categoria bem significativa e com importante impacto na prestação de serviços e na preservação ambiental. No gráfico 3 são apresentados os EES segundo a categoria social dos/as sócios/as.
EES segundo categoria social dos sócios
Fonte: SIES/Base Atualizada 2013.
No período de 2010-2012 observa-se um aumento da participação das mulheres nos EES, em relação ao período de 2005-2007, de 37% para 43,5%. As mulheres predominam nos EES menores, os que têm até 20 sócios. Os principais motivos de criação dos EES são complementação da renda, obtenção de maiores ganhos, gestão coletiva e alternativa ao desemprego. Nesta perspectiva se analise os dados referente à renda dos participantes. No mapeamento dos EES no período de 2005 a 2007 59% dos EES declararam que remuneram os/ as sócios/as, 38% tem uma renda média mensal até ½ salário mínimo, 24% recebe entre ½ e 1 salário mínimo, 26% entre 1 e 2 salários mínimos, 10% entre 2 e 5 salários mínimos e somente 2% acima de 5 salários mínimos. Isto demonstra a precariedade no aspecto de gerar renda dos EES, 62% dos sócios dos EES recebem uma renda média mensal até um salário mínimo e 88% dos/as trabalhadores/as na economia solidária ganham até dois salários mínimos. O desafio de gerar uma renda adequada para os sócios é mencionado por 74% dos EES como principal desafio.
Em relação ao resultado econômico dos EES observa-se uma melhoria na região Sul, uma comparação entre o primeiro e o segundo mapeamento, mostra que houve um aumento dos EES que conseguiram pagar todas as despesas e ter uma sobra ou excedente, de 46% para 52%, os EES que conseguiram pagar todas as despesas aumentaram de 27% para 31%, os EES que não conseguiram pagar suas despesas diminuíram de 10% para 7%, para os demais EES este critério não se aplica. Portanto os dados mostram que houve um aumento de 73% para 83% de EES com resultados econômicos positivos.
Outro dado importante para analisar tratando-se da viabilidade econômica e sustentabilidade dos EES é em relação à origem dos recursos e acesso a crédito. O segundo mapeamento na região Sul demonstra que 73% dos EES têm recursos oriundos dos/as próprios/as sócios/as, 29% acessam recursos públicos a fundo perdido, 20% doações e 15% financiamento. Em relação ao crédito, 81% dos EES não buscou crédito, 13% buscou crédito e obteve sucesso, 6% buscou crédito, mas não obteve 75
76
sucesso. (KUYVEN e KAPPES, 2013). Os dados do mapeamento demonstram que os EES dependem em sua grande maioria dos próprios recursos. Somente uma minoria tem acesso a crédito. Em relação ao fomento da economia solidária por políticas públicas e programas governamentais, observe-se que 29% conseguiram acessar recursos públicos. No primeiro mapeamento os EES não declararam ter acesso a recursos públicos. Portanto houve avanços nesta área para a sustentabilidade dos EES.
Os dados sobre gestão dos empreendimentos da região Sul demonstram a dinâmica da gestão democrática e coletiva. Em torno de 50% dos empreendimentos realizam assembléias de sócios com periodicidade de no mínimo uma vez por mês, dentro estes 17% se reúne com freqüência de no mínimo quinzenalmente. Outros 24% dos EES se reúnem pelo menos semestralmente, totalizando 73% dos EES que realizam assembléias de sócios/as com frequência de no mínimo duas vezes ou ano. Entre os tipos de decisões coletivas tomadas por pelo menos 50% dos empreendimentos se encontram prestação de contas, escolha da direção, planejamento estratégico e definições das atividades cotidianas.
A participação sociopolítica é outra característica dos EES. Na região sul, 44% dos EES participam em redes ou fóruns de articulação, a maioria nos fóruns ou redes de economia solidária, em torno de 13% destes participam em conselhos e fóruns de incidência em políticas públicas. Em torno de 41% dos EES da região Sul participa em movimentos sociais, populares ou sindicais e 40% em ação social ou comunitária, principalmente relacionado à área de educação.
A análise dos dados do mapeamento dos EES através do SIES demonstrou que a maioria dos EES é organizada sob a forma de associação e que há um maior grau de formalização dos grupos. Houve também um aumento da participação das mulheres. As características de gestão coletiva e participação sociopolítica dos EES atestam para uma lógica própria dos empreendimentos econômicos solidários. De acordo com Luis Inácio Gaiger (2007) a racionalidade da economia solidária implica a evolução complementar de práticas determinadas por fins sociais e por fins econômicos. Milton Santos (2004) refere a dois circuitos, o circuito superior e o circuito inferior. Cada circuito é definido por um conjunto de atividades, o setor da população que nele participa, a tecnologia usada e a forma de organização. O circuito inferior usa tecnologia intensiva em mão-de-obra, que muitas vezes é criado ou adaptado ao contexto local. A racionalidade econômica é baseada no consumo e na sobrevivência, atendendo as necessidades atuais de pessoas em situação de pobreza, nos termos de consumo e necessidade de trabalho; por isso absorve a mão-de-obra excedente.
Os dados referentes à atividade econômica dos EES afirmam a hipótese colocada no inicio deste artigo, que a economia solidária, pela sua dinâmica própria, favorece a economia real, baseado na produção, principalmente na área de indústrias de transformação e agricultura e comercialização de produtos e serviços, tais como a gestão de resíduos. Porém gerar uma renda adequada para os/as sócios/as continua entre os principais desafios dos EES. Ao mesmo tempo se ob-
serva uma melhoria nos resultados econômicos dos EES, verificada na região Sul e um aumento significativo no acesso a recursos públicos, o que atesta avanços de políticas públicas e programas governamentais de fomento.
Economia solidária e políticas públicas
Podemos observar na história do Brasil uma tradição de envolvimento do estado no fomento à atividade econômica. Já no período agroexportador, as políticas reguladoras de estoque do café, principal produto de exportação da época, assim como o controle do câmbio, envolviam o estado brasileiro. No processo de substituição de importações, iniciado nos anos 30, se acentua a intervenção estatal. Hoje em dia, o principal agente de financiamento de capital fixo (máquinas e instalações) no Brasil é o banco público BNDES, praticamente o único financiador significativo de capital fixo para as empresas, dado o caráter especulativo dos bancos privados.
Postas todas estas reflexões, o aparato estatal não deveria ser utilizado de forma decisiva para fomentar a economia solidária, dadas as suas características, expostas anteriormente, e seu potencial para o desenvolvimento econômico?
Durante o I Fórum Social Mundial, em 2001, surgiu uma articulação entre organizações da sociedade civil e redes de empreendimentos econômicos solidários dos setores populares, que resultou na criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES). A incidência em políticas públicas por meio do fórum levou à criação, em 2003, da Secretaria Nacional da Economia Solidária (SENAES), vinculada ao Ministério de Trabalho e Emprego, que desenvolve programas e políticas públicas de fortalecimento de empreendimentos econômicos solidários. Neste mesmo ano também é criado o Conselho Nacional de Economia Solidária (CNES). As políticas públicas desenvolvidas no campo de economia solidária são articuladas pela SENAES e podem ser classificadas de acordo com três estratégias de articulação, respectivamente, fortalecimento institucional, desenvolvimento local e territorial e apoio à organização econômica solidária. Os instrumentos da política são organizados através de três eixos de atuação, finanças solidárias e crédito, conhecimento e comercialização. (SENAES, 2012). Embora que as políticas visam uma estratégia de desenvolvimento, as políticas públicas de economia solidária ainda são limitadas e fragmentadas. Há um desequilíbrio entre um amplo apoio para projetos de formação, e um apoio incipiente na área de fomento e acesso a recursos públicos. Porém tem se observada um aumento nestas duas áreas.
Há uma necessidade de articulações intragovernamentais para a efetivação das políticas públicas de fomento a economia solidária. Um exemplo desta articulação é o Comitê Interministerial de Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Recicláveis (Ciisc) criado em 2003, que reúne 22 órgãos federais, entre os quais, ministérios, como o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Ministério do Desen77
78
volvimento Social (MDS), instituições financeiras, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e empresas públicas como a Petrobras. O Ciisc visa criar políticas públicas e programas de apoio para a melhoria das condições socioeconômicas de catadores de materiais recicláveis. O Ciisc é o fórum de dialogo entre o Governo Federal e o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR). Um dos resultados foi a aprovação, após um processo participativo, da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS – lei nº 12305/2010). Outro resultado foi o projeto Cataforte, apoiado pela SENAES, Fundação Banco do Brasil, BNDES e Petrobras, onde mais de 10.600 catadores e catadoras de 19 estados receberam capacitação, assistência técnica e equipamentos, principalmente caminhões, para possibilitar a inserção competitiva das redes de cooperativas nos sistemas públicos de coleta seletiva. A contratação de catadores/as de materiais recicláveis pelo poder público para a realização de coleta seletiva, com o pagamento pelo serviço prestado, é uma reivindicação antiga do MNCR. De acordo com a PNRS, a coleta seletiva deverá ser realizada prioritariamente por cooperativas e associações de catadores/ as de materiais recicláveis. (ZEELAND, 2013b). A articulação intragovernamental em dialogo com o movimento social abriu o gama de atividades e serviços que podem ser assumidos por empreendimentos econômicos solidários. Na última década surgiram diversas experiências promissoras de gestão compartilhada de resíduos sólidos entre governos municipais e cooperativas de catadores/as de materiais recicláveis. Estas experiências incipientes mostram o potencial de expansão da economia solidária em importantes setores econômicos na sociedade, como a gestão de resíduos sólidos. (ZEELAND, 2013a). Porém com a responsabilidade da prestação de serviços nas cidades também aumenta os desafios para os EES. O avanço nas políticas públicas deverá ser acompanhado por programas publicas de fomento para o fortalecimento dos EES e para efetivamente ampliar a capacidade para atender as novas demandas.
Conclusão
Vimos que por razões lógicas, teóricas e empíricas, a economia solidária é voltada para a economia real. Um/a agente econômico/a que depende basicamente da sua força de trabalho para sobreviver e dispõe de capital via processo associativo em alguma forma de combinação produtiva, não correrá riscos no mercado financeiro caracterizado pela instabilidade. Seu retorno é basicamente resultado do emprego da sua força de trabalho e do capital partilhado com outros trabalhadores. Os levantamentos mostram também que grande parte dos empreendimentos se concentra no setor produtivo (57% em 2013), ainda que na sua maior parte sejam pequenos grupos de baixo rendimento, isto é, são indivíduos que complementam a renda de aposentadoria, de programas de transferência de renda governamental ou ainda de outras rendas da família. No levantamento, 62% re-
cebem do empreendimento uma renda de até um salário mínimo. Os dados do levantamento posterior sobre renda não foram considerados confiáveis.
Dá para deduzir que boa parte dos/as trabalhadores/as da economia solidária fazem parte do exército industrial de reserva e estão aguardando uma oportunidade para ingressar no mercado formal de trabalho. Entre os dois levantamentos há uma redução do número de trabalhadores/as da economia solidária, o que se deve também a um maior rigor na classificação, mas seguramente tem a ver com a ampliação do mercado formal de trabalho.
Houve um crescimento na formalização dos empreendimentos, embora ainda os informais sejam o segundo grupo mais importante quanto à forma de organização, indicando consolidação e redução do caráter efêmero dos grupos.
Quanto aos setores econômicos, predominam aqueles de mais simples tecnologia, com pouca agregação de valor ou que produzem produtos em natura. No entanto houve uma evolução no sentido de cobrir custos e gerar sobras.
Tomando por base a região sul, na constituição dos estoques de capital predominam os aportes de recursos próprios e uma terça parte seriam recursos públicos não reembolsáveis.
Um dado interessante é que grande parte dos empreendimentos tem indicadores de participação dos/as sócios/as (realizam no mínimo duas assembléias gerais anuais).
Em resumo são empreendimentos que crescem em organização, participação dos/as sócios/as e atuam prioritariamente no setor produtivo.
Por outro lado, existe articulação, em particular no governo federal no sentido de implementar programas de fomento à economia solidária. Um exemplo é o caso dos/as catadores/as de materiais recicláveis, através do projeto Cataforte e do quadro legal propiciado pela lei 12305/2010 que define a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Existe também uma série de outros programas de fomento da SENAES, inclusive envolvendo as universidades.
No entanto o âmbito das intervenções é o da inclusão social, que sem deixar de considerar este aspecto como importante, a economia solidária não figura na estratégia de desenvolvimento econômico, que por sua vez está fundada sobre tudo nas grandes corporações visando sua inserção competitiva na economia globalizada, numa perspectiva de consolidação de vantagens comparativas, que no caso brasileiro são o agronegócio, a mineração e a construção civil.
Para que a economia solidária se torne uma alternativa dentro de uma economia plural, onde não só a relação de assalariamento seja considerada é necessário muito mais do que se está fazendo. Tendo presente, como demonstrou nosso artigo, seu potencial econômico e de produtividade, a economia solidária além de desenvolver novas relações de trabalho, pode contribuir para o crescimento econômico.
Seria necessário que o Estado usasse sua capacidade de compra (cerca de um quarto do PIB), seus instrumentos de financiamento, sem os entraves supostamente técnicos, e seus organismos de assistência técnica e produção de conhecimento para 79
80
construir um setor da economia que tem por fundamento uma outra sociabilidade.
As pequenas cooperativas (a grande maioria) não podem se beneficiar do sistema tributário “simples”, facultado as micro e pequenas empresas capitalistas, vantagem que não é compensada pelo ato cooperativo.
A inexistência de um fundo de aval que possa garantir os créditos solicitados limita o acesso ao crédito e também da possibilidade de dispor de contrapartidas para acessar os créditos do BNDES, formatado para fornecer crédito às empresas capitalistas.
Nunca se cogitou na existência de subsídio cruzado, via taxas de juros praticada em relação às grandes empresas para financiar a economia solidária. As grandes empresas que se beneficiam de subsídios do Estado, através das taxas que delas cobra confrontada com a captação feita pelos títulos público, que reforçam o funding do BNDES.
Portanto é muito difícil que a economia solidária se desenvolva se ela não for pensada como vetor de desenvolvimento econômico.
Certamente para tal, em primeiro lugar há que se reconhecer suas potencialidades, é isto que esse artigo se propôs. Esta é uma condição necessária, mas não suficiente. Há que se buscar uma outra institucionalidade e uma outra macroeconomia em que o ser humano e não o capital seja o foco.
Insto não significa que todo o esforço feito para reforçar a economia solidária nos marcos atuais é inútil, muito pelo contrário. A construção de boas experiências só reforça a luta para que a economia solidária tenha o espaço que lhe é devido e pode permitir aos/as trabalhadores/as articulados/as nos movimentos sociais transformadores a construção de uma sociedade verdadeiramente solidária.
Referências
CAILLÉ, Allain. Théorie anti-utilitaire de l’action: fragments d’une sociologie génerale. Paris: La
Découverte, 2009. FERNANDES, Florestan. Sociedade de classes e subdesenvolvimento. São Paulo: Global Editora, 2008. GAIGER, Luis Inácio. “A outra racionalidade da economia solidária. Conclusões do primeiro
Mapeamento Nacional no Brasil.” Revista Crítica de Ciências Sociais, vol. 79, p.57-77, 2007. KUYVEN, Patrícia Sorgatto; KAPPES, Sylvio Antonio. II Mapeamento da Economia Solidária
Região Sul: Resultados do segundo Mapeamento Nacional. São Leopoldo: UNISINOS, 2013. SAMARY, Catherine. “De L’Emancipation de Chacun à L’Intérêt de Tous et Réciproquement. ”
Contretemps, nº5, Paris: Textuel, 2002. SANTOS, Milton. O Espaço Dividido. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2004. SCHMIDT, Carlos. “A economia solidária: panacéia do capitalismo pós-moderno ou um caminho para o socialismo.” Em Carlos Schmidt e Henrique T. Novaes (orgs.), Economia Solidária e Transformação
Social: Rumo a uma sociedade para além do capital? Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2013. SENAES - Secretaria Nacional de Economia Solidária. Avanços e Desafios para as Políticas Públicas de Economia Solidária no Governo Federal 2003/2010. Brasília: SENAES/MTE, 2012. SENAES - Secretaria Nacional de Economia Solidária. Atlas da Economia Solidária no Brasil
2005 – 2007. Brasília: SENAES/MTE, 2007. www.sies.mte.gov.br Acesso em: 07/07/2012.
SIES – Banco de Dados do Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária. Brasília: SENAES/MTE, 2013.
VIEITEZ, Candido Giraldez; DAL RI, Neusa Maria. Trabalho associado: cooperativas e empresas de autogestão. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.
ZEELAND, Angelique J. W. M. van. Challenges for Sustainability of SSE: The Interaction between Popular Economy, Social Movements and Public Policies: Case Study of the Global Alliance of Waste Pickers. Artigo apresentado na Conference on the Potential and Limits of Social and Solidarity Economy, UNRISD, Genebra, 6-8 Maio 2013. ______. “Gestão Comunitária de Resíduos Sólidos: Coleta Seletiva Solidária com Inclusão de Catadores de Materiais Recicláveis.” Em Angelique J. W. M. van Zeeland (org.), CATAFORTE/RS: Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo dos Catadores de Materiais Recicláveis. São Leopoldo: Oikos, 2013b.
81