

JERRY SPINELLI



JERRY SPINELLI
tradução
JERRY SPINELLI
Copyright © 2000 Jerry Spinelli
Esta edição foi publicada de acordo com a Random House Children’s Books, uma divisão da Random House LLC.
Título original: Stargirl
Todos os direitos reservados pela Autêntica Editora. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, seja por meios mecânicos, eletrônicos ou em cópia reprográfica, sem a autorização prévia da Editora.
EDITORA RESPONSÁVEL
Silvia Tocci Masini
EDITORES ASSISTENTES
Carol Christo
Nilce Xavier
ASSISTENTE EDITORIAL
Andresa Vidal Branco
PREPARAÇÃO DE TEXTO
Bete Abreu
REVISÃO
Vero Verbo Serviços de Editoração
CAPA
Diogo Droschi
DIAGRAMAÇÃO
Christiane Morais de Oliveira
INFORMAÇÕES PARATEXTUAIS
Paula Renata Moreira
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil
Spinelli, Jerry
A extraordinária garota chamada Estrela / Jerry Spinelli ; tradução Eric Novello. -- 3. ed. -- Belo Horizonte, MG : Autêntica Editora, 2022.
Título original: Stargirl ISBN 978-65-5928-199-2
1. Ficção - Literatura infantojuvenil I. Título.
22-118715
Índices para catálogo sistemático:
CDD-028.5
1. Ficção : Literatura infantojuvenil 028.5
2. Ficção : Literatura juvenil 028.5
Aline Graziele Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129
Rua Carlos Turner, 420 Silveira . 31140-520
Belo Horizonte . MG
Para Eileen, minha Estrela, e para Loren Eiseley, que nos ensinou que mesmo enquanto somos, estamos nos tornando. E para Sonny Liston.
Muito obrigado a Nick Uliano, Tony Coia e Mike Oliver por me ajudarem a contar esta história, e à minha editora, Joan Slattery.
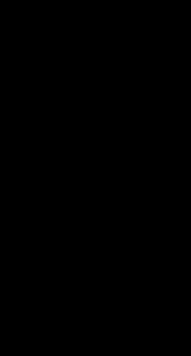
Quando eu era pequeno, meu tio Pete tinha uma gravata com estampa de porco-espinho. Para mim, essa gravata era a coisa mais legal do mundo. O tio Pete parava pacientemente na minha frente enquanto eu percorria a superfície de seda com os dedos, meio que esperando ser furado por um dos espinhos. Uma vez, ele deixou que eu a vestisse. Continuei procurando uma para mim, mas nunca consegui encontrar.
Eu tinha 12 anos quando nos mudamos da Pensilvânia para o Arizona. Quando o tio Pete veio se despedir, ele vestia a gravata. Pensei que tinha feito isso para que eu pudesse dar uma última espiada nela, e fiquei agradecido. Mas então, com um floreio dramático, ele arrancou a gravata e a pendurou no meu pescoço. “É sua”, disse. “Um presente de despedida.”
Eu amava tanto aquela gravata de porco-espinho que decidi começar uma coleção. Dois anos depois de nos estabelecermos no Arizona, minha coleção continuava a ter apenas uma gravata. Onde encontrar uma gravata de porco-espinho em Mica, Arizona, ou em qualquer outro lugar, aliás?
No meu aniversário de 14 anos, li sobre mim mesmo no jornal da cidade. A seção de cotidiano trazia uma coluna regular sobre crianças em seus aniversários, e minha
mãe tinha passado algumas informações. A última frase dizia: “Como hobby, Leo Borlock coleciona gravatas de porco-espinho”.
Alguns dias depois, vindo da escola para casa, encontrei uma sacola plástica no degrau da entrada. Dentro dela, um pacote embrulhado para presente com fitas amarelas. A etiqueta dizia: “Feliz aniversário!”. Abri o pacote. Era uma gravata de porco-espinho. Dois porcos-espinhos jogavam dardos com seus espinhos, enquanto um terceiro palitava os dentes.
Inspecionei a caixa, a etiqueta, o papel. Não encontrei em lugar nenhum o nome de quem havia deixado o presente. Perguntei aos meus pais. Perguntei aos meus amigos. Liguei para o tio Pete. Todos negaram saber algo sobre o assunto.
Na época, considerei o episódio um mistério. Não havia me ocorrido que eu estava sendo observado. Todos nós estávamos sendo observados.
“Você a viu?”
Essa foi a primeira coisa que Kevin me disse no primeiro dia de escola, no segundo ano do ensino médio.
Estávamos esperando tocar o sinal.
“Vi quem?”, perguntei.
“Rá!” Ele esticou o pescoço, analisando a multidão.
Tinha testemunhado algo marcante, seu rosto demonstrava isso. Ele sorriu, ainda procurando. “Você saberá.”
Havia centenas de nós, parados de bobeira, gritando nomes, apontando para os rostos bronzeados de verão que não víamos desde antes das férias. Nosso interesse nos outros era sempre mais aguçado durante os quinze minutos antes do primeiro sinal do primeiro dia.
Soquei o braço dele. “Quem?”
O sinal tocou. Entramos.
Ouvi aquilo de novo na sala de aula, uma voz sussurrando atrás de mim enquanto fazíamos o juramento à bandeira:
“Está vendo ela?”
Ouvi aquilo nos corredores. Nas aulas de Inglês e de Geometria:
“Você a viu?”
Quem poderia ser? Uma nova aluna? Uma loira espetacular da Califórnia? Ou lá do leste, de onde vinha a
maioria de nós? Ou uma dessas transformações de verão, alguém que sai em junho parecendo uma menininha e volta em setembro como uma mulher de corpo feito, um milagre de dez semanas?
E então, na aula de Ciências, ouvi um nome: “Estrela”.
Virei-me para o aluno do último ano que andava atrás de mim. “Estrela?” Perguntei. “Que tipo de nome é esse?”
“É isso mesmo. Estrela Caraway. Ela disse na sala de aula.”
“Estrela?”
“Sim.”
E então eu a vi. No almoço. Usava um vestido cor de gelo tão longo, que cobria seus sapatos. Tinha babados ao redor do pescoço e das mangas e, pela aparência, poderia ter sido o vestido de casamento de sua bisavó. Seu cabelo tinha cor de areia. Ele caía sobre os ombros. Havia algo amarrado às suas costas, mas não era uma mochila. De início, pensei que fosse um violão em miniatura. Descobri mais tarde ser um ukulele.
Ela não carregava uma bandeja de almoço. Carregava uma bolsa grande de lona estampada com um girassol em tamanho real. O refeitório ficou totalmente silencioso quando ela entrou. Parou em uma mesa vazia, deixou a bolsa, pendurou a alça do instrumento na cadeira e se sentou. Tirou um sanduíche da bolsa e começou a comer. Metade do refeitório continuou a olhar, metade começou a cochichar.
Kevin estava sorrindo. “O que eu te disse?”
Concordei.
“Ela está no primeiro ano”, disse ele. “Ouvi dizer que estudava em casa até agora.”
“Talvez isso explique”, eu disse.
Ela estava de costas para nós, então eu não conseguia ver seu rosto. Ninguém se sentou com ela, mas nas mesas
próximas, as pessoas se apertavam por um lugar. Ela parecia não notar. Parecia abandonada em um mar de rostos que a encaravam e cochichavam.
Kevin estava sorrindo de novo. “Está pensando no mesmo que eu?”, disse.
Sorri de volta. Concordei novamente. “Cadeira Elétrica.”
Cadeira Elétrica era o programa de TV interno de nossa escola. Tínhamos dado início a ele um ano atrás. Eu era o produtor/diretor, Kevin era o apresentador. Todo mês ele entrevistava um aluno. Até agora, a maioria deles tinha sido do tipo alunos de destaque, atletas, cidadãos-modelo. Notáveis da maneira usual, mas não especialmente interessantes.
De repente, os olhos de Kevin se arregalaram. A garota estava pegando seu ukulele. E agora ela o dedilhava.
E estava cantando! Dedilhando, balançando a cabeça e os ombros, cantando “I’m looking over a four-leaf clover that I overlooked before”. Silêncio absoluto por toda parte. Em seguida, veio o som de uma única pessoa aplaudindo. Procurei. Era a moça do caixa do refeitório.
E agora a garota estava em pé, pendurando a bolsa sobre o ombro e passando entre as mesas, dedilhando e cantando, empertigando-se e girando. Cabeças balançaram, olhos a seguiram, bocas se abriram. Incredulidade. Quando ela veio à nossa mesa, dei pela primeira vez uma boa olhada em seu rosto. Não era linda, não era feia. Um pontilhado de sardas cruzava o septo do seu nariz. De modo geral, ela parecia com uma centena de outras garotas na escola, exceto por dois detalhes. Não usava nenhuma maquiagem, e seus olhos eram os maiores que eu já tinha visto, como olhos de um cervo vistos na luz de faróis. Ela girou enquanto passava por nós, e sua saia vistosa roçou a perna da minha calça, e então marchou para fora do refeitório.
Três aplausos lentos vieram de uma das mesas. Alguém assobiou. Alguém gritou.
Kevin e eu nos olhamos boquiabertos. Ele ergueu as mãos e formou uma moldura no ar. “Cadeira Elétrica. Próxima atração: Estrela!”
Dei um tapa na mesa. “Sim!” Batemos forte as mãos.
chegamos à escola no dia seguinte, Hillari Kimble estava em pé na porta, cercada por várias pessoas.
“Ela não é real”, disse zombando. “Ela é uma atriz, uma farsante.”
Alguém gritou: “Quem está nos enganando?”.
“A administração. O diretor. Quem mais? Quem se importa?”, Hillari sacudiu a cabeça, tamanho o absurdo da pergunta.
Uma mão subiu no ar: “Por quê?”.
“Para manter o astral da escola”, ela rebateu. “Eles acham que este lugar estava muito caído ano passado. Pensam que se infiltrarem alguma maluca entre os alunos...”
“Como infiltram agentes antidrogas nas escolas!”, alguém mais gritou.
Hillari olhou para a pessoa e então continuou, “...algum doido que anime as coisas, então, talvez todos os jovens estudantes cheguem a ir a um jogo de vez em quando ou entrem para algum grupo”.
“Em vez de se pegarem na biblioteca!”, soou outra voz. E todos riram, e o sinal tocou, e nós entramos.
A teoria da Hillari Kimble se espalhou pela escola e foi amplamente aceita.
“Você acha que Hillari tem razão?”, Kevin me perguntou. “Que Estrela é uma infiltrada?”
Eu ri. “Olha o que você está falando.”
Ele abriu os braços. “O quê?”
“Esta é a Escola de Ensino Médio de Mica”, lembrei. “Não um escritório da CIA.”
“Talvez não”, disse, “mas espero que Hillari tenha razão.”
“Por que você espera isso? Se ela não for uma aluna de verdade, não poderemos levá-la para o Cadeira Elétrica.”
Kevin balançou a cabeça e sorriu. “Como de costume, senhor Diretor, você falhou em ver o quadro completo. Podemos usar o show para desmascará-la. Não percebe?”
Ele fez a moldura com as mãos: “Cadeira Elétrica descobre fraude na educação!”
Olhei fixamente para ele. “Você quer que ela seja uma impostora, não é?”
Ele sorriu de orelha a orelha. “Com certeza. Nossa audiência será altíssima!”
Eu tinha de admitir: quanto mais a via, mais fácil era acreditar que ela era uma farsa, uma piada, qualquer coisa, menos real. Naquele segundo dia, vestia uma jardineira larga vermelho-brilhante com suspensórios, que parecia um shorts-macacão. Seu cabelo loiro claro estava arrumado para trás em duas tranças, cada uma delas amarrada com uma fita vermelha cintilante. Havia blush colorindo cada bochecha, o que suavizava algumas das grandes sardas do rosto. Ela parecia uma caipira. Ou a Betty, a pastora de ovelhas do Toy Story.
No almoço, estava sozinha de novo em sua mesa. Como da vez anterior, ao terminar de comer ela pegou seu ukulele. Mas dessa vez não o tocou. Levantou-se e começou a caminhar entre as mesas. Ela nos observou.
Olhou para um rosto, depois outro e mais outro. Um olhar firme, do tipo estou-observando-você, que você raramente recebe das pessoas, especialmente de estranhos. Parecia estar procurando alguém específico, e o refeitório inteiro tinha ficado muito desconfortável.
Quando se aproximou de nossa mesa, pensei: E se ela estiver procurando por mim? O pensamento me apavorou. Então virei para o outro lado. Olhei para Kevin. Eu o vi sorrir de modo tonto para ela. Ele balançou os dedos para ela e sussurrou, “Oi, Estrela”. Não ouvi uma resposta. Pude senti-la passando atrás da minha cadeira.
Ela parou duas mesas adiante. Sorria para um aluno gorducho do último ano, chamado Alan Ferko. O refeitório ficou em silêncio sepulcral. Ela começou a dedilhar o ukulele. E a cantar. Era “Parabéns a você”. Na parte do nome dele, não cantou apenas o primeiro, mas o nome completo:
“Parabéns, Alan Fer-koooooh.”
O rosto de Alan Ferko ficou vermelho como as fitas das tranças da pastora Betty. Houve uma onda de assobios e urros, mais por causa do Alan Ferko, acho, do que por conta dela. Enquanto Estrela ia embora, vi Hillari Kimble se levantar do outro lado do refeitório, apontando, dizendo algo que eu não podia ouvir.
“Vou te dizer uma coisa”, falou Kevin, enquanto nos juntávamos à multidão nos corredores, “é melhor que ela seja uma farsante.”
Perguntei o que ele queria dizer.
“Quero dizer que se ela for real, está metida em uma baita encrenca. Quanto tempo você acha que alguém que seja realmente daquele jeito vai durar por aqui?”
Boa pergunta.
A Escola de Ensino Médio de Mica (EEMM) não era exatamente um viveiro de rebeldes. É claro que havia variações individuais aqui e ali, mas dentro de limites bastante restritos. Todos nós usávamos as mesmas roupas, falávamos da mesma maneira, comíamos a mesma comida, ouvíamos as mesmas músicas. Mesmo nossos nerds possuíam o selo EEMM. Se por acaso nos destacássemos de alguma maneira, rapidamente voltávamos para o mesmo lugar, como tiras de borracha.
Kevin estava certo. Era impensável que Estrela pudesse sobreviver – ou pelo menos não mudar – entre nós.
Também ficou claro que Hillari Kimble estava pelo menos meio certa: essa pessoa que se chamava Estrela podia ou não ter sido uma invenção do corpo docente para animar a escola, mas, fosse o que fosse, ela não era real.
Não podia ser.
Diversas vezes naquelas primeiras semanas de setembro ela apareceu vestindo algo escandaloso. Um vestido estilo melindrosa de 1920. Um traje de índio norte-americano feito de camurça. Um quimono. Um dia, vestiu uma minissaia jeans com meias verdes e, subindo por uma das pernas, havia um desfile de joaninhas de resina e broches de borboleta. “Normal” para ela eram vestidos e saias longas que se esfregavam no chão.
Dia sim, dia não, ela presenteava alguém novo com uma serenata de “Parabéns a você” no refeitório. Eu estava feliz por meu aniversário ser no verão.
Nos corredores, dizia oi para totais estranhos. Os alunos do último ano não conseguiam acreditar. Nunca tinham visto uma aluna do primeiro ano tão corajosa.
Na aula, ela sempre erguia a mão no ar e fazia perguntas, embora a pergunta raramente tivesse algo a ver com a matéria. Um dia ela perguntou sobre trolls na aula de História norte-americana.
Ela compôs uma canção sobre triângulos isósceles. E cantou-a para sua turma de geometria plana. O título era “Três lados eu tenho, só dois são iguais”.
Ela se juntou à equipe de corrida cross-country. Nossos encontros eram sediados no campo de golfe do Country Club de Mica. Bandeiras vermelhas indicavam aos corredores o caminho a ser percorrido. Em sua primeira aparição, no meio da corrida, virou à esquerda quando todos os demais viraram à direita. Eles esperaram por ela na linha de chegada. Ela nunca apareceu. Foi dispensada da equipe. Um dia uma garota gritou no corredor. Tinha visto um pequeno rosto marrom saltar da bolsa de lona com estampa de girassol da Estrela. Era seu rato de estimação. Ele passeava pela escola na bolsa todo dia.
Uma manhã, tivemos uma rara chuva para a época do ano, que caiu durante a aula de Educação Física. O professor disse para todos entrarem. No caminho para a aula seguinte, eles olharam pelas janelas. Estrela continuava do lado de fora. Na chuva. Dançando.
Nós queríamos defini-la, etiquetá-la como fazíamos uns com os outros, mas não conseguíamos ir além de “esquisita”, “estranha” e “patética”. O jeito dela nos tirava do eixo. Uma única palavra parecia pairar no céu sem nuvens sobre a escola: Ahn?
Tudo o que ela fazia parecia ecoar as palavras de Hillari Kimble: Ela não é real... Ela não é real...
E toda noite na cama eu pensava nela quando o luar entrava pela minha janela. Eu poderia ter baixado a persiana para deixar o quarto mais escuro e ser mais fácil dormir, mas nunca fiz isso. Naqueles momentos iluminados pela lua, eu adquiria um senso de interdependência das
coisas. Gostava da sensação que a luz da lua me dava, como se ela não fosse o oposto do dia, mas sua parte oculta, seu lado privativo, algo fabuloso que ronronava no meu lençol branco como a neve, como um gato preto que vinha do deserto.
Foi durante uma dessas noites enluaradas que me dei conta de que Hillari Kimble estava errada. Estrela era real.
Nós brigávamos diariamente, Kevin e eu.
Minha função principal como produtor era recrutar pessoas para o Cadeira Elétrica. Depois que eu fechava com alguém, Kevin começava a pesquisar sobre a pessoa e preparar as perguntas.
Todos os dias ele me perguntava: “Você já fechou com ela?”.
Todo dia eu respondia que não.
Ele ficava frustrado.
“Como assim, não? Você não quer convidá-la?”
Dizia a ele que não tinha certeza.
Seus olhos se arregalavam. “Não tem certeza? Como pode não ter certeza? Nós concordamos no refeitório, semanas atrás. Estávamos até pensando em uma minissérie da Estrela. Seria um Cadeira Elétrica incrível.”
Dei de ombros. “Isso foi naquela época. Agora não tenho certeza.”
Ele olhou para mim como se eu tivesse três orelhas. “E o que falta para ter certeza?”
Dei de ombros.
“Bem, então”, ele disse, “eu vou convidá-la.” E se afastou.
“Se fizer isso, terá de encontrar outro diretor”, falei.
Ele parou. Eu quase conseguia ver o vapor subindo de seus ombros. Ele se virou e apontou. “Leo, às vezes você sabe ser um verdadeiro babaca.” E foi embora.
Aquilo foi péssimo. Kevin Quinlan e eu geralmente concordávamos em tudo. Tínhamos sido melhores amigos desde a chegada ao Arizona, na mesma semana, quatro anos antes. Nós dois pensávamos que o cacto que dá o figoda-índia se parecia com uma raquete de pingue-pongue com bigode, e que os cactos saguaros pareciam luvas de dinossauros. Nós dois adorávamos smoothie de banana com morango. Ambos queríamos trabalhar na TV. Kevin frequentemente dizia que queria ser um apresentador de talk show, e não estava de brincadeira. Eu queria ser um jornalista e apresentar programas de esportes ou de notícias. Tínhamos bolado o Cadeira Elétrica juntos e convencido o corpo docente a nos deixar colocá-lo em prática. Foi um sucesso imediato. Logo se tornou o assunto mais comentado da escola.
Então, por que eu estava recusando?
Eu não sabia. Tinha alguns sentimentos indefinidos, mas a única coisa que conseguia identificar era um alerta: deixe-a em paz.
Naquela época, a “Tese da Hillari” (Kevin batizou assim) sobre a origem da Estrela tinha dado lugar a outras hipóteses:
Ela estava querendo ser descoberta por diretores de cinema.
Ela estava respirando vapores tóxicos.
Ela tinha ficado psicótica enquanto tinha aulas em casa.
Ela era uma alienígena. O rato que trazia para a escola era apenas a ponta do iceberg. Possuía centenas de ratos em casa, alguns grandes como gatos.
Ela morava em uma cidade fantasma no meio do deserto.
Ela morava em um ônibus.
Os pais dela eram artistas de circo.
Os pais dela eram bruxos.
Os pais dela haviam tido morte cerebral e vegetavam em um hospital em Yuma.
Nós a assistimos se sentar na sala de aula e puxar de sua bolsa de lona uma cortina azul e amarela de babados, que ela colocou sobre os três lados de sua mesa. Nós a vimos instalar um vaso de vidro de sete centímetros e meio e colocar nele uma margarida branca e amarela. Fazia isso em cada aula da qual participava, seis vezes por dia. A margarida só estava fresca nas manhãs de segunda-feira. No último período, as pétalas pendiam. Na quarta-feira, as pétalas começavam a cair, e a haste a ceder. Na sexta-feira, a flor pendia sobre a borda do vaso sem água, e a ponta virava um toco morto que derramava pólen amarelo na carteira.
Juntamo-nos a ela quando cantava Parabéns a você no refeitório. Ouvíamos quando ela nos cumprimentava pelos corredores e salas de aula, e nos perguntávamos como ela sabia nossos nomes e nossos aniversários.
Seus olhos arregalados davam a ela uma expressão de espanto permanente, e nos percebíamos sempre virando para trás para espiar sobre os ombros e tentar descobrir o que tínhamos deixado de notar.
Ela ria quando não havia piada. Dançava quando não havia música.
Não tinha amigos, embora fosse a pessoa mais amigável da escola.
Em suas respostas na aula, frequentemente falava de cavalos marinhos e estrelas, mas não sabia nada sobre futebol.
Dizia que na casa dela não havia TV.
Ela era fugaz. Ela era hoje. Ela era amanhã. Ela era o aroma mais suave da flor de um cacto, a sombra fugidia de uma coruja marrom. Nós não sabíamos o que fazer com ela. Em nossa mente, tentávamos fixá-la em um quadro de cortiça como uma borboleta, mas o alfinete simplesmente se soltava e ela voava para longe.
Kevin não era o único. Outros garotos me importunavam dizendo: “Coloque-a no Cadeira Elétrica!”.
Eu menti. Disse que ela ainda era do primeiro ano do ensino médio e que você tinha de estar pelo menos no segundo para participar do Cadeira Elétrica.
Enquanto isso, eu mantinha distância. Observava-a como se fosse um pássaro em um viveiro. Um dia, virei uma esquina e lá estava ela, vindo direto na minha direção, com a saia longa farfalhando suavemente, olhando diretamente para mim, cercando-me com aqueles olhos. Eu me virei e corri por outro caminho. Ao me sentar na aula seguinte, eu me senti quente, abalado. Perguntava-me se estava deixando transparecer minha idiotice. Estava me tornando um pateta? O sentimento que tive ao vê-la virando a esquina tinha sido próximo do pânico.
Então, um dia, depois da escola, eu a segui. Mantive uma distância segura. Como todos sabiam que ela não pegava ônibus, imaginei que fosse uma caminhada curta. Não foi. Nós passamos por toda a cidade, por centenas de jardins sem grama, feitos de cactos e pedras, pelo meio do centro comercial em estilo Tudor, e contornamos a região das indústrias de eletrônicos em torno da qual a cidade tinha sido criada apenas quinze anos antes.
Em determinado ponto, ela puxou um pedaço de papel de sua mochila e o consultou. Parecia que estava lendo
os números das casas enquanto caminhava. De repente, virou em uma calçada, foi até a porta da frente e deixou alguma coisa na caixa de correio.
Esperei que se afastasse. Olhei em volta, não havia ninguém na rua. Fui até a caixa de correio, puxei e vi que era um cartão feito à mão. Abri. Cada letra maiúscula estava pintada de uma cor diferente. O cartão dizia: PARABÉNS!
Mas não estava assinado.
Voltei a segui-la. Os carros entravam nas garagens. Era hora do jantar. Meus pais deveriam estar se perguntando onde eu estaria.
Ela tirou o rato da mochila e o colocou sobre o ombro. Montado lá, o rato ficou virado para trás, com seu pequeno rosto triangular espiando para fora das mechas de cabelo loiro claro. Eu não conseguia ver seus olhos negros miúdos, mas pensei que estivessem olhando para mim. Imaginei que ele estivesse falando para ela o que via. Distanciei-me ainda mais.
Sombras cruzaram a rua.
Passamos pelo lava-rápido e pela loja de bicicletas. Passamos pelo campo de Country Club de campo, a maior área de grama verde da cidade. Passamos pela placa de “Bem-vindo a Mica”. Estávamos seguindo para oeste. Havia nós dois, a estrada, o deserto e o sol escaldante acima do monte Maricopas. Desejei ter trazido óculos escuros. Depois de um tempo, ela desviou da estrada. Eu hesitei, então a segui. Ela caminhava diretamente na direção do sol poente, agora uma grande laranja empoleirada no topo das montanhas. Por um minuto, as montanhas ficaram com o mesmo tom lavanda escuro de sua saia que se arrastava na areia. A cada passo o silêncio aumentava, o que me fez sentir que ela sabia – desde o início – que estava sendo seguida. Ou ainda mais, que ela estava me conduzindo. Ela nunca olhava para trás.
Ela dedilhou seu ukulele. Cantou. Eu não conseguia mais ver o rato. Imaginei que cochilava na cortina de seu cabelo. Imaginei-o cantando junto com ela. O sol se pôs atrás das montanhas.
Para onde ela estava indo?
No crepúsculo, os cactos saguaros lançavam sombras de gigantes em todo o chão de seixos. O ar batia frio no meu rosto. O deserto cheirava a maçãs. Ouvi algo, um coiote?
Pensei em cascavéis e escorpiões.
Parei. Observei-a se afastar. Resisti ao impulso de chamá-la, de alertá-la... do quê?
Virei-me e caminhei. Depois corri, de volta para a estrada.
NaEscola de Ensino Médio de Mica, Hillari Kimble era famosa por três coisas: sua boca, o golpe e Wayne Parr. Sua boca fala sozinha, na maioria das vezes para reclamar.
O episódio que ficou conhecido como “o golpe da Hillari” aconteceu no segundo ano, quando ela tentou ser líder de torcida. Ela tinha o rosto, o cabelo e o porte adequados, e certamente tinha a boca, e por isso conseguiu entrar facilmente na equipe. E, então, ela deixou todos boquiabertos ao desistir, dizendo que só queria provar que conseguia. Disse que não tinha a intenção de ficar falando e pulando na frente de arquibancadas vazias (que geralmente estavam mesmo desse jeito). E, além de tudo, ela odiava esportes.
E sobre Wayne Parr, ele foi o namorado dela. Quanto à boca, ele era o oposto dela: raramente abria a dele. Nem precisava. Tudo o que ele tinha de fazer era aparecer. Era esse o trabalho dele: aparecer. Tanto para os padrões femininos quanto para os masculinos, Wayne Parr era lindo. Mas ele era mais – e menos – que isso.
Em termos de conquistas, Wayne Parr parecia não ser ninguém. Não fazia parte de nenhum time, não participava de nenhuma equipe, não tinha ganhado nenhum prêmio nem tirado nenhuma nota A. Não tinha sido eleito para nada, homenageado por nada, e, ainda assim, embora eu
só tenha percebido isso anos depois, era o grande líder do nosso desfile diário.
Nós não acordávamos de manhã e nos perguntávamos: “O que Wayne Parr estará vestindo hoje?”. Nem “O que Wayne Parr vai fazer hoje?”. Pelo menos, não de forma consciente. Mas, em algum nível subconsciente, era exatamente o que fazíamos. Wayne Parr geralmente não ia a jogos de futebol ou basquete, nem nós. Wayne Parr não fazia perguntas na aula, nem se estressava com professores ou discursos motivacionais antes de jogos e partidas, nem nós. Wayne Parr não se importava muito. Nem nós.
Wayne havia nos criado ou era simplesmente um reflexo de nós? Eu não sabia. Sabia apenas que se você descascasse, uma por uma, todas as camadas do grupo de alunos, você encontraria, no núcleo, não o espírito da escola, mas Wayne Parr. Foi por isso que, em nosso segundo ano, recrutei Wayne para o Cadeira Elétrica. Kevin ficou surpreso.
“Por que ele?”, disse Kevin. “O que ele já fez?”
O que eu poderia dizer? Que Wayne merecia ser assunto do Cadeira Elétrica exatamente porque não tinha feito nada, porque ele era simplesmente muito bom em não fazer nada? Eu tinha só um vago instinto, não as palavras. Apenas dei de ombros.
O ponto alto daquele Cadeira Elétrica veio quando Kevin perguntou a Wayne quem era seu herói, seu modelo. Essa era uma das perguntas padrão de Kevin.
Wayne respondeu: “GQ”.
Na sala de controle, demorei a entender. O som estava funcionando direito?
“GQ?”, Kevin repetiu espantado. “A revista Gentleman’s Quarterly?”
Wayne não olhou para Kevin. Olhou diretamente para a câmera. Ele acenou com a cabeça satisfeito. Chegou a
dizer que queria se tornar modelo, e que sua ambição suprema era ser capa da GQ. E bem ali posou para a câmera. Ele tinha aquele olhar de desprezo perfeito de modelo, e, de repente, eu conseguia vê-lo: seu queixo quadrado, as bochechas esculpidas, os dentes e os cabelos perfeitos. Isso, como eu disse, aconteceu no final do nosso segundo ano. Eu pensava que, naquela época, Wayne Parr sempre reinaria como nosso grande líder. Como poderia imaginar que logo ele seria desafiado por uma aluna de nariz sardento?

Uma garota chamada Estrela. Tão mágica quanto o céu do deserto. Tão estranha quanto seu rato de estimação. Tão misteriosa quanto seu nome. Com um simples sorriso, ela cativa totalmente o coração de Leo Borlock. Com sua alegria, ela incendeia uma revolução por liberdade e autenticidade no espírito de sua escola. No começo, os colegas se encantam por tudo o que a faz ser diferente. Mas isso começa a mudar, e Leo, apaixonado e apreensivo, percebe que a única coisa que pode salvá-la das críticas também pode destruí-la: ser alguém comum.
Nesta celebração do inconformismo, o premiado autor Jerry Spinelli tece um conto tenso e comovente sobre os percalços da necessidade de ser popular, da emoção e da inspiração do primeiro amor.