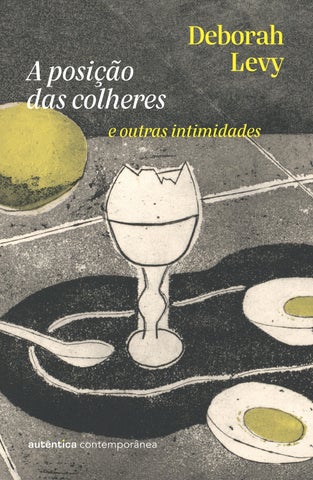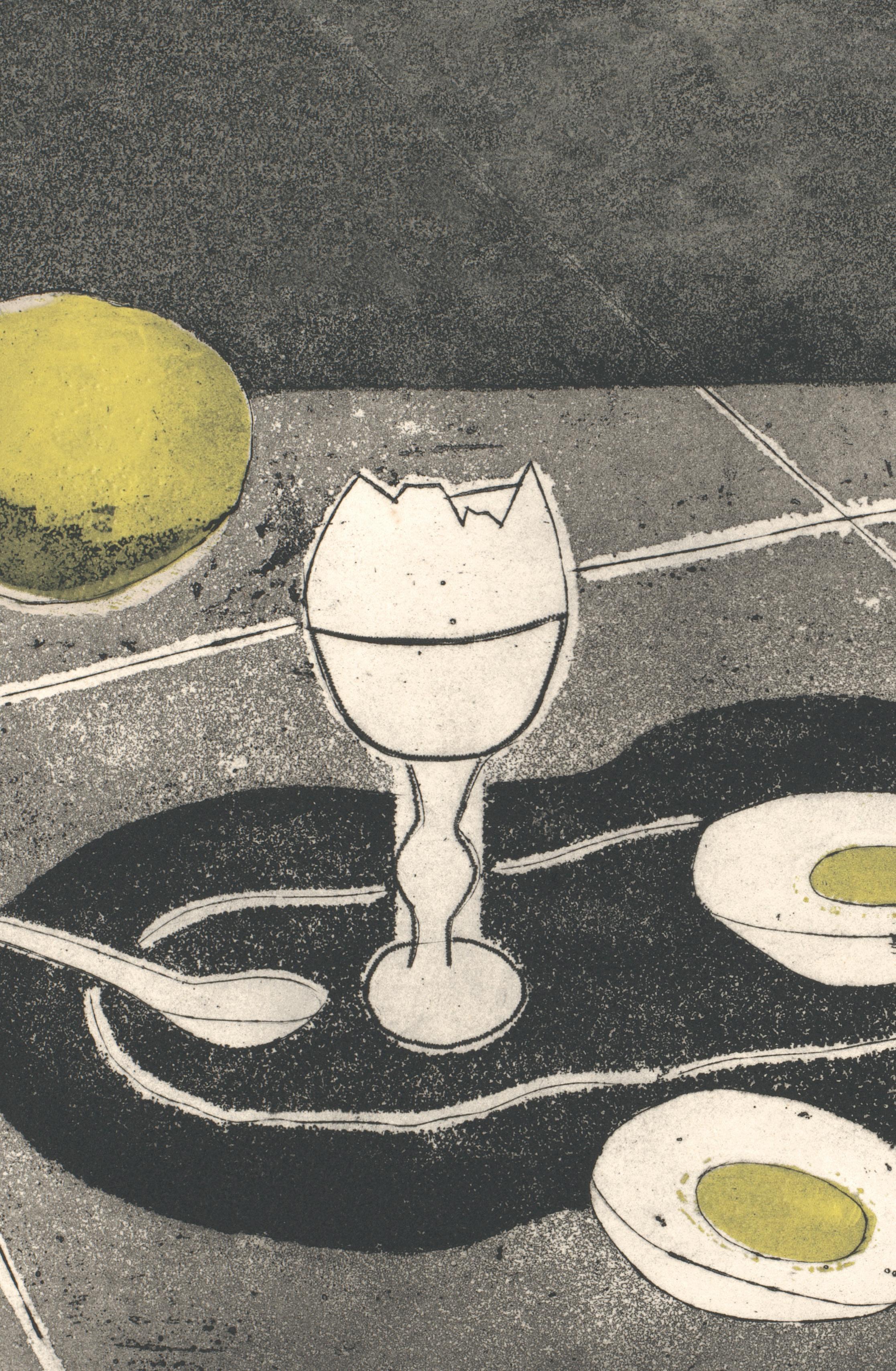
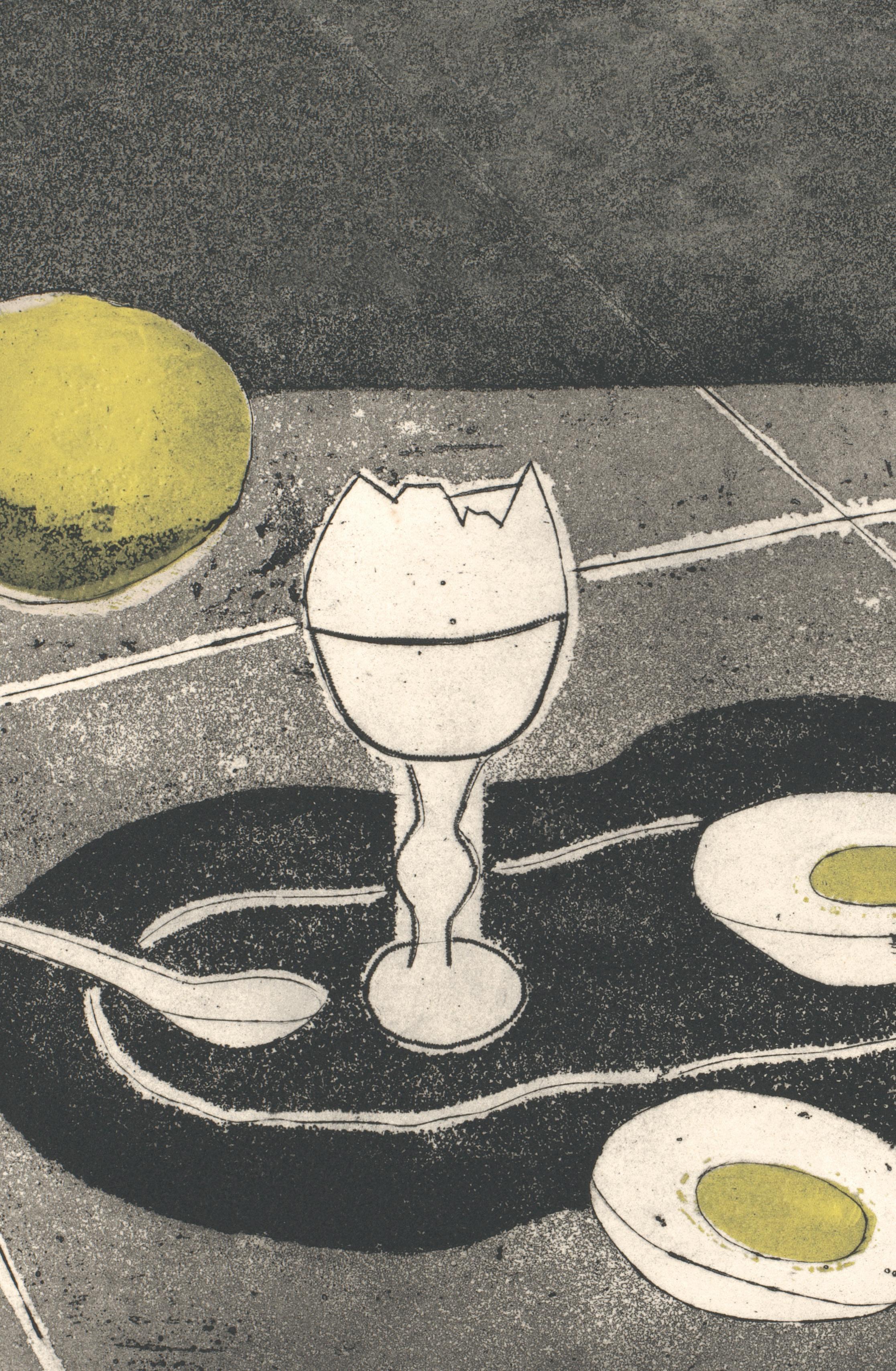
A posição das colheres Deborah Levy e outras intimidades
Deborah Levy
A posição das colheres
e outras intimidades
tradução
Adriana Lisboa
Copyright © 2024 Deborah Levy
Copyright desta edição © 2025 Autêntica Contemporânea
Título original: The Position of Spoons: And Other Intimacies
Todos os direitos reservados pela Autêntica Editora Ltda. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, seja por meios mecânicos, eletrônicos, seja via cópia xerográfica, sem a autorização prévia da Editora.
editoras responsáveis
Ana Elisa Ribeiro
Rafaela Lamas
preparação
Sonia Junqueira
revisão
Marina Guedes
diagramação
Waldênia Alvarenga capa
Alles Blau
imagem de capa
Voor een appel en een ei..., (c. 1970), da artista holandesa
Jeanne Bieruma Oosting.
imagens de miolo
Página 5: Tuul and Bruno Morandi/Alamy Stock Photo
Página 13: Space² (1976), de Francesca Woodman. © 2025 Woodman Family Foundation / AUTVIS, Brasil.
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Levy, Deborah
A posição das colheres : e outras intimidades / Deborah Levy ; tradução Adriana Lisboa. -- 1. ed. -- Belo Horizonte : Autêntica Contemporânea, 2025.
Título original: The Position of Spoons: And Other Intimacies
ISBN 978-65-5928-591-4
1. Escritoras inglesas - Autobiografia 2. Levy, Deborah 3. Memórias autobiográficas I. Título.
25-275986
CDD-823.914
Índices para catálogo sistemático: 1. Escritoras inglesas : Memórias autobiográficas 823.914
Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427
Belo Horizonte
Rua Carlos Turner, 420 Silveira . 31140-520
Belo Horizonte . MG
Tel.: (55 31) 3465 4500
São Paulo
Av. Paulista, 2.073 . Conjunto Nacional Horsa I . Salas 404-406 . Bela Vista
01311-940 . São Paulo . SP
Tel.: (55 11) 3034 4468
www.grupoautentica.com.br
SAC: atendimentoleitor@grupoautentica.com.br
Banhada num arco de luz francesa
Colette

Apaixonei-me por ela antes de ler qualquer um dos seus livros. Aos meus olhos adolescentes, borrados com o delineador preto que eu acreditava me dar um ar niilista e desiludido (afinal, tratava-se da era do punk, e estávamos todos de luto pelo futuro), Colette tinha um tipo de beleza autossuficiente que eu sentia que ela possuía e emprestava ao fotógrafo. Melhor ainda, no que me dizia respeito, vivendo como eu vivia nos subúrbios de Londres, onde todo mundo se parecia e dava até o mesmo nome aos seus cachorros (havia três chamados Spot só na minha rua), Colette era uma escritora que parecia uma estrela de cinema. Eu não me parecia nada com ela. O cachorro dela se chamava Toby-Chien.
Não sei como me deparei com essa fotografia. Sei que era um dezembro gélido em 1973 e o aquecimento central tinha enguiçado na nossa casa.
A campainha tocou, e minha mãe gritou para eu deixar entrar o homem que tinha vindo consertar o aquecimento. Ele remexeu no armário onde ficava o boiler e disse, “Condeno oficialmente este boiler. A lei exige que vocês comprem um novo”. Então piscou para mim e ligou o aquecimento. Os canos da casa começaram a chiar e estalar como um trator velho. Quando por fim voltei para o meu quarto, tive que lutar para passar pela fumaça preta que saía do meu radiador.
Apesar de ser uma imagem muito posada, algo na maneira como Colette havia criado aquele artifício estabelecia um vínculo comigo. Ela era uma escritora profissional que tinha um propósito na vida. Eu percebia de imediato que estava se divertindo com o teatro de inventar a si mesma para retratar esse propósito. Isso era de particular interesse naquela fase da minha vida.
Nasci na África do Sul e cresci na Grã-Bretanha. Quando vi essa foto, aos treze anos, morava na Grã-Bretanha fazia quatro anos, tempo insuficiente para me sentir inglesa. Colette se apresentava de uma forma que agradava à minha ideia adolescente de como uma escritora europeia poderia ser. Glamourosa, séria, intelectual, brincalhona – com um gato malicioso e elegante sentado em sua escrivaninha entre flores, todos eles banhados num arco brilhante de luz francesa.
Quando comecei a ler seus livros, tudo o que havia de transgressor e sensual em sua escrita soprava, nos úmidos jardins suburbanos de Londres, como um vento vindo da Borgonha, de Paris e do sul da França. Seus casos amorosos
com mulheres e seus três casamentos (o primeiro, com um perverso e corrupto bon-vivant que assinava os romances iniciais dela como se fossem seus) significavam que ela estava com um pé dentro e outro fora da vida burguesa de sua época. Ficou artrítica na meia-idade e usava com frequência sandálias masculinas abertas com vestidos elegantes, para a agonia de seu segundo e mais convencional marido. Eu não sabia de nada disso quando vi a fotografia pela primeira vez, mas de alguma forma intuí que ela havia levado uma vida experimental.
Qual o sentido de se ter qualquer outro tipo de vida, pensei comigo mesma. Lá fora, eu podia ouvir um dos cachorros chamado Spot latindo para um gato chamado Snowy. Vinte anos depois, quando li A vagabunda, tive motivos para concordar com sua leve mas astutamente profunda afirmação, “Do amor não quero nada, em suma, além do amor”. Sim, o que mais queremos do amor além do amor? Coisas demais, na verdade.
Marguerite Duras
O objetivo da linguagem para Duras é cravar na página uma catástrofe.
Ela pensa tão profundamente quanto é possível pensar sem morrer de dor. Para Duras, é tudo ou nada. Ela põe tudo na linguagem. Quanto mais põe, menos palavras usa. As palavras podem não ser nada. Nada. Nada. Nada. É o que não fazemos com a linguagem que lhe dá valor, que a torna necessária. A linguagem pobre e empobrecedora é bem-sucedida. Todo escritor sabe disso e faz uma escolha sobre como agir diante desse conhecimento. É difícil, às vezes até absurdo, saber coisas, ainda mais difícil sentir coisas – é o que Duras está sempre nos dizendo. Seus filmes são novelescos – narração em off, monólogo interior –, sua ficção é cinematográfica: ela entende que uma imagem não é um “cenário” e que “deve conter tudo de que o leitor precisa saber”. Duras nunca implora com palavras, mas trabalha muito, e com tranquilidade, para nós. Seu truque é fazer tudo parecer natural.
A literatura europeia traduzida era, no passado, espantosamente difícil de encontrar na Grã-Bretanha. Eu tinha vinte e nove anos quando li pela primeira vez a obra-prima de Marguerite Duras, O amante, de 1984, traduzida do francês por Barbara Bray. Uma revelação e uma confrontação em igual medida, foi como se eu tivesse emergido
abruptamente de um clube do século XIX para cavalheiros, com painéis de carvalho, e vindo parar em algo estimulante, sexy, melancólico, verdadeiro, moderno e feminino. Se sua prosa despojada e sóbria e sua impecável estrutura narrativa eram, de alguma forma, representativas do nouveau roman, amplamente associado a Alain RobbeGrillet, estava claro para mim que sua grande diferença era que Duras não desconfiava da emoção. Para escrever O amante, ela se baseou nos primeiros anos em que viveu em Saigon com sua mãe empobrecida e seus irmãos beligerantes. Estruturado como uma espécie de relato pessoal, é sobre uma adolescente vivendo uma existência colonial peculiar, na Indochina francesa nos anos 1930, com sua família refinada que, no fundo, é uma “família de mendigos”.
Ela decide fazer algo acontecer e começa a usar um chapéu Fedora masculino e sapatos dourados de lamê. Ao fazer isso, de repente se vê “como outra”. É um truque mágico para se separar de sua mãe opressora, e funciona. Um elegante e rico chinês, doze anos mais velho, observa-a no ferry que atravessa o rio Mekong. Quando ele se arrisca a lhe oferecer um cigarro, ela percebe que a mão dele está trêmula. “Há essa diferença de raça, ele não é branco, tem que se sair melhor, é por isso que treme.”
Ela quer que ele fique “menos amedrontado” para que possa fazer com ela “o que em geral faz com as mulheres”, e talvez em troca ele possa de tempos em tempos comprar uma refeição para seus irmãos e sua mãe. Numa das seduções mais devastadoras e brutalmente verdadeiras já escritas, o chinês, que ela descobre ser dono de todas as moradias da classe trabalhadora na colônia, leva-a em sua limusine “fúnebre” até o apartamento dele nos arredores da cidade.
Ela o despe, percebe que o deseja, entra em pânico e diz a ele que nunca deve amá-la. Então chora – pela pobreza de sua mãe e porque com frequência a odeia. O amante não retrata apenas um encontro sexual proibido de paixão e intensidade arrebatadoras; é também um ensaio sobre a memória, a morte, o desejo e sobre como o colonialismo prejudica a todos.
Não estou convencida de que um livro tão incandescente quanto O amante, mais existencial do que feminista, seria publicado hoje. Pelo menos não na Grã-Bretanha. Questões surgiriam. É preciso saber se os personagens são apreciáveis (não exatamente), se é experimental ou comercial (nem uma coisa nem outra), se é um romance ou uma novela. Felizmente para Duras, isso não importava para seus leitores. O livro vendeu um milhão de cópias em quarenta e três idiomas, ganhou o Prêmio Goncourt e foi adaptado para um filme comercial.
Marguerite Duras era uma pensadora audaciosa, uma egomaníaca, um pouco ridícula, na verdade. Acho que ela precisava ser assim. Quando leva sua ousada mas “insignificante” personagem feminina, com seus sapatos de lamê dourado, para os braços de seu milionário chinês, Duras nunca pede desculpas veladas pela forma moral ou psicológica como ela existe no mundo.
Meus lindos creepers
Quando eu tinha dezessete anos e comprei meu primeiro par de creepers na Shellys, uma loja popular de sapatos em Londres, olhei para suas solas grossas de cinco centímetros de borracha preta e soube que nunca os usaria com meias. Sempre esteve muito claro para mim que homens e mulheres que usam sapatos sem meias estão destinados a se tornar meus amigos e amantes. Essas pessoas têm um tipo de abandono no corpo. Andam com energia. Ao mesmo tempo, conseguem parecer tanto casuais quanto entusiasmadas. Não usar meias é estar alerta, mas sem exageros. Não usar meias é não fingir que o amor dura para sempre. Se é que isto pode servir de consolo, as pessoas que usam meias provavelmente são mais ajustadas que seus irmãos e irmãs sem meias. Enfrentam as coisas e sempre trazem consigo um guarda-chuva quando chove. Os sem-meias são sem-deus – assim como os meus creepers, também conhecidos como “sapatos Teddy Boy”. Andar pela rua com meu primeiro par fez com que eu me sentisse como se tivesse uma tatuagem me marcando para uma vida significativa. Comprei muitas versões deles desde então, mas, vinte anos depois, aquele primeiro par ainda está intacto na prateleira superior do meu armário de sapatos. Feito músicos de jazz, eles melhoraram com a idade. Não são exatamente um modelo de bico fino, mas sua lingueta com estampa de onça (em forma de V) ainda
é sedutora, pronta para saltar e rosnar. Colocar meu pé nu dentro desses sapatos era, literalmente, andar nas nuvens. Meus creepers eram beleza e verdade, gênio personificado; pouco importa que fossem rock e bop, isso não era o principal, eles eram a metrópole, uma passagem para fora dos subúrbios.
Meus creepers faziam com que eu me sentisse sexy, séria, frívola, confiante. Usava-os com vestidos pretos justos e colados ao corpo e os usava com jeans. Usava-os com saias-lápis e calças listradas e os usava até para levar o lixo para fora. Há algo no design do creeper que parecia colocar o mundo em perspectiva. Os bicos pretos e pontudos percutiam no ritmo da rebelião; os sapatos que minha mãe jamais teria usado, os sapatos que meu pai jamais teria usado – na verdade, os sapatos que poucas garotas usavam, mas as que usavam eram deslumbrantes. Meu narcisismo foi confirmado quando, uma tarde, fraca de fome, vi-me esperando na plataforma de uma estação em algum lugar num condado sonolento. Quando soube que o trem ia se atrasar onze minutos, corri por cima da ponte (nos meus amados creepers) e fui buscar algo para comer no supermercado local.
Todos eram velhos e, se não eram, pareciam ser. Exceto pela garota do caixa, com seu macacão xadrez, olhando sonhadora para as luzes brancas do teto. Faltam três minutos e o rolo da caixa registradora acaba. Quando ela se levanta para pegar outro, vejo que também está usando creepers. Só que os dela são de camurça azul-elétrico e têm ainda mais ousadia do que os meus. Enquanto corro para pegar meu trem, sei que ela vai sair daquele vilarejo. Seus sapatos são um sinal de que está planejando uma vida em outro lugar.
Como sair da moldura

Ela é estudante de arte e reservou um estúdio por algumas horas. Deve ter estudado o chão, e as paredes, e os cantos das paredes, e onde as janelas estão posicionadas, e como vai fazer a luz funcionar. Tem alguns planos (velocidade de obturador lenta, exposições longas), mas só vai fazer umas experiências. Ela é seu próprio tema, mas está incorporando muitos outros, e um deles é a representação. A representação da forma feminina. Essa imagem não é um autorretrato de Francesca Woodman. Ela está usando seu corpo para entender as coisas.
Olhe para ela. Ali está. Ali, por completo. Está ali por completo, mas sempre tentando se fazer desaparecer – se
tornar vapor, um espectro, uma mancha, um borrão, um tema que é apagado mas ainda assim reconhecível. Ela sabe que sabemos que está ali e, ao construir técnicas para se fazer desaparecer, sabe que se torna maior. Torna-se maior porque estamos à sua procura. A artista, Francesca Woodman, nos deu algo para encontrar. É uma dança, uma teoria, talvez uma teoria lacaniana (la femme n’existe pas), uma ficção, uma provocação, um experimento, uma piada, uma pergunta séria. Francesca Woodman, assim como todas as garotas e mulheres, quer escapar da moldura.
Ela sabe que, ao olharmos para essa imagem, vamos querer encontrar “ela”, mas a “ela” que encontramos é a arte – toda a composição cinética. Sei que ela está dirigindo artisticamente tudo, pensando em como realizar seu truque. Está alerta, flexível, alinhada, equilibrada. Em certo sentido, já viu essa imagem antes de criá-la, ou a viu no ato de fazê-la, e provavelmente sentiu essa imagem desde sempre. Tudo o que precisa fazer é encontrar as técnicas para concretizá-la. Se está se tornando presente ao se tornar ausente, é mais fácil resolver essa equação com a matemática ou a física, mas ela faz isso com a arte.
As botas estão ali para ancorar essa imagem etérea. É tão importante ter firmeza ao sairmos do quadro da feminilidade para algo mais vago, algo mais desfocado. Francesca Woodman, a artista, pode se mover livremente com essas botas, mas elas também a puxam para baixo. A imagem sofreria sem a presença delas. Na verdade, estou usando botas bastante parecidas enquanto escrevo isto. Daqui a uns cinco minutos, vou desligar o computador, trancar a porta do depósito onde escrevo e caminhar até a estação de metrô.
Acredite
Lee Miller nasceu em Poughkeepsie, Nova York, sete anos depois de Freud publicar A interpretação do sonho. Há sempre algo de onírico e enigmático nas fotografias dela quando jovem. Tanto se esconde da câmera quanto se entrega a ela. Quero continuar olhando para Lee Miller porque não tenho certeza do que estou olhando – sua beleza, sua postura, seu chapéu, seu olhar melancólico.
O que ela faria com toda aquela beleza e todo aquele talento? Tornou-se uma modelo de moda para os fotógrafos mais renomados de sua época em Nova York e depois foi estudar arte na Europa. Em Paris, trabalhou com Man Ray, tornou-se sua aluna, amante e modelo, colaborando em muitas imagens extraordinárias pelas quais provavelmente não recebe crédito. Era publicamente muito modesta com relação ao próprio trabalho, mas talvez não se sentisse assim por dentro.
Após deixar Man Ray, ela abriu seu próprio estúdio e passou a conviver com as namoradas dos artistas surrealistas de sua geração. São as fotografias que Lee fez de Nusch Éluard e Ady Fidelin que as resgatam de seus papéis como musas e manequins. Sempre gosto de topar com elas quando olho os arquivos surrealistas. E há também o choque de algumas informações que podem ser encontradas na biografia da própria Lee Miller. Não quero acreditar. Há uma foto de Lee quando criança, usando macacão, com sete ou
oito anos, não muito depois de ter sido estuprada por um “amigo da família”. Ela fita a câmera com uma expressão frágil e entorpecida.
Em 1944, tornou-se correspondente de guerra junto ao exército dos Estados Unidos, seguindo a infantaria estadunidense por uma Europa traumatizada. Foi uma testemunha. Apontou sua câmera para coisas terríveis, para a história humana no tempo presente.
Uma das poucas jornalistas de guerra da época, foi Lee Miller quem fotografou a libertação de Dachau e Buchenwald. Subiu num caminhão e ficou de pé em meio aos corpos para fotografar os prisioneiros emagrecidos e mortos.
As fotografias foram publicadas na Vogue estadunidense com a manchete “Acredite”.
www.grupoautentica.com.br www.twitter.com/grupoautentica www.instagram.com/autentica.contemporanea