pesquisafapesp

Vacina do Butantan contra a dengue chega aos profissionais da saúde
Cientistas e criadores se mobilizam para salvar os jumentos da extinção no país
Novos fósseis revelam variedade de tamanho e de hábitos de pterossauros


Vacina do Butantan contra a dengue chega aos profissionais da saúde
Cientistas e criadores se mobilizam para salvar os jumentos da extinção no país
Novos fósseis revelam variedade de tamanho e de hábitos de pterossauros
Startups brasileiras que buscam atuação internacional enfrentam barreiras culturais, tecnológicas e regulatórias
Embrapa obtém autorização especial para pesquisa com cultivo de cannabis
Com maior visibilidade, arte indígena requer formas alternativas de curadoria
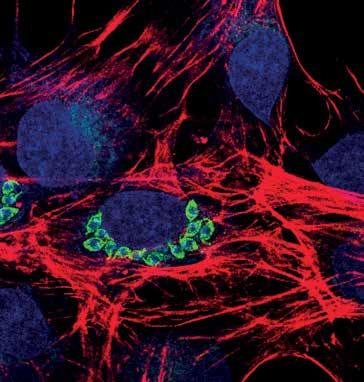

Seu trabalho poderá ser selecionado e publicado na revista. Requisitos: beleza; estar associado a pesquisa; ter boa resolução (300 DPI) revistapesquisa.fapesp.br
Mande para IMAGEMPESQUISA@FAPESP.BR
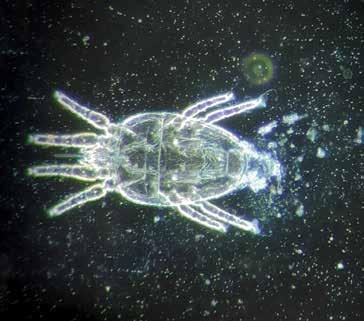
jan 2026 359

CAPA
12 Os desafios das startups brasileiras para conquistar o mercado internacional
19 Deep techs do país obtêm menos financiamento do que as da Argentina e do Chile
ENTREVISTA
22 O físico Amir Caldeira fala de efeitos quânticos em sistemas macroscópicos, tema que rendeu o Nobel de 2025
INDICADORES
28 Atlas britânico compara os sistemas de avaliação da ciência de diversos países
LEGISLAÇÃO
32 Embrapa consegue autorização especial para fazer pesquisas com cannabis
BOAS PRÁTICAS
34 Por que os artigos científicos de mulheres são menos retratados do que os dos homens
DADOS
37 Variações e diferenciais de rendimentos no Brasil e em São Paulo
MUDANÇAS CLIMÁTICAS
38 A busca por melhores chances de sobrevivência de corais branqueados por ondas de calor
ECOLOGIA
44 Perda de hábitat prejudica a disponibilidade de caça na Amazônia
ZOOTECNIA
46 Pesquisadores e produtores tentam evitar a extinção de jumentos no Brasil
PALEONTOLOGIA
51 Fósseis estudados em 2025 revelam pterossauros variados vivendo em ambientes distintos
ASTROFÍSICA
56 Formação de anéis ao redor de asteroide é observada quase em tempo real
IMUNOLOGIA
60 Vacina do Butantan contra a dengue chega aos profissionais da atenção primária à saúde
Jumento no interior de São Paulo: múltiplas funções desde o começo da colonização (ZOOTECNIA, P. 46)

SAÚDE PÚBLICA
64 Imunizante contra HPV reduz em 58% os casos de câncer de colo do útero
ROBÓTICA
68 Drones submersíveis são usados para monitorar os oceanos
AMBIENTE
72 Exploração de lítio amplia contaminação de solo e água em Minas Gerais
HISTÓRIA
74 Qual foi o impacto da troca de conhecimento entre o Brasil e outros países na educação
ENTREVISTA
80 Luís Augusto Fischer fala da coleção que propõe nova leitura da produção literária gaúcha
ARTES VISUAIS
84 Aumento da visibilidade das obras de artistas indígenas leva a outros formatos de curadoria
MEMÓRIA
89 Museu de Petrópolis restaura e expõe as cadernetas de viagem de dom Pedro II

Esboços das ilustrações, em forma de história em quadrinhos, para reportagem sobre as viagens do imperador (MEMÓRIA, P. 89)
OBITUÁRIO
92 Sergio Miceli (1945-2025)
ITINERÁRIOS DE PESQUISA
94 Cristina Ayoub Riche ajuda a desenvolver e consolidar ouvidorias
RESENHA
96 Cesar Lattes – Uma vida: Visões do infinito, de Marta Góes e Tato Coutinho. Por Climério Silva Neto
97 COMENTÁRIOS
98 FOTOLAB



VÍDEOS
CONHEÇA A TERAPIA COM CÉLULAS CAR-T PARA TRATAR CÂNCER
Hemocentro da USP em Ribeirão Preto usa linfócitos reprogramados em laboratório para combater leucemia e linfoma

CIÊNCIA EM IMAGENS:
RETROSPECTIVA 2025 Pesquisa FAPESP lançou cerca de 80 vídeos e alcançou mais de 2 milhões de visualizações nas redes sociais. Relembre os destaques

PODCAST O REPERTÓRIO
CULTURAL DOS ANIMAIS
A diversidade de comportamento que certas espécies aprendem e transmitem socialmente e a importância de conservá-la. E mais: produção científica; gestão de árvores; impacto emocional
Este conteúdo está disponível em acesso aberto no site www.revistapesquisa.fapesp.br, que contém, além de edições anteriores, versões em inglês e espanhol e material exclusivo


País de dimensão continental, o Brasil oferece desafios para motivar o desenvolvimento de inúmeras tecnologias inovadoras e um mercado interno com magnitude para absorver muitos projetos. Estima-se que haja 20 mil startups no país, que são entendidas como iniciativas de base tecnológica, em geral de pequeno porte, que se dedicam a soluções com potencial econômico e social. Uma parcela dessas companhias procura ir além, buscando mercados externos por meio de exportações, parcerias ou mesmo se estabelecendo fisicamente em outros países.
Existem várias limitações a essa internacionalização, entre as quais o acesso a recursos financeiros. Levantamento recente de um recorte específico dessas empresas, as deep techs, na América Latina, mostra que 72% delas estão concentradas no Brasil. As três nacionais que mais captaram recursos privados em 2024 foram a brain4care, de monitoramento de pressão intracraniana, a growPack, de embalagens sustentáveis, e a Symbiomics, voltada a bioinsumos para a agricultura (tema da edição de dezembro de Pesquisa FAPESP).
A reportagem de capa mostra obstáculos enfrentados pelos empreendedores que procuram se internacionalizar, iniciativas institucionais de apoio e casos bem-sucedidos de estabelecimento no exterior ( página 12).
É fácil se interessar pelos pterossauros, esses répteis voadores parentes dos dinossauros e ancestrais das aves, extintos há mais de 60 milhões de anos. Estudá-los é desafiador, em parte porque seus ossos ocos e finos, aptos para o voo, são frágeis. Mas o ano de 2025 foi fértil para esses paleontólogos, conta nosso colaborador Enrico Di Gregório. Pesquisas recentes incluem uma espécie com arcada de 500 dentes, parecida com

um pente-fino, e envolvem até mesmo um tipo de fóssil chamado regurgitólito, isto é, vômito petrificado ( página 51).
Talvez seja antiquado, mas esmero é o termo que vem à mente quando falamos da apresentação gráfica desta revista. O cuidado com que a equipe aborda cada pauta, identificando a linguagem correta para ilustrar e complementar a reportagem, é um trabalho de investigação e criatividade. Fotos são produzidas ou pesquisadas em bancos de imagens, ilustrações são encomendadas, infográficos são desenvolvidos. Para acompanhar a seção Memória desta edição, sobre os diários do imperador dom Pedro II, a proposta foi adaptar alguns desses registros para o formato de história em quadrinhos. Para executar essa tarefa, contamos com o talento do nosso infografista residente, Alexandre Affonso, que montou um storyboard no papel antes de executar a proposta no formato digital. Esboços ilustram este editorial e o resultado pode ser conferido na página 89. A entrevista do físico Amir Caldeira, da Unicamp, poderia ser intitulada “Tudo que você sempre quis saber sobre mecânica quântica, mas nunca teve coragem de perguntar” ( página 22). Essa área do conhecimento, bastante contraintuitiva, é tão fascinante quanto difícil de entender. Mas as perguntas feitas por Marcos Pivetta, editor de Ciências Exatas, e as respostas claras do pesquisador permitem que até os menos familiarizados terminem a leitura com uma compreensão desse universo. A conversa ocorreu em setembro passado, logo após a aposentadoria de Caldeira, e pouco antes do anúncio do Nobel de Física de 2025 para três físicos experimentais que mediram empiricamente um fenômeno previsto pelo brasileiro e seu orientador em um artigo científico de 1981.

Magnífico-pássaro-rifle: estrutura das penas imitada em tecido

Engenheiros da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, tingiram um tecido de malha branca de lã merino (feita com ovelhas da raça merino) com um polímero sintético de melanina chamado polidopamina. Em seguida, colocaram o material em uma câmara de plasma e gravaram estruturas minúsculas nas fibras que capturam a luz. E assim criaram o tecido mais preto já registrado, que absorve 99,87% de toda a luz que incidir sobre ele – há outros materiais que absorvem até 99,995% da luz que os atinge, mas são feitos de nanotubos de carbono. “A luz basicamente ricocheteia entre as fibrilas, em vez de ser refletida de volta – é isso que cria o efeito ultranegro”, disse o designer Hansadi Jayamaha, da Cornell, em um comunicado da universidade. A inspiração veio de um pássaro da Nova Guiné e Austrália, o magnífico-pássaro-rifle (Ptiloris magnificus). As penas do peito dos machos dessa espécie são azul-esverdeadas iridescentes, contrastando com as ultranegras de outras partes do corpo. Vespas e outros insetos também têm estruturas que absorvem até 99,5% da luz (ver Pesquisa FAPESP no 349; Nature Communications, 26 de novembro).
Municípios com menos de 25 mil habitantes e índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) mais baixo pagam mais por medicamentos essenciais fornecidos à população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) –principalmente se estiverem nas regiões Norte e Nordeste.
A pesquisa, coordenada pela farmacêutica Silvana Nair Leite, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), levou em conta as compras feitas em 2016, 2018 e 2020 (respectivamente, 2.440, 2.866 e 3.815), por municípios do país todo, de fármacos mais usados para doenças como hipertensão arterial, diabetes mellitus e hipercolesterolemia. Os preços afetam a capacidade de compra e, portanto, a disponibilidade para os cidadãos. De acordo com o artigo, os resultados indicam a necessidade de se pensar políticas de compra mais eficazes, como aumentos de escala que permitam maior capacidade de negociação. Um exemplo citado é a região do Cariri, no Ceará, onde aquisições por consórcios obtiveram preços menores (Revista de Saúde Pública, 8 de dezembro).

Pintura de Leandro Joaquim (1785) mostra pesca de baleias na baía de Guanabara
3
Relatos de 1560, como os do jesuíta espanhol José de Anchieta (1534-1597), indicam que as baleias eram abundantes na costa da Bahia. No século XVII, foram consideradas propriedades da Coroa portuguesa e caçadas intensamente até meados do século XVIII. A caça diminuiu gradativamente até ser proibida, em 1986. Em razão da exploração intensa e contínua, diminuíram também na costa brasileira a quantidade, além do tamanho corporal, de mamíferos marinhos como peixes-boi e peixes ósseos de grande porte, de acordo com as análises das biólogas Carine Fogliarini e Mariana Bender, da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. As pesquisadoras examinaram 105 documentos (relatos de naturalistas, relatórios, obras de arte e diários), preservados em bibliotecas no Rio de Janeiro e Recife, com 255 registros históricos de 1500 a 1950. Nesse período, o tamanho corporal médio de 27 espécies de peixes passou de 56 centímetros (cm) para 40 cm. O pirapema (Megalops atlanticus) e a cobia (Rachycentron canadum) que caem nas redes dos pescadores sofreram as maiores reduções, indo, respectivamente, de 3,6 m de comprimento para o atual 1,3 m e de 3 m para 1 m (Ocean & Coastal Management, janeiro).
Na indústria láctea, a bactéria Lactococcus lactis é empregada na produção de queijos e leitelho, um líquido esbranquiçado obtido como subproduto da manteiga. Além disso, é usada como probiótico, por modular a microbiota intestinal e regular a resposta do sistema imunológico. Manipuladas geneticamente em laboratório, essas bactérias também podem ajudar a combater doenças autoimunes, como o diabetes tipo 1, no qual células de defesa atacam e destroem as células produtoras de insulina do pâncreas. Em laboratório, o imunologista Jefferson Elias-Oliveira, durante doutorado orientado por Daniela Carlos, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), inseriu o gene HSP65 em exemplares de L. lactis e verificou que as bactérias recombinantes estimulavam as células de defesa a amadurecerem sem autoagredir o organismo. Camundongos tratados apresentaram menos hiperglicemia e menor incidência da doença em comparação com o grupo diabético que não recebeu o probiótico (Cellular and Molecular Life Sciences, 2 de dezembro).
4
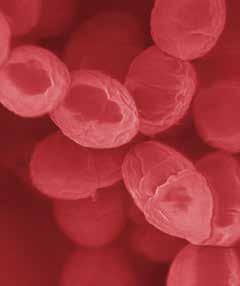
Bactérias Lactococcus lactis, vistas ao microscópio
O Brasil dispõe de uma nova ferramenta para enfrentar os desafios climáticos. Em meados de dezembro, começou a operar no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em Cachoeira Paulista (SP), um novo supercomputador, batizado de Jaci. O sistema de alto desempenho, fruto de um investimento de R$ 30 milhões, ampliará a capacidade brasileira de fazer previsões meteorológicas de forma mais rápida, detalhada e precisa.
O equipamento também será utilizado para aperfeiçoar a modelagem climática e fortalecer o monitoramento ambiental, incluindo alertas de desastres. “É o sistema de previsão do tempo e do clima mais avançado já instalado no Brasil”, declarou Luciana Santos, titular do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), durante a cerimônia de inauguração. O novo sistema, que irá substituir o computador Tupã, adquirido em 2010, é o primeiro marco do projeto Renovação da Infraestrutura de Supercomputação (Rise), que prevê a modernização do centro de dados científicos do Inpe até 2028 (MCTI, 11 de dezembro).
Ao decifrar inscrições hieroglíficas em rochas centenárias, pesquisadores dos Estados Unidos e do México identificaram o nome de uma rainha maia desconhecida: Ix Ch’ak Ch’een. Ela governou Cobá, que significa cidade das águas agitadas, na península de Yucatán, no México, no século VI. Em 2024, arqueólogos do Instituto Nacional de Antropologia e História do México (Inah) descobriram um extenso texto hieroglífico esculpido em uma escadaria de pedra em Cobá. A erosão dificultou a tradução dos 123 painéis de hieróglifos, mas descobertas adicionais, incluindo 23 estelas – pilares de pedra –, forneceram pistas para interpretar os textos. Os especialistas em textos maias antigos David Stuart, da Universidade do Texas em Austin, Estados Unidos, e Octavio Esparza Olguín, da Universidade Nacional Autônoma do México, compararam um painel da rocha da fundação de Cobá com duas estelas do sítio arqueológico e perceberam que se referiam à mesma pessoa. Ela pode ter sido uma rainha particularmente poderosa, já que os pesquisadores a associaram a Testigo Cielo, um governante do reino Kaan. Governantes mulheres eram raras entre os maias (Inah, 20 de outubro; Live Science, 24 de outubro).

do supercomputador

Casos de envenenamento por metanol têm ocorrido em todo o mundo. Equipes do hospital universitário de Oslo, na Noruega, e da organização não governamental Médicos Sem Fronteiras (MSF) documentaram casos suspeitos em 185 países. Madagascar abre a lista, com 200 mortes, em 1998. Os primeiros casos do Brasil apareceram no ano seguinte, com 450 pessoas atingidas, das quais 35 morreram, na Bahia. Até novembro de 2025, o levantamento registrou 36.943 pessoas intoxicadas e 14.323 mortes causadas por metanol no mundo; no Brasil, foram 62 casos e 16 mortes nesse ano. “É um problema enorme e está sendo esquecido”, enfatizou ao jornal britânico The Guardian o médico Erik Hovda, da Universidade de Oslo. “Simplesmente desaparece e ressurge em outro lugar, quando as pessoas baixam a guarda.” Surtos recentes foram associados ao metanol adicionado a garrafas lacradas, permitindo que a bebida adulterada chegue ao mercado. A toxicidade do metanol pode causar danos cerebrais, cegueira e morte em poucos dias (The Guardian, 29 de novembro; MSF).
O triunfo da morte, de Pieter Bruegel, retrata uma pandemia no século XVI

A partir de indícios nos anéis de crescimento das árvores, dados climáticos e registros históricos, pesquisadores de centros europeus concluíram que erupções vulcânicas desencadearam uma série de eventos que trouxeram a peste negra, a pandemia de peste bubônica ocorrida na Europa de 1346 a 1353 que causou a morte estimada de 50 milhões de pessoas. As erupções liberaram cinzas e gases que fizeram as temperaturas caírem por anos seguidos. Anéis de crescimento de árvores nos Pirineus registraram verões excepcionalmente frios e úmidos entre 1345 e 1347. Por sua vez, o frio incomum causou a quebra de safras em toda a região do Mediterrâneo e forçou as repúblicas marítimas italianas de Veneza, Gênova e Pisa a importar grãos dos mongóis da Horda Dourada, na região do mar de Azov, em 1347. Com os alimentos, os navios levaram pulgas infectadas com a bactéria Yersinia pestis, causadora da pandemia, que se espalhou por grande parte da Europa. Milão e Roma eram autossuficientes e, aparentemente por isso, não precisaram importar grãos e foram poupadas da primeira onda da epidemia (Communications Earth & Environment, 4 de dezembro).
Um tinteiro de bronze do século I, com resíduos de tinta, foi escavado nas ruínas de Conímbriga, cidade do Império Romano a 20 minutos do centro de Coimbra, em Portugal. A idade do instrumento coincide com a construção de uma muralha, indicando que seu dono poderia ser um arquiteto ou engenheiro envolvido no projeto. Uma análise minuciosa da tinta revelou uma mistura de carbono amorfo (presente no carvão), cera de abelha (como ligante) e gordura animal, que ajuda a fixar no papiro a mistura com tinta ferrogálica, que só se popularizou na Europa
três séculos depois. Já o tinteiro é feito de uma liga composta por cobre, estanho e chumbo. “Encontrada no extremo ocidental do Império, a peça revela a extensão das redes comerciais e culturais que levavam objetos sofisticados, e provavelmente seus usuários, até as províncias”, ressalta o historiador português César de Oliveira, da Universidade de Évora, a Pesquisa FAPESP Não foram encontrados vestígios de canetas, geralmente feitas de cana afiada ou penas de ave ( Archaeological and Anthropological Sciences, 4 de novembro).

Pesquisadores da Universidade de Jiangnan, na China, criaram uma cepa (variedade) aprimorada do fungo Fusarium venenatum usando a técnica Crispr de edição genética. Uma de suas cepas já é usada comercialmente para a produção de uma micoproteína aprovada para consumo alimentar na China, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Sua aparência e gosto se assemelham aos da carne, mas as paredes celulares espessas dificultam a digestão. Para resolver esse problema, os pesquisadores removeram dois genes associados às enzimas quitina sintase e piruvato descarboxilase. Isso tornou a parede celular do fungo mais fina, facilitando a digestão e aumentando o teor proteico, e ajudou a ajustar o metabolismo do fungo, de modo que ele necessitasse de menos nutrientes para produzir proteína. Já produzida em reatores de 5 mil litros, a nova variedade, chamada FCPD, consome 44% menos açúcar para produzir a mesma quantidade de proteína e emite até 60% menos gases de efeito estufa que as variedades não modificadas. “Alimentos geneticamente modificados como esse podem atender à crescente demanda por alimentos sem os custos ambientais da agricultura convencional”, comentou Xiao Liu, da Universidade de Jiangnan, em um comunicado (Trends in Biotechnology, 19 de novembro).

Parece frango: produto à base de micoproteína está no mercado
Torna-se pública a visita virtual de dois dos quatro prédios do complexo que durante a ditadura militar (1964-1985) abrigou o Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi), em São Paulo. Em ambientes virtuais, o visitante pode ver fotos, textos, documentos e fragmentos de testemunhos de pessoas que estiveram presas no local durante o período. Disponível para acesso em memorialdoicodi.unifesp.br, o recurso é resultado da pesquisa de pós-doutorado da historiadora Deborah Neves no campus de Guarulhos da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). “Vejo o Memorial Virtual do DOI-Codi/SP como um passo fundamental de difusão pública das pesquisas arqueológicas e históricas conduzidas ao longo dos últimos anos”, avalia a arqueóloga Claudia Plens, supervisora do trabalho, que também envolveu pesquisadores das universidades Federal de Minas Gerais (UFMG) e Estadual de Campinas (Unicamp). Para Plens, o instrumento permite conscientizar o público sobre o que aconteceu no local e avançar no debate sobre a instalação de um memorial físico. “A visita virtual pode ser incorporada a projetos pedagógicos, especialmente em disciplinas ligadas a história, arqueologia e direitos humanos.”
Um estudo confirmou em microescala o que mostram os modelos sobre o efeito climático do desmatamento em grandes regiões de floresta. Pesquisadores brasileiros, norte-americanos e britânicos usaram imagens de satélite para esquadrinhar a Amazônia, dividindo o bioma em 204 quadrados com 55 quilômetros (km) de diâmetro, e calcularam a proporção de mata em cada um deles. Comparando o clima de regiões desmatadas, com cobertura florestal inferior a 60%, com as mais preservadas, com 80% ou mais de vegetação, eles constataram que a perda de árvores contribuiu para aumentar a temperatura do solo, diminuir a transpiração das plantas e a frequência das chuvas. “Esse clima afasta as espécies vegetais mais sensíveis da floresta úmida, favorecendo as gramíneas exóticas e outras espécies resistentes ao clima mais seco”, observa o especialista em sensoriamento remoto Marcus Silveira, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O estudo indica que as regiões desmatadas no estado de Rondônia, no sudeste do Pará e no norte de Mato Grosso são as mais afetadas (Communications Earth & Environment, 21 de novembro).

Usando dados observacionais, pesquisadores britânicos e sul-africanos se surpreenderam ao identificar, a cerca de 140 milhões de anos-luz da Terra, um conjunto de 14 galáxias jovens girando no mesmo sentido. Enfileiradas como um longo fio de contas de 5,5 milhões de anos-luz de extensão, elas estavam aninhadas em uma estrutura tubular conhecida como filamento cósmico, que girava junto com elas. O arranjo é semelhante ao brinquedo das xícaras malucas nos parques de diversão. “Cada xícara que rodopia corresponde a uma galáxia, enquanto a plataforma rotatória – o filamento cósmico – segue no mesmo sentido”, comparou a física Lyla Jung, da Universidade de Oxford, em entrevista ao site da American Association for the Advancement of Science (AAAS). Um dos telescópios mais poderosos do mundo, o MeerKAT, na África do Sul, entre outros equipamentos, permitiu detectar altas concentrações de hidrogênio, gás que se acumula no início da formação das galáxias. Esses jovens conjuntos de estrelas foram preservados nos estágios iniciais de sua evolução (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 4 de dezembro).

Já viu torcedores se xingarem e até partirem para a briga física? Um grupo liderado pelo biólogo chileno Francisco Zamorano, da Faculdade de Ciências para o Cuidado da Saúde da Universidade San Sebastián, em Santiago, no Chile, analisou a atividade cerebral associada a esse comportamento aparentemente irracional. O estudo avaliou 60 homens com idades entre 20 e 45 anos em um aparelho de ressonância magnética funcional enquanto assistiam a uma sequência de 63 gols de jogos envolvendo o time para o qual torciam, um rival ou um time neutro. Os pesquisadores olharam para “inclinação à violência” e “sentido de pertencimento”, dois entre 13 itens de uma escala que mede o fanatismo de torcedores. Os resultados mostraram que a atividade cerebral mudava quando o time do voluntário se saía bem ou mal, sobretudo quando a rivalidade era maior. “Em vitórias

contra rivais, que chamamos de significativas, o circuito de recompensa do cérebro é amplificado em relação a vitórias contra não rivais, enquanto na derrota significativa o córtex anterior cingulado dorsal mostra uma supressão paradoxal de sinais de controle”, relatou o pesquisador ao portal EurekAlert Isso significa que os torcedores perdem as estribeiras, mesmo que tentem conter os ânimos (Radiology, 11 de novembro).
Torcedores do Boca Juniors em clássico argentino: paixão por futebol afeta atividade cerebral

Startups do país despertam para novos mercados e se defrontam com desafios tecnológicos, culturais e de financiamento
YURI VASCONCELOS, de Aveiro (Portugal),
CARLOS FIORAVANTI, de São Paulo ilustrações VERIDIANA SCARPELLI
Uma das mais charmosas cidades da região central de Portugal, Aveiro, conhecida como a “Veneza portuguesa” por causa de seus canais e embarcações que se assemelham às gôndolas do Vêneto, busca se firmar como a porta de entrada de empresas e startups brasileiras de base tecnológica que almejam o mercado europeu. O município litorâneo com pouco mais de 80 mil habitantes, a 250 quilômetros (km) de Lisboa, abriga desde outubro de 2023 o hub de internacionalização Cais do Porto. Instalado em um casarão centenário de três pisos do centro histórico, é uma extensão do Porto Digital, um dos principais polos de inovação digital do Brasil, localizado no Recife. Com suporte financeiro do governo de Pernambuco, o Cais do Porto abriga 10 startups de diferentes setores, da saúde à cybersegurança, e pretende chegar a 100 em quatro anos. “Ao criar esse espaço, nosso objetivo foi atender a uma expectativa de empresas apoiadas pelo Porto Digital de explorar outros mercados, além do brasileiro”, contou Marcela Valença, diretora de Operações da unidade em Aveiro, à reportagem de Pesquisa FAPESP durante visita ao Cais do Porto, em outubro. “Algumas delas já tinham ido para fora do país, mas não tiveram êxito por conta de bar-
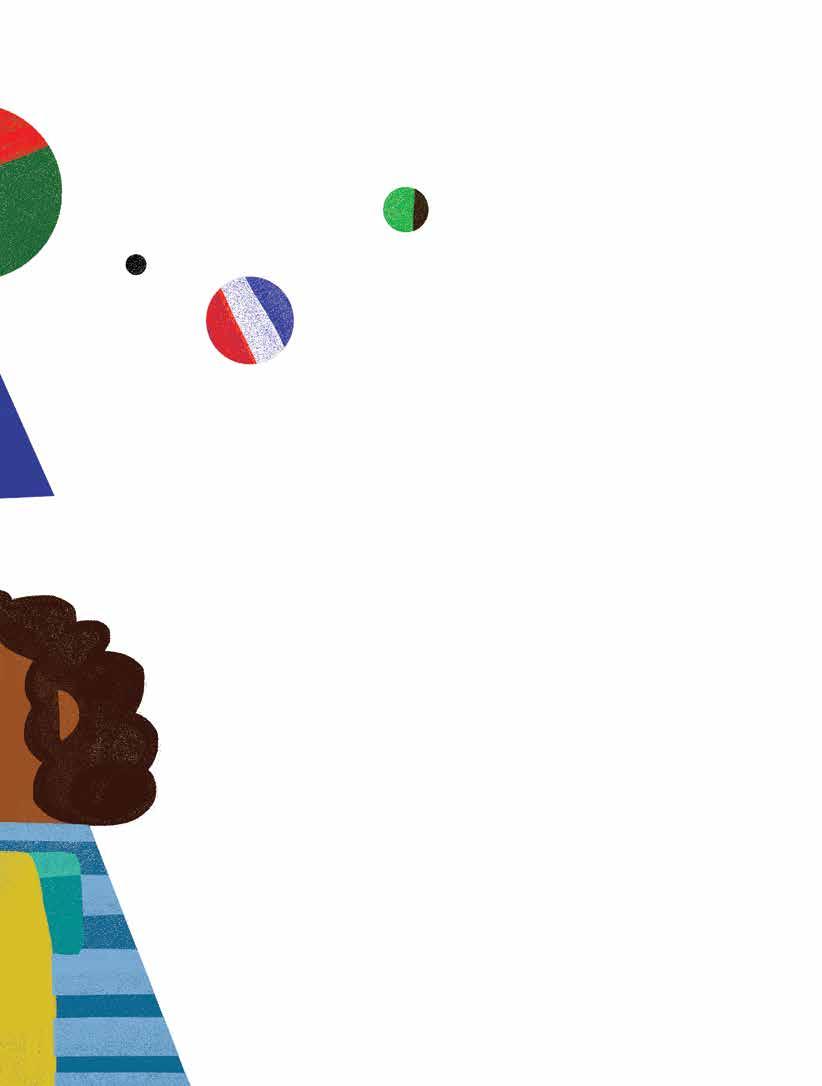
reiras fiscais, regulatórias, contábeis e culturais. Por isso, decidimos ajudar esses empreendedores a internacionalizar seus negócios, oferecendo a eles o suporte necessário para dar esse passo.”
Estimadas pelo Observatório Sebrae Startups em cerca de 20 mil no Brasil, 25 delas classificadas como unicórnios, quando seu valor de mercado ultrapassa US$ 1 bilhão, as startups são empresas geralmente de pequeno porte que desenvolvem tecnologias inovadoras e encaram um ambiente de grande incerteza. A internacionalização consiste na conquista de mercados globais, por meio de exportações, de parcerias ou do estabelecimento físico em outros países.
A escolha pela cidade, explica Valença, se deu porque Aveiro está integrada a redes de inovação e pesquisa de ponta. “O Cais do Porto é parceiro de uma instituição de ensino superior de alto nível, a Universidade de Aveiro, e de alguns parques tecnológicos”, diz ela.
O empreendedor mineiro Renato Fernandes, da Uaify, uma agência de marketing digital de Belo Horizonte, foi um dos primeiros a receber o suporte do hub. “Interessei-me em vir para cá no final de 2022 ao participar da missão pioneira do Porto Digital em Aveiro”, recorda-se. “Já tinha o desejo de levar meu negócio para fora do Brasil. Na volta, conversei com a família e decidi arriscar. Sabia
Algumas recomendações de empresários que já apostaram em outros países e de pesquisadores que analisaram essas experiências
Para não perder tempo e dinheiro, analise o potencial de negócios e a concorrência no país em que deseja vender
Aproveite as críticas dos clientes para melhorar seu produto
Conheça a história, a cultura e as regras de negócios do país para onde deseja vender. A escolha da cidade para se instalar exige uma cuidadosa análise de custos e de clientes a serem conquistados
que seria desafiador, mas também vim com a ideia de que quem chega primeiro bebe água limpa.”
Levou pouco mais de um ano para a Uaify se estabelecer no Cais do Porto. Uma das maiores dificuldades, diz Fernandes, foi ganhar a confiança local. Hoje, a startup tem quatro clientes, entre eles a Associação Industrial Portuguesa, a maior desse segmento no país. “Nosso faturamento já paga a operação em Portugal, mas 90% da receita ainda é gerada pelo escritório do Brasil.”
No início de novembro, diretores de 10 startups paulistas, que se propõem a resolver problemas globais nas áreas de saúde, educação e ambiente, estiveram no Web Summit Lisboa em busca de clientes ou parceiros internacionais. Foi a segunda missão do SP Global Tech, programa criado em 2025 pela Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade (InvestSP) e pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) para ajudar startups paulistas a acessar o mercado internacional. Antes de viajar, os empresários selecionados participaram de um curso e de conversas individuais sobre como se apresentar e o que mostrar para atrair compradores ou parceiros de outros países.
Antes de começar a busca por clientes, adapte o produto às exigências dos órgãos regulatórios de cada país. Obter as certificações é um processo caro e demorado, que normalmente necessita de consultoria especializada. As aprovações são indispensáveis para concluir as vendas.
As normas contábeis e trabalhistas também são diferentes em cada país
Conte com a ajuda de órgãos públicos federais ou estaduais que apoiam planos de internacionalização.
Em alguns lugares, como Estados Unidos e Reino Unido, os governos central e locais oferecem vantagens fiscais e financiamentos diretos para novas empresas
Tenha paciência. Pode demorar um ou dois anos para que as operações internacionais sejam rentáveis, exceto quando se trata de vendas diretas para outra empresa
A primeira experiência internacional foi na London Tech Week, na Inglaterra, em junho. “Os 10 participantes contaram que estão em contato com potenciais clientes, a partir de interações feitas na feira”, relata o designer Lucas Sizervinsk, responsável pelo programa. “Entender o investidor e o cliente é um processo lento.”
Às vezes, todo esforço pode ser em vão. O cientista de dados Hugo Pinto, da Sentimonitor, plataforma criada em 2008 em Porto Alegre que faz monitoramento de redes sociais, reconhece que subestimou o tempo e o capital necessários para conquistar espaço em outros países: “É difícil se estabelecer em um mercado em menos de dois anos”. Na França, ele insistiu durante 13 meses até desistir, com prejuízo, e voltar a se concentrar no mercado brasileiro antes de pensar em ganhar outros países.
“Quem faz uma aposta internacional de forma consciente, deveria saber que é empreendimento de risco”, comenta o administrador de empresas Felipe Borini, da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (FEA-USP). Ele e a economista Fernanda Cahen, da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), também de São Paulo, pesquisam essa área há cerca de 10 anos, por meio de entrevistas com empresários e especialistas da
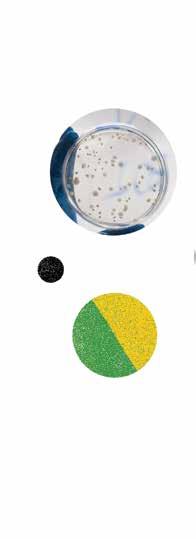
Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).
Borini e Cahen analisaram a trajetória de cerca de 300 startups brasileiras do setor digital com atuação no exterior, por meio de vendas ou parceiros internacionais, e verificaram que apenas uma em cada três conseguiu se fixar em outros países com a instalação de um escritório comercial. São raros casos como o do Nubank, fundado em 2013 na capital paulista, que estreou na Bolsa de Valores de Nova York em 2021, e o do Ebanx, que começou em 2012 em Curitiba e hoje atua em 29 países, gerenciando pagamentos por mais de 100 métodos distintos.
Planejamento e gestão ajudam a reduzir o risco de falhas, enfatiza o sociólogo Diego Coelho, da Fundação Instituto de Administração (FIA), ligada à USP (ver quadro na página ao lado). “Rodando o Brasil como consultor para agências federais e estaduais, encontrei empresas que conseguiram vender roupas ou macarrão de arroz para a China, porque se planejaram e tinham produtos competitivos”, conta. Coelho tem ouvido também muitos relatos de fracasso. “Os donos de startups que falham em vender em outros países dizem que o mercado não estava preparado ou o cliente não entendeu o que ofereciam”, observa. “Mas, se uma startup falha, em muitos casos é porque não alinhou a estratégia, o planejamento e a gestão do negócio. Não adianta buscar clientes se o produto ou o serviço não está pronto ou adequado aos novos mercados.”
Alguns negócios já nascem olhando para além das fronteiras nacionais. “Desde quando criamos a empresa, em 2005, já pensávamos em produzir para o mercado internacional”, conta o engenheiro eletrônico Wataru Ueda, sócio-fundador da Magnamed, fabricante paulista de aparelhos de ventilação mecânica para unidades de terapia intensiva (ver Pesquisa FAPESP n os 259 e 319). Dois anos depois, a empresa, apoiada pelo programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe) da FAPESP, passou a expor em feiras em outros países, fechou acordos de distribuição e começou a exportar. A operação nos Estados Unidos, maior mercado de aparelhos médicos, teve início em 2017, com um escritório de vendas, mas as exportações pararam durante a pandemia de Covid-19. Em 2022, Ueda recomeçou a elaboração do pedido de certificação da FDA, a agência norte-americana de medicamentos e alimentos.
Em 2023, obtida a liberação da FDA, concluiu que era o momento de iniciar a produção diretamente nos Estados Unidos. Claudio Bacelar, um administrador de empresas brasileiro radicado lá, cuidou da instalação e do funcionamento da nova unidade em Fort Lauderdale, na Flórida.
As tarifas alfandegárias a produtos brasileiros impostas em 2025 pelo presidente norte-americano Donald Trump, que começaram a ser derrubadas parcialmente no final de novembro, adiaram os planos. Mesmo com custos mais altos, Ueda está exportando partes dos equipamentos para serem montados lá. “Montar uma unidade de produção em outro país é como começar tudo outra vez”, observa.
Também do setor de saúde, a brain4care desenvolveu, com apoio do Pipe, uma tecnologia pioneira não invasiva para monitoramento da pressão intra-

craniana. Quatro anos depois de lançar o primeiro protótipo da inovação no Brasil, a startup obteve em 2021 o aval da FDA para comercializá-la no mercado norte-americano. A internacionalização, segundo executivos da empresa, sempre fez parte da estratégia da startup, que hoje conta com um escritório em Atlanta, nos Estados Unidos.
Em um esforço para ajudar empresas auxiliadas pelo programa Pipe a expandirem sua atuação para o exterior, a FAPESP promove missões empresariais em outros países. Nos últimos dois anos, dezenas de pequenas empresas participaram na França, Alemanha, Espanha, China, Itália, entre outros países, do simpósio internacional FAPESP Week, criado para fortalecer a cooperação científica no exterior. “É uma oportunidade para criar conexões com ambientes de inovação internacionais e estabelecer negócios fora do Brasil”, ressalta Liliam Sanchez Carrete, do Departamento de Administração da FEA-USP e gestora da área de Ambientes de Inovação da FAPESP. Assim como Ueda, o cientista de dados Hugo Pinto, da Sentimonitor, teve de recuar antes de avançar novamente com sua empresa. Nos primeiros anos, ele coletava e filtrava informações para companhias norte-americanas e europeias. Com a oscilação da demanda e a constante perda de funcionários, decidiu criar algo na área de monitoramento de fontes abertas de informação on-line.
Em 2020, depois de encontrar uma oportunidade para o desenvolvimento de tecnologias capazes de interpretar movimentos musculares faciais e relacioná-los a estados mentais, Vitor Calvi, fundador da Dyagnosys, iniciou uma colaboração com equipes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e do Centro Universitário Vértice (Univértix), também de Minas Gerais. Em 2024, ele formalizou outras parcerias, com a Universidade de Genebra e uma empresa da Suíça, por meio da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e da ApexBrasil.
O programa, que tomou forma aos poucos, identifica níveis de ansiedade em uma escala de zero
é essencial para obter êxito

a 24, a partir da análise da expressão facial, do tom de voz e das respostas a um questionário adaptado dos usados por psiquiatras. “Quem faz o teste não vê o resultado, avaliado apenas pelas equipes médicas e de recursos humanos”, explica. A tecnologia deverá em breve ser aplicada em funcionários de uma plataforma de exploração de petróleo do litoral brasileiro.
Por sua vez, a engenheira têxtil Renata Bonaldi, cofundadora da SleepUp, apoiada pelo programa Pipe-FAPESP, trabalha com pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e da Universidade de São Paulo (USP) para aprimorar o uso de seus produtos. Trata-se de um aplicativo para
monitoramento de sono; uma faixa de cabeça, que funciona como um eletroencefalograma portátil; e um anel oxímetro, que mede os níveis de oxigênio do sangue.
Bonaldi e sua irmã gêmea, Paula, criaram a empresa e em 2020 começaram a receber apoio financeiro de instituições públicas, como a FAPESP, e de investidores privados. Em janeiro, Renata pretende se mudar para Londres, onde já havia criado um endereço fiscal e obtido apoio de órgãos governamentais. “Precisamos estar vinculados a ecossistemas globais de inovação para conseguir investimentos, recrutar novos talentos e manter o ritmo de crescimento prometido a nossos investidores”, diz a engenheira.

Conseguiu sócios, concluiu o protótipo do programa e em 2012 chegaram os primeiros clientes.
“Pensei em já começar com uma visão internacional e um programa em três línguas, português, inglês e espanhol”, ele conta, em seguida reconhecendo: “Foi um erro. É demorado chegar a um produto perfeitamente adequado às exigências dos clientes e descobrir como chegar a eles”. Em 2019, concentrou-se em grandes companhias, prefeituras e outros órgãos de governo, por meio de licenciamento do programa, em vez de atender a todo tipo de empresas e usuários individuais. Em maio de 2024, Pinto se mudou para Valência, na Espanha, para conquistar novos clientes, por meio de parcerias com empresas locais.
Os empreendedores não olham para fora do Brasil apenas para vender mais e atender a clientes internacionais. Muitas vezes, querem atender também a desejos pessoais. Em Vitória, no Espírito Santo, o analista de sistemas Vitor Calvi criou várias empresas de tecnologia até que um dia resolveu mudar de vida. “Aos 36 anos, decidiu: ‘Quero morar em qualquer lugar e falar mais de três línguas’”, ele contou. Desde 2023, vive em Barcelona, na Espanha. Em Dubai, ele abriu uma filial de sua empresa, a Dyagnosys, e visitou potenciais compradores de seu produto – um programa que detecta sinais de ansiedade. “Dubai não é um mercado em expansão, mas um centro de negócios por onde passam pessoas do mundo inteiro”, diz. Para aprimorar o programa, ele conversa quase diariamente com
pesquisadores de universidades do Brasil e da Suíça (ver quadro na página o lado).
“A motivação para a internacionalização pode ser também ingressar em uma nova área, ainda que os lucros demorem a chegar”, comenta Cahen, da ESPM. A administradora de empresas Luisa Vendruscolo e a cientista da computação Simone Galina, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (Fearp), da USP, encontraram outras razões para o desejo de internacionalizar a empresa ao examinar a trajetória de sete startups da área de tecnologia de informação e comunicação de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.
Como detalhado em um artigo de fevereiro de 2020 na Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, cinco delas pretendiam acessar novos mercados e melhorar seus produtos. Duas queriam também obter novas fontes de financiamento no exterior – o nome das empresas não foi revelado. Após participarem de encontros com investidores ou potenciais clientes, todas alcançaram seus objetivos.
BARREIRAS
Em um artigo de junho de 2016 na Journal of Business Research, Cahen e Borini classificaram as barreiras que os empreendedores têm de superar para avançar. No primeiro grupo estão as dificuldades institucionais, que abrangem os custos para iniciar as operações internacionais e a escassez de programas de treinamento e de linhas de crédito. O segundo grupo se refere à adequação tecnológica: o produto ou o serviço deve atender às necessidades de clientes internacionais, com
preço e qualidade competitivos. O terceiro diz respeito aos recursos humanos. Quem participar dessas operações deve ter competência técnica, conhecer as regras básicas do mundo dos negócios e dominar a língua inglesa.
Para abrir o olhar de quem busca clientes estrangeiros, Cahen e Borini aprofundaram as análises em outros dois estudos, publicados em março de 2020 na Journal of International Management e em agosto de 2025 na International Business Review, enfatizando as competências necessárias para expandir os negócios. Uma delas é oferecer uma interface de comunicação amigável. “Se o potencial comprador vir que o site é demorado ou tem informação em excesso, provavelmente vai deixar de lado e dificilmente voltará”, comenta a economista.
Cahen ressalta a capacidade de encontrar os parceiros certos e de se adequar às novas regras de negócio. Em um artigo publicado na Case Research Journal em dezembro de 2022, ela examinou a trajetória da Stayfilm, criada em 2012, que fez um aplicativo gratuito para os usuários criarem filmes a partir de fotos e vídeos. A busca por parceiros para expandir o negócio levou a empresa, em 2017, a uma aceleradora de negócios em Miami.
“A mentora e investidora tinha visão de longo prazo e avisou que teriam de parar as vendas e consertar os bugs [imperfeições] do programa,
que não estava bom o suficiente para entrar no mercado norte-americano”, diz ela. A empresa ficou mais de um ano sem faturamento até reaparecer com um produto melhor.
“Tive de convencer meus sócios e dispensar a equipe comercial do Brasil, já que as vendas iriam parar. Não foi fácil. Por sorte, havia uma reserva de uma captação de R$ 15 milhões que tínhamos acabado de fazer, pensando nessa expansão internacional”, conta o publicitário Douglas Almeida, cofundador da Stayfilm.
Durante a pandemia, a empresa começou a priorizar grandes empresas, ajudando-as a se comunicar com seus clientes, por meio de vídeos personalizados pelo WhatsApp. “Mesmo com apoio de uma mentora, dos investidores e de amigos empresários, cometemos muitos erros”, reconhece Almeida. “Apesar de termos boas parcerias nos Estados Unidos, não conhecíamos a cultura de vendas e os hábitos locais das negociações. As regras de contratação de funcionários são diferentes das do Brasil. Se fizer errado, toma processo, que é julgado em um mês. Me senti novamente um principiante e tive de aprender muita coisa outra vez.”
Instalar-se em outro país implica também ajustes na apresentação dos produtos. “Nos Estados Unidos, não vendemos em quilogramas, mas em libras, a temperatura é em Fahrenheit e não em Celsius, e temos de fazer todas as conversões para o cliente não estranhar”, atesta o químico Gustavo Simões, da Nanox, fabricante de compostos antimicrobianos revestidos com nanopartículas, de São Carlos (SP), que nasceu em ambiente universitário e contou com apoio do Pipe (ver Pesquisa FAPESP no 288).
Criada em 2004, a empresa começou a exportar em 2009. Dez anos depois, Simões percebeu que o mercado brasileiro era muito restrito. Começou a frequentar feiras nos Estados Unidos, fez análises de mercado, planejou-se e, com apoio de consultores norte-americanos, entrou com o pedido de aprovação dos órgãos oficiais para seus produtos. O aval foi dado em 2024.
Em 2023, Simões abriu uma unidade de produção terceirizada perto de Boston. Apoiado por R$ 10 milhões, provenientes de fundos de investimento, começou este ano a produção própria. “Está dando certo, ainda que não na velocidade que eu gostaria”, reconhece. Também em 2023, a Nanox estabeleceu uma unidade de vendas em Coimbra, Portugal, para atender aos clientes da Europa. “A operação portuguesa já se paga; a norte-americana, ainda não.” l

O projeto e os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.

Startups deep techs do Brasil conseguem menos financiamento do que congêneres da Argentina e do Chile, mostra estudo
FABRÍCIO MARQUES ilustrações VERIDIANA SCARPELLI
Um levantamento sobre startups de base científica e tecnológica na América Latina mostrou uma disparidade entre o Brasil e alguns de seus vizinhos na capacidade de atrair financiamento privado para essas empresas. De acordo com o “Latam deep tech radar 2025”, um relatório lançado em setembro pela consultoria Emerge em parceria com a plataforma para empreendedores Cubo Itaú, o Brasil concentra, de longe, o maior número de startups deep techs : 72,3% das 1.316 empresas mapeadas na região são brasileiras. As deep techs se distinguem por propor inovações com potencial disruptivo, apresentar ciclos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) demorados e exigir investimentos consideráveis e de longo prazo. Mas o país aparece apenas em terceiro lugar em volume de investimentos privados em 2024. O conjunto das 952 empresas brasileiras dessa categoria alavancou US$ 216 milhões no ano. O valor é equivalente a 44% dos recursos obtidos pelas 145 deep techs da Argentina e 35% pelas 72 do Chile. Os dados do relatório expõem a dificuldade das empresas brasileiras de obter dinheiro para crescer: 47% declararam não ter recebido nenhum tipo de investimento e, entre as que conseguiram, o número de beneficiadas com recursos públicos foi cinco
vezes superior ao das que atraíram capital privado. A maioria das deep techs do Chile e da Argentina também teve dificuldade de obter recursos, mas o que distinguiu o desempenho desses países foi um número restrito de startups que furaram a bolha e obtiveram aportes extraordinários.
Uma única empresa chilena levantou US$ 466 milhões, o equivalente a 75% do total das deep techs do país. Trata-se da NotCo, empresa de tecnologia de alimentos que desenvolve e oferece alternativas veganas a produtos de origem animal, como leite (o NotMilk), maionese, iogurte, sorvete e hambúrgueres feitos à base de plantas – entre seus investidores está Jeff Bezos, o dono da Amazon. Em segundo lugar, com US$ 40 milhões, aparece o PhageLab, que produz soluções baseadas em fagos, vírus que se alimentam de bactérias, para prevenir doenças e reduzir o uso de antibióticos na criação de gado e de aves.
Já a Argentina se distingue por atrair investimentos para startups de tecnologia aerospacial. O principal destaque é a Satellogic, que levantou US$ 287 milhões – a empresa opera satélites de observação da Terra e oferece dados e serviços de monitoramento ambiental. Depois aparece a Skyloom, fornecedora de terminais que permitem a comunicação de satélites entre si e com a Terra. Criada em 2017, a deep tech arrecadou US$ 40 milhões em investimentos e, em novembro passado, foi comprada pela empresa de computação quântica norte-americana IonQ. Os recursos conquistados em 2024 pelas deep techs brasileiras mais bem-sucedidas estão bem abaixo desse patamar, de acordo com o levantamento da Emerge. Na liderança, com US$ 23,6 milhões, aparece a brain4care, que criou uma tecnologia não invasiva de monitoramento da pressão intracraniana utilizada por mais de 80 hospitais e clínicas no Brasil (ver Pesquisa FAPESP nº 280). Em seguida, vêm a growPack (US$ 3,8 milhões), que desenvolve embalagens sustentáveis e recebeu aportes de empresas como a Ambev e o iFood; e a Symbiomics (US$ 2,7 milhões), que produz cepas de microrganismos utilizados como bioinsumos na agricultura.
Segundo o responsável pelo relatório, Daniel Pimentel, diretor e cofundador da Emerge, o desempenho do Brasil se explica por uma característica peculiar de suas startups. “A maioria delas surge para resolver problemas do mercado brasileiro, que é grande o suficiente para sustentar empresas. Mas as soluções não são escaláveis para outros mercados e, por isso, há mais dificuldade de atrair investimentos de fundos internacionais”, afirma. O escopo das startups chilenas
e argentinas com frequência é mais amplo, observa Pimentel. “Como esses países não têm mercados muito grandes, elas já nascem tentando oferecer soluções para problemas de caráter global e, com isso, conseguem despertar mais facilmente o interesse do capital privado e internacional”, afirma.
O risco e a incerteza inerentes às deep techs fazem com que elas sejam escrutinadas de forma especialmente rigorosa. Gabriel Perez, gestor do Fundo Pitanga, afirma que é desafiador identificar as startups certas para investir no Brasil – o Pitanga, que tem foco em empreendimentos baseados em inovações radicais, foi criado em 2011 por um grupo de empresários brasileiros e, em dois ciclos de investimento, selecionou até agora apenas quatro empresas – duas brasileiras, uma argentina (a Satellogic) e uma uruguaia. “Há ciência sólida produzida pelas universidades brasileiras e investimentos públicos amparando a formação de startups. Mas não é simples encontrar empresas com projetos ambiciosos e times experientes para receber financiamento”, diz.
Perez reconhece que falta aspiração global a muitas startups do país, mas pondera que isso não é uma particularidade delas. “O empresariado brasileiro, de modo geral, investe pouco em P&D e se acostumou a explorar o mercado local”, diz. Essa debilidade, segundo o gestor, tem influência no funcionamento de todo o ambiente de inovação. “Nos ecossistemas mais avançados, o investimento privado em P&D cria um caldo de cultura que fortalece as startups. As grandes companhias desenvolvem projetos em colaboração com deep techs e muitas vezes terminam adquirindo essas empresas, retornando capital aos investidores financeiros. Isso praticamente não ocorre por aqui.”
A Next Innovative Therapeutics (Nintx), uma das startups brasileiras atualmente apoiadas pelo Fundo Pitanga, é uma exceção. Ela tem entre seus empreendedores egressos de um time de inovação de uma grande farmacêutica brasileira, o Aché Laboratórios, onde tiveram a oportunidade de liderar projetos de elaboração de medicamentos


inovadores voltados ao mercado global. A Nintx está criando produtos farmacêuticos baseados na biodiversidade brasileira para lançar no mercado em um horizonte de 5 a 7 anos, mas deve fabricar antes produtos nutracêuticos, que têm um processo de desenvolvimento e normas regulatórias mais simples. A empresa já recebeu duas rodadas de investimento, de US$ 3 milhões, em 2022, e de US$ 7,5 milhões, em 2024, lideradas pelo Fundo Pitanga.
Oengenheiro Fernando Peregrino, pró-reitor de Gestão e Governança da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), aponta uma dificuldade estrutural p ara ampliar o financiamento a startups deep techs: as taxas de juros elevadas no país.
“Em uma economia extremamente financeirizada como a nossa, o destino do dinheiro privado raramente é o setor produtivo. As deep techs brasileiras, que têm um risco tecnológico maior, ressentem-se de não conseguir alavancar recursos por conta da maior remuneração obtida pelos investidores no mercado financeiro”, diz Peregrino, que entre 2023 e 2025 foi chefe de gabinete da presidência da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e organizou um relatório do órgão com diretrizes para ampliar o financiamento a deep techs no Brasil e propor, com apoio de mais de 30 entidades, uma política nacional de suporte a esses novos agentes tecnológicos.
É certo que os riscos impõem uma trava para o financiamento de deep techs. “Temos na América Latina não mais do que 10 fundos investindo em empresas inovadoras em biotecnologia, enquanto em outras áreas, menos intensivas em tecnologia, há mais financiamento”, diz Francisco Salvatelli, gestor do GridX, fundo de capital de risco que ajuda a formar equipes para desenvolver startups nas ciências da vida, que já investiu em 93 empresas na América Latina, oito delas brasileiras. A percepção de gestores de fundos, contudo, é que há mais financiamento no Brasil do que empresas preparadas para aproveitar as chances. “O capital de risco não é tão abundante na América Latina como nos Estados Unidos e na Europa, mas ele vai atrás de boas oportunidades e tem faltado massa crítica no Brasil para atrair recursos internacionais”, diz o biólogo Natanael Leitão, operational partner da Zentynel Frontier Investments, fundo de capital de risco sediado no Chile, com foco em biotecnologia na América Latina.
Na tarefa de selecionar deep techs de biotecnologia, Leitão observou que as startups brasileiras precisam, em geral, melhorar o padrão de gover-
nança. Ele explica que investidores de deep techs estão em busca de empresas com gestores bem treinados e históricos contratuais transparentes e alinhados com padrões internacionais – e nem sempre encontram esse ambiente no Brasil. Uma das deep techs que receberam investimento do Zentynel (que levantou uma rodada de US$ 2,5 milhões em 2024) é a uruguaia Xeptiva Therapeutics, criada em 2021. Ela desenvolveu uma vacina para dor crônica em animais, com uso potencial em seres humanos, e é uma spin-off do Instituto Pasteur de Montevidéu. “Encontramos empreendedores altamente capacitados para negociar, amparados pela credibilidade do Instituto Pasteur, o que contribuiu para fazermos o investimento”, diz. Em comparação, as negociações com uma startup brasileira de perfil semelhante naufragaram porque os empreendedores, ligados a uma instituição pública, não pareciam prontos para discutir questões ligadas à propriedade intelectual e uso comercial da tecnologia. “E também se tratava de uma proposta excelente de vacina, uma inovação disruptiva para o setor”, conta.
O Zentynel investe em 16 empresas de biotecnologia da América Latina, cinco delas ligadas ao Brasil. Segundo Leitão, o país tem grande potencial de crescimento no campo da biotecnologia e as empresas selecionadas pelo fundo são de alta qualidade. Um destaque brasileiro do portfólio do fundo é a Autem Therapeutics, cujo carro-chefe é um dispositivo médico que auxilia no tratamento do câncer – por meio de impulsos eletromagnéticos, atua para sincronizar o ciclo celular das células tumorais, tornando o paciente mais responsivo às terapias disponíveis no mercado. “O efeito está bem relatado cientificamente em experimentos com mais de 700 aplicações da terapia em campo, e agora vai ser alvo de um ensaio clínico multicêntrico no Brasil”, explica o gestor. A Autem recebeu US$ 10 milhões em uma rodada de investimento liderada pela Zentynel, em 2022. Leitão observa que há níveis de maturidade diferentes dos ecossistemas de startups no Brasil e em vizinhos latino-americanos. “Ainda é incomum no país, por exemplo, a participação de advisors internacionais nas startups ou de conselheiros com histórico empreendedor que atestam o potencial da empresa e estimulam o capital de risco a investir nelas”, afirma.
Já Francisco Salvatelli, do fundo GridX, é otimis ta em relação ao futuro das deep techs brasileiras. “Há financiamento público para os estágios iniciais das startups e as oportunidades são enormes. Creio que, mais cedo ou mais tarde, os investidores vão identificá-las. E isso se tornará mais fácil à medida que houver mais empresas preocupadas em oferecer soluções disruptivas para problemas globais.” l
Físico conta sobre o estudo teórico que previu efeito quântico em um sistema macroscópico, um circuito supercondutor que rendeu o Nobel de 2025 a três pesquisadores
MARCOS PIVETTA retrato LÉO RAMOS CHAVES
Em 7 de outubro, o anúncio dos vencedores do Prêmio Nobel de Física de 2025 causou surpresa e enorme satisfação em Amir Ordacgi Caldeira, do Instituto de Física Gleb Wataghin da Universidade Estadual de Campinas (IFGW-Unicamp). O prêmio foi concedido para um trio de pesquisadores experimentais que, em meados dos anos 1980, tinham medido pela primeira vez o tunelamento quântico – um efeito característico das escalas atômica e subatômica – em um sistema macroscópico, um circuito eletrônico supercondutor de cerca de 1 centímetro. No material de divulgação sobre as bases científicas dos trabalhos dos recém-laureados, a Real Academia de Ciências da Suécia citou um artigo de 1981 de Caldeira e do teórico britânico Anthony Leggett, que fora seu orientador de doutorado na Universidade de Sussex, no Reino Unido, e viria a receber o Nobel de Física de 2003 por estudos na área de superfluidez do hélio-3.
No paper, que tem mais de 6.200 citações na literatura científica, a dupla argumentava que era possível observar o tunelamento quântico em um tipo específico de estrutura macroscópica, um circuito eletrônico supercondutor. “Nosso trabalho teórico foi a base dos experimentos que levaram ao Nobel de 2025”, diz Caldeira, que se tornou docente da Unicamp em 1980. Oficialmente aposentado da universidade desde o fim de agosto passado, o físico continua ativo, agora na condição de pesquisador sênior.
Caldeira foi coordenador de grandes iniciativas do estado de São Paulo e do país em sua área de atuação, como o Instituto do Milênio em Informação Quântica e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) em Informação Quântica. Nesta entrevista, concedida na sala que ainda mantém na universidade, ele fala de seus estudos, da mecânica quântica (que completou 100 anos em 2025) e dos desafios para o desenvolvimento de novas tecnologias quânticas.

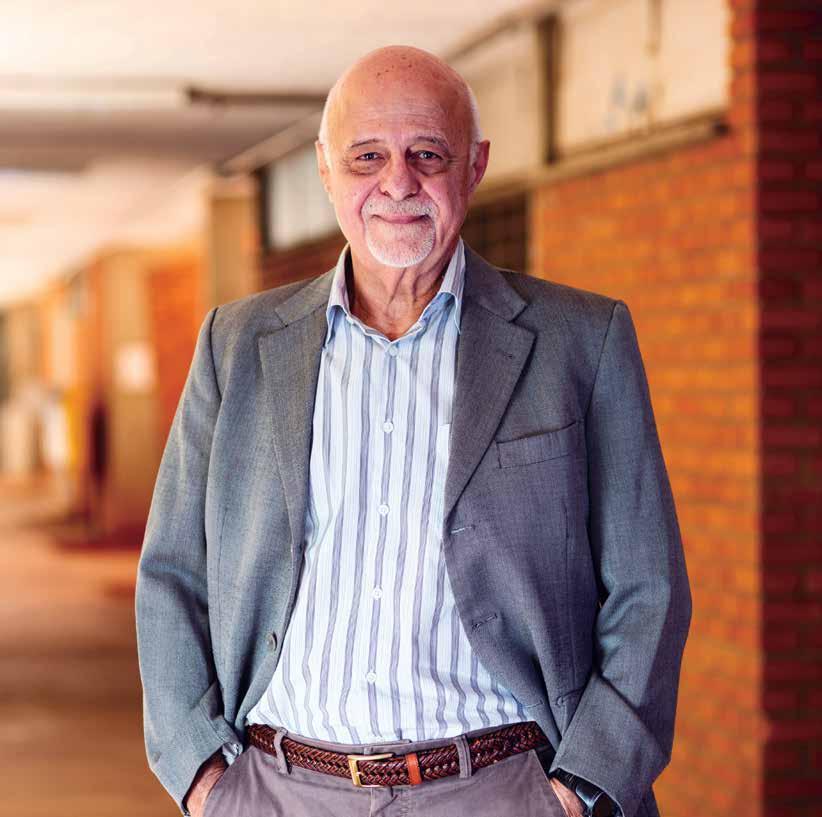
ESPECIALIDADE
Física da matéria condensada, com ênfase em dissipação quântica e efeitos quânticos macroscópicos
INSTITUIÇÃO
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
FORMAÇÃO
Graduação (1973) e mestrado em física (1976) pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e doutorado em física (1980) pela Universidade de Sussex, no Reino Unido
Qual foi sua reação quando viu seu nome e o artigo com o Leggett citados no material do Nobel?
Fiz aniversário de 75 anos na véspera do anúncio do prêmio. Para mim, foi um presente. Apesar de ter consciência do grau de originalidade do nosso trabalho e até mesmo da importância dos seus possíveis desdobramentos para a fundamentação da física quântica, não imaginava que sua verificação experimental pudesse ser agraciada com um Nobel. Quando me citaram, fui tomado pela sensação de que, sim, contribuí para algo de inquestionável importância. Não ganhei o Nobel, mas a bola bateu na trave.
O artigo de 1981 surgiu em que contexto?
Fazia doutorado e pensamos em um problema interessante, ligado à junção que separa e isola as duas metades de um circuito supercondutor, capaz de transmitir corrente elétrica sem nenhuma perda de energia. Primeiro, queríamos ver se um efeito quântico que chamamos de tunelamento se manteria em um circuito supercondutor que envolvesse um número muito grande de elétrons, desde que sua junção fosse construída nas dimensões apropriadas. O tunelamento ocorre devido à sobreposição de estados que aparece nas escalas atômica e subatômica. Ele faz com que uma única partícula consiga ultrapassar uma barreira de energia que normalmente seria um obstáculo intransponível para sua movimentação. Então, no artigo, queríamos averiguar em que condições um número grande de elétrons ultrapassaria em bloco a barreira de energia. O segundo aspecto do nosso trabalho era calcular qual seria a influência do meio ambiente sobre as eventuais propriedades quânticas do circuito, além de dissipar energia.
Qual era o interesse de estudar essa questão?
Até aquele momento, era um interesse puramente teórico. Do ponto de vista experimental, não haveria por que estudar o efeito do ambiente em um sistema quântico. Não havia exemplos de que poderia existir um efeito quântico em objetos macroscópicos. O tunelamento era visto como um fenômeno que ocorria apenas com átomos, moléculas e núcleos. Então, nosso circuito não passava de um
objeto de estudo teórico. Mas, no nosso artigo, propusemos uma configuração do sistema que, mesmo sendo macroscópica, conseguia manter o tunelamento desde que o circuito eletrônico fosse isolado do meio ambiente. Vimos que era possível manter o tunelamento se a junção do circuito fosse construída com certas dimensões. Quanto mais isolado esse sistema macroscópico estivesse do ambiente, mais quântico ele se mantinha. Quanto mais sofresse o efeito destruidor, dissipativo, do ambiente em que estivesse inserido, mais ele se comportava como um sistema regido pela física clássica.
O senhor tinha ideia de que esse circuito poderia ser usado para gerar uma forma de bits quânticos, os qubit, que viriam a ser a base da computação quântica?
Não vou mentir. Claro que não. O artigo não tinha nenhum apelo aplicado. Era uma nova linha de pesquisa teórica. Um pouco depois do nosso trabalho, pesquisadores da IBM trabalharam com um sistema parecido, mas os dispositivos não tinham as características apropriadas. Mais ou menos nessa época, Richard Feynman [1918-1988, teórico norte-ame-
ricano ganhador do Nobel de Física de 1965] já difundia em palestras a ideia de usar a mecânica quântica como um recurso para desenvolver uma nova forma de computação, mas não havia nenhuma conexão com nosso trabalho. Apenas em 1984 e 1985 os físicos que ganharam o Nobel de 2025 fizeram um sistema experimental baseado nas nossas ideias. Em cinco anos, o número de citações do meu artigo com o Leggett disparou. Foi impressionante.
Vamos falar de conceitos básicos para um leigo. No que a mecânica quântica difere da física clássica?
Contribuí para algo de inquestionável importância.
Uma primeira diferença está na questão da escala. A mecânica quântica não trabalha com sistemas macroscópicos, como a física clássica. Ela opera em escalas moleculares, atômicas e subatômicas, ou seja, no mundo do nanômetro [1 bilionésimo do metro] para baixo. A chamada constante de Planck [calculada em 1900 pelo físico alemão Max Planck, 1858-1947] é a grandeza da natureza que separa, grosso modo, o que é quântico do que é clássico. Ela descreve o comportamento das partículas e das ondas, inclusive da luz, na escala atômica. E indica que a energia não é emitida ou absorvida de maneira contínua, mas em pacotes que contêm a menor quantidade indivisível de energia, denominados quanta. A constante é um número muito pequeno, de aproximadamente 6,63×10 -34 joules-segundo, que define a energia dos quanta. A constante foi obtida quando se mediu a radiação de um corpo negro [energia emitida por um objeto ou sistema que absorve toda a radiação incidente]. Ela é usada na teoria do efeito fotoelétrico de Albert Einstein [1879-1955] e na equação de Erwin Schrödinger [1887-1961]. Quando houver combinações de grandezas que resultem em uma unidade muito maior do que a constante de Planck, o regime de um sistema é clássico. Se for menor, os efeitos são quânticos.
A velocidade é outro fator importante que distingue o quântico do clássico? Se algo se move muito lentamente em relação à velocidade da luz, que é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, estamos no domínio da física clássica, da mecânica newtoniana. Se
sua velocidade for muito alta e próxima à da luz, começam a aparecer efeitos que não vemos no nosso dia a dia. Mas a mecânica quântica vai ainda além disso. A teoria é um sucesso do ponto de vista da matemática. Mas há o problema das interpretações. O que exatamente a mecânica quântica mede? Há 100 anos essa questão permeia a comunidade de físicos. Há até renomados pesquisadores que dizem que a mecânica quântica está errada e discordam em geral de sua interpretação probabilística. Particularmente, considero essa atitude um desserviço. Se alguém diz que algo está errado, deve oferecer uma alternativa, e ainda não há essa alternativa à mecânica quântica. Esse pessoal quer que a mecânica quântica seja uma descrição ontológica da realidade, mas não é esse o papel que ela desempenha. A mecânica quântica funciona muito bem dentro do que se propõe a responder.
A revista Nature publicou uma reportagem em 2025 que diz que os próprios físicos não estão de acordo sobre o que exatamente a quântica retrata e onde termina o mundo clássico e começa o quântico. Como analisa essa situação?
Quando se passa da escala do nano para o micro, entre um bilionésimo e um milionésimo do metro, aparecem sistemas que, se suficientemente bem escolhidos e trabalhados, vão apresentar efeitos quânticos. Mas, nessa escala, também há a possibilidade de esses sistemas sofrerem a influência do meio ambiente, o que destrói os efeitos quânticos. Esses sistemas ultrapassam a escala do átomo, mas as grandezas que os descrevem ainda estão na escala de energia quântica. É uma terra de ninguém. Então, nessa escala, pode haver sistemas que apresentem características tanto clássicas como quânticas. Esse é o caso do sistema que apresentamos no artigo de 1981.
Mas quais são os efeitos típicos da mecânica quântica que não podem ser vistos em sistemas clássicos?
A dualidade partícula/onda é um deles. O problema da incerteza da medida também. Na mecânica quântica, uma partícula pode estar em uma superposição de estados. É o que ocorre com a direção do momento angular, o spin, de um elé-
onda em outro
tron ou a polarização de um fóton, uma partícula de luz. Mas depois de feita a medição, apenas um dos estados se materializa com uma dada probabilidade. Então, não há uma evolução contínua do estado físico da partícula ao longo do processo de medida.
Por que é muito difícil para as pessoas entenderem os efeitos quânticos? Nossa percepção é clássica. Tudo que percebemos é clássico. Está no nosso dia a dia. Eu sei o que é uma partícula ou uma onda. Mas é difícil explicar para as pessoas que um fóton ou um elétron pode ser considerado partícula em um contexto e onda em outro. Na mecânica quântica, criamos objetos, como elétrons ou fótons, que descrevem uma situação que não entendemos muito bem, mas cujo resultado podemos calcular com enorme precisão com a ajuda desses objetos. A mecânica quântica é a teoria mais precisa que há. Mas não conhecemos as interações, os processos, que levam a esse resultado final. Esse, de fato, é o problema.
Por que se costuma dizer que a mecânica quântica é uma teoria incom
pleta por não conseguir incluir a ação da gravidade como descrita na teoria geral da relatividade de Einstein? Todas as forças [a eletromagnética, a nuclear forte e a nuclear fraca] são quantizáveis, ou seja, podem ser medidas por meio dos quanta, esse pacote mínimo de energia. Todas, menos a força gravitacional, que, na verdade, não é uma força. Sua formulação é diferente. Todas as forças são carregadas por um campo, que transmite energia de um corpo para outro. É, por exemplo, o que ocorre com o campo eletromagnético. Apesar de todo mundo sempre falar em campo gravitacional, a teoria da relatividade geral não trabalha com esse conceito. Segundo a teoria, a gravitação não tem um campo, que faz uma massa atrair outra. A relatividade trabalha com a noção de que a gravidade é uma curvatura do espaço-tempo. A mecânica quântica não sabe como quantizar essa curvatura. O pessoal da teoria das cordas tenta fazer isso, mas com uma abordagem excessivamente teórica. Estamos no centenário da mecânica quântica e não conseguimos avançar nessa questão. Precisamos de uma nova revolução quântica, como a de 100 anos atrás.
Faltariam avanços tecnológicos para que essa limitação seja superada?
Na história da ciência, a ajuda da instrumentação foi tremenda. Com o microscópio eletrônico de varredura, foi possível descrever a superfície de cristais e deslocar moléculas de um ponto para outro de uma superfície. Há 50 anos, começamos a atuar nos sistemas em uma escala até então inimaginável. Isso é muito interessante. Podemos criar dispositivos que poderão interferir em uma dada escala e desafiar determinadas teorias. Muitos pesquisadores acreditam que novidades poderão surgir se conseguirmos trabalhar com energias cada vez mais altas ou em escalas de comprimento cada vez menores. Por outro lado, surpresas ocorreram nos últimos anos, quando passamos a trabalhar na faixa entre o nano e o micro, com dispositivos supercondutores.
Algumas empresas dizem ter desenvolvido computadores quânticos, como a IBM, a Microsoft, o Google e a D Wave. É fato ou mais uma ação de marketing?
Uma questão precisa ficar clara: não existem ainda computadores quânticos universais. As máquinas convencionais que usamos em casa ou no trabalho são universais. São computadores que podem desempenhar qualquer tarefa. Podem ser usados, por exemplo, para escrever textos, realizar cálculos, ver imagens e em muitas outras tarefas. Os computadores quânticos que existem são destinados a realizar funções específicas, como fazer uma busca. Cada um deles se baseia em um sistema diferente e, possivelmente, não conversam um com o outro. Ainda não há máquinas quânticas que consigam fazer mais do que vários computadores clássicos juntos fazem. Ainda não se alcançou a chamada vantagem quântica. Ninguém sabe como vão ser os futuros computadores quânticos ou como serão acessados. Veja a história do laser. Ninguém sabia para que servia aquele feixe de luz monocromática colimada. Era uma solução em busca de um problema. Hoje o laser é usado em várias aplicações. Alguém imaginava que uma operação de catarata seria feita com laser?
Por que é tão complicado fazer um computador quântico?
Há várias dificuldades. A mais elementar é, evidentemente, criar qubits estáveis, que tenham um tempo de operação longo. Um fato fundamental para o efeito quântico como recurso computacional é o fenômeno de coerência, a habilidade de um sistema evoluir no tempo simultaneamente em múltiplos estados. Se essa coerência é perdida, o sistema deixa de ser quântico. Há várias formas de destruir a coerência, por exemplo, por meio da dissipação decorrente da influência do meio ambiente. Por isso, tentamos isolar o máximo possível um sistema quântico do meio ambiente. Além disso, quando criamos vários qubits, podem surgir efeitos de interação entre eles, o que também pode ser deletério. Temos de tentar controlar tudo isso. Toda a teoria da informação depende de sabermos codificar algo em uma base binária, o bit: uma sucessão de zeros e uns. Na computação clássica, 1 bit é 0 ou 1 e está ligado ou desligado. Na quântica, 1 qubit pode ser 0 e 1 simultaneamente, estar em uma sobreposição de estados de 0 e 1. Isso aumenta brutalmente sua capacidade de processamento. Mas, além do pro -
blema da estabilidade do qubit quântico, há ainda a questão de que precisamos de melhores algoritmos que saibam extrair informação dos qubits.
Vamos voltar ao início de sua vida na cidade do Rio de Janeiro, onde o senhor nasceu. Como surgiu seu interesse pela física?
Quando era criança, mudei muito de escola no primário [hoje parte do ensino fundamental ao lado do antigo ginásio]. A partir do ginásio, entrei no Colégio de Aplicação da então Universidade do Estado da Guanabara, que hoje é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro [Uerj]. Cursei ali também o colegial [atual ensino médio]. Fiz ainda um curso pré-vestibular e entrei na PUC-Rio [Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro]. Na época não sabia exatamente como funcionava o curso de física. Para mim, a engenharia era a área onde se executava muito do que era, na realidade, da alçada da física. Tanto que entrei na PUC para fazer engenharia elétrica, não física. Nos dois primeiros anos o curso na PUC era bem geral, um ciclo básico autêntico, com disciplinas das engenharias, da física, da química e da matemática. No
meio do segundo ano, me dei conta de que o meu negócio era a física. O departamento de física da PUC-Rio era muito bom. Tinha ótimos pesquisadores, como Nicim Zagury, que foi meu orientador de mestrado.
Trabalhou com o que no mestrado? Queria trabalhar com transições de fase, assunto que estava na moda. Mas o Nicim sugeriu que eu estudasse o problema da dissipação em mecânica quântica. Foi a primeira vez que trabalhei com sistemas quânticos abertos, não isolados do meio ambiente. Essa experiência foi de fundamental importância para o meu doutorado na Universidade de Sussex, Reino Unido, onde trabalhei sob a orientação de Tony Leggett, e, novamente, me vi envolvido com sistemas quânticos dissipativos.
Como foi sua volta ao Brasil e entrada na Unicamp?
Voltei para o Brasil e vim para a Unicamp em outubro de 1980. Naquela época, a contratação era de uma forma diferente. Era preciso mandar seu currículo e o conselho departamental aprovava ou não a sua contratação. Era muito parecido com o sistema norte-americano. A Unicamp só passou a ter concurso depois de 1985.
Sua ideia inicial era continuar na área de dissipação quântica?
Ainda não há máquinas quânticas que consigam fazer mais do que vários computadores clássicos juntos fazem
Quando retornei ao país, o artigo feito em Sussex já estava pronto, mas ele só foi publicado em janeiro de 1981. Não sabia da repercussão que ele teria em seguida. Logo depois que o estudo foi publicado, surgiu um trabalho experimental de um grupo da IBM sobre ele. Percebi que as pesquisas na área cresciam. Fui de novo para a Inglaterra em 1982 para terminar um paper longo e lá permaneci por dois meses. Em 1984, fiquei de janeiro a setembro no então Instituto de Física Teórica da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara (UCSB), nos Estados Unidos, trabalhando com efeitos quânticos macroscópicos. Depois, fui para o Thomas J. Watson Research Lab da IBM, no estado de Nova York, onde eu fiquei um ano.
Como foi a experiência na IBM?
Muito interessante. Parte das ideias da
computação quântica estava sendo gestada ali, naquele momento. Alguns pesquisadores já estavam começando a pensar no assunto. Mas, infelizmente, eu não tinha interesse em computação naquela época. Estava interessado em outros problemas de dissipação quântica. Poucos anos depois, com a ideia da computação quântica indo de vento em popa, percebi que alguns dos candidatos a se tornarem qubits eram exatamente os dispositivos com que eu tinha trabalhado no doutorado. Em vários momentos, tive a chance de dar contribuições mais específicas e pioneiras também na área de computação quântica. Mas, como disse, não era exatamente o meu interesse.
Como estavam então as pesquisas no Brasil nessas novas áreas da física quântica?
Quando voltei para o Brasil, apenas algumas pessoas sabiam exatamente qual problema eu tinha resolvido. A maioria dos físicos trabalhava em outras áreas. No momento em que meu estudo começou a ser citado, as pessoas passaram a se interessar mais pelo que eu havia feito. O artigo de 1981 acabou se tornando muito conhecido. Outras ideias oriundas do nosso trabalho também foram testadas, alguns anos depois, por outros grupos importantes do exterior, como os de Serge Haroche, do Collège de France, e do norte-americano David Wineland, do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia [Nist], dos Estados Unidos [Haroche e Wineland dividiram o Nobel de Física de 2012 por terem criado metodologias para medir e manipular partículas individuais sem provocar a perda de suas propriedades quânticas]. Nos anos 1990, inúmeros pesquisadores brasileiros, em particular da área de óptica quântica, voltaram seu interesse para o desenvolvimento da área de informação quântica. Dentre eles, estavam Paulo Henrique Souto Ribeiro, hoje docente da Universidade Federal de Santa Catarina [UFSC], e Luiz Davidovich, da Universidade Federal do Rio de Janeiro [UFRJ]. Interagi bastante com esses pesquisadores e muitos outros no Instituto do Milênio e no INCT de informação quântica.
Como avalia os resultados dessas duas iniciativas?
Grupos brasileiros de pesquisa em in -
Nossa verba pode até ser suficiente para fazer pesquisa básica, mas não para desenvolver tecnologia quântica
çoar no exterior, mas também escolher a dedo pessoas de fora para vir para cá. O desenvolvimento da China foi parcialmente assim. Primeiro, mandaram seus pesquisadores para aprender no exterior. Em seguida, começaram a importar pesquisadores para lá. Hoje continuam levando ótimos cientistas e, com a situação atual dos Estados Unidos, vão levar ainda mais. É preciso ter uma política clara e investir pesado, de modo contínuo. O projeto de ciência e tecnologia da China é do final dos anos 1970 ou meados dos anos 1980.
formação e computação quântica foram formados em vários lugares, principalmente por meio do Instituto do Milênio. Eu mesmo me juntei ao pessoal de óptica dessas iniciativas. Mais tarde, o INCT foi muito útil para o desenvolvimento de laboratórios nessas novas áreas da física quântica no país. Mais recentemente todo mundo começou a falar do desenvolvimento de computadores quânticos e de redes de pesquisa para focar na área de desenvolvimento de produtos quânticos. Mas sou um pouco crítico a respeito disso.
Por quê?
O montante da nossa verba pode até ser adequado para fazer pesquisa fundamental, montar laboratórios, mas não para fazer desenvolvimento. Seria preciso multiplicar o investimento por 10 para criar dispositivos quânticos. O governo federal anunciou recentemente que pretende investir R$ 5 bilhões no desenvolvimento da área de tecnologias quânticas até 2034. Isso dá US$ 1 bilhão em aproximadamente uma década. É pouco.
A China está investindo 30 vezes mais, os Estados Unidos, 10 vezes. Temos de mandar nossos alunos para se aperfei-
O que daria para fazer no Brasil? Sinceramente, o que quisermos! Vou dar um exemplo. Quem diria 50 anos atrás que o Brasil teria uma fonte de luz síncrotron como o Sirius, um dos melhores aceleradores de elétrons do mundo? É preciso ter conhecimento e uma indústria de alta tecnologia para fazer algo assim. Mais de 80% do conteúdo do Sirius foi produzido aqui. Qualquer estrangeiro que visita o laboratório fica surpreso com o Sirius. Outro exemplo é a Embraer. Esses dois projetos são de médio e longo prazo. Não podemos ser assolados pelo imediatismo e pessimismo. Salvo segunda ordem, o mundo não vai acabar amanhã. Temos competência, mas é preciso foco. Também há pesquisadores que, por outro lado, são excessivamente otimistas. Eles dizem que vão desenvolver produtos comerciais baseados em tecnologias quânticas com as verbas disponíveis, que, como já disse antes, são valores apropriados para fazer pesquisa básica, mas não desenvolvimento tecnológico.
Quem seria responsável por fazer esse desenvolvimento?
Pode até ser uma universidade ou uma instituição de interesse público, mas sobretudo são as empresas. O Sirius não é uma empresa, mas investiu no recrutamento de pessoas certas para um grande projeto. Sou conservador nesse quesito. Acho que o físico tem de saber física, conhecer os fundamentos e avanços recentes da sua área de atuação. Ele pode, mas não precisa ser empreendedor. O que ele tem de fazer, se optar por uma área de desenvolvimento tecnológico, é se juntar a alguém que entenda de fato desse processo. l

Atlas britânico mapeia os sistemas que medem a qualidade da pesquisa de diversos países
SARAH SCHMIDT ilustrações MARIANA ZANETTI
Como os países medem o desempenho de cientistas e instituições de pesquisa? O que seus sistemas de avaliação têm em comum? Essas são algumas perguntas que o observatório on-line Atlas da Avaliação, do Research on Research Institute (RoRI), sediado no Reino Unido, procura responder. A plataforma, lançada em maio de 2025, já compilou informações sobre os modelos nacionais de avaliação de 17 países e mostra como eles evoluíram nos últimos anos. Filtros permitem selecionar os modelos adotados de acordo com diferentes características. Se o interesse do usuário for identificar sistemas que aferem a qualidade e a reputação de instituições de pesquisa a fim de orientar a aplicação de recursos, o Atlas destaca dez países – México, Portugal, Itália, China, Austrália, Polônia, República Tcheca, Letônia, Reino Unido e Brasil. Em outras duas nações, Índia e Colômbia, os modelos de avaliação têm um objetivo mais restrito: produzir estatísticas e oferecer uma visão geral da atividade de pesquisa. Caso a busca seja por sistemas que fazem uma avaliação individual de pesquisadores, são apontados quatro países: México, Colômbia, Argentina e China. A plataforma também permite ver em profundidade o modelo de cada nação. Alguns países têm mais de um, como a China, que utiliza quatro sistemas que se complementam. A Avaliação Nacional de Disciplinas da China analisa o desempenho do conjunto de pesquisadores de cada campo disciplinar em ciclos de quatro a cinco anos – a participação das instituições é voluntária. Já o Plano Double First-Class, lançado em 2015 pelo
governo chinês com a ambição de estabelecer universidades e disciplinas de padrão mundial até 2050, tem uma influência forte no financiamento de instituições de elite. Há um sistema que avalia e apoia pesquisadores com produção científica destacada, oferecendo salários elevados, financiamento e suporte institucional, e outro que mede o desempenho de mais de 100 institutos vinculados à Academia Chinesa de Ciências e é usado para distribuir recursos.
A Polônia é outro país que combina vários sistemas. Dois deles têm forte influência na concessão de financiamento: um se concentra na qualidade da pesquisa das universidades e outro, em seu desempenho institucional, analisando o número de estudantes atendidos e a existência de programas de internacionalização. Uma terceira iniciativa avalia as universidades com melhor desempenho em indicadores de pesquisa – as 10 mais destacadas recebem reforço nos investimentos.
A maioria dos países mapeados no Atlas mantém sistemas de avaliação unificados. O Reino Unido dispõe do Research Excellence Framework (Ref), que analisa o impacto e a qualidade da pesquisa produzida pelas instituições de ensino superior britânicas e o ambiente de trabalho que elas oferecem. Apesar de voluntária, a participação das instituições é praticamente universal, devido ao seu forte impacto na reputação e no financiamento –anualmente, mais de £ 2 bilhões são distribuídos com base em seus resultados. Cada pesquisador pode submeter até quatro trabalhos para avaliação, entre os mais relevantes que produziu em determinado período. O último exercício de avaliação foi divulgado em 2022 e o próximo virá
em 2029. O modelo britânico serviu de inspiração para países como Portugal, Itália, Noruega e Eslováquia.
No Brasil, desde 1976 a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) promove a avaliação dos programas de pós-graduação brasileiros para aferir a qualidade dos cursos de mestrado e doutorado, acadêmicos e profissionais, e nortear a distribuição de bolsas e recursos para programas. Os ciclos de avaliação são de quatro anos. No mais recente deles, divulgado no fim de 2022, 4.512 programas stricto sensu submeteram para avaliação 4,7 milhões de produções intelectuais de seus pesquisadores entre 2017 e 2020 (ver Pesquisa FAPESP nº 324). A publicação dos resultados da avaliação quadrienal 2021-2024 está prevista para ocorrer em janeiro de 2026. Os programas recebem notas que vão de 3 a 7. Enquanto 3 é o valor mínimo para que o programa continue existindo, notas entre 6 e 7 indicam excelência e nível de competitividade internacional. O Brasil também conta com a modalidade de bolsas de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que classifica os pesquisadores de maneira individual para concessão de apoio – em 2025, havia 17.080 beneficiários. Há ainda mecanismos no âmbito estadual, criados pelas fundações de amparo à pesquisa.
O modelo do México se debruça sobre o desempenho individual de cientistas. Seu Sistema Nacional de Pesquisadores (SNI), coordenado pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do país, ocorre em ciclos de cinco a 10 anos, dependendo do nível do cientista, e impacta diretamente a progressão na carreira e acesso a financiamento público. “Ao definir os critérios das avaliações, os sistemas influenciam o comportamento dos pesquisadores e suas organizações e, de certa forma, moldam o que vai acontecer no mundo da ciência”, observa Sergio Salles-Filho, coordenador do Laboratório de Estudos sobre Organização da Pesquisa e da Inovação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Salles-Filho é um dos 26 autores de um relatório publicado em maio de 2025, que analisou os sistemas de 13 países, apresentou a metodologia desenvolvida pelo RoRI para distinguir os tipos de modelos, e serviu de base para organizar o Atlas.
AO LONGO DO TEMPO
Uma das conclusões do estudo é que não existe uma receita de avaliação a ser seguida, ainda que os países possam aprender com a experiência dos demais. O trabalho também mostra como os sistemas evoluíram nos últimos 40 anos e aponta três grandes momentos históricos. Em boa parte do século XX, o padrão, ditado pelo Reino Unido
e grande parte da Europa, era avaliar a pesquisa de uma forma compartimentada, com foco em cada campo disciplinar. Nos anos 1990, consolidou-se um novo perfil, que analisa o desempenho dos sistemas nacionais com base em indicadores de produtividade e critérios de excelência, estimulando a competição por recursos. Esse ainda é o modelo dominante. “Hoje, por conta de distorções nos sistemas de avaliação, discute-se a emergência de um novo paradigma, o da avaliação responsável”, destaca o pesquisador da Unicamp. O mote dessa nova fase é adotar critérios de avaliação mais abrangentes, levando em conta também dimensões como o impacto econômico e social da pesquisa, para além dos indicadores de produtividade científica.
Salles-Filho explica que esse tema começou a ganhar força nos últimos anos, na esteira da Declaração de São Francisco sobre Avaliação da Pesquisa (Dora), publicada em 2013, que defende a superação do uso do fator de impacto (FI) e de métricas de periódicos como medidas de qualidade da pesquisa. Calculado pelo número médio de citações recebidas pelos artigos de um periódico, o FI é adotado para examinar o prestígio de revistas científicas. Em 2015, veio o Manifesto de Leiden, reforçando que métricas devem apoiar e não substituir a avaliação qualitativa. Mais recentemente, em 2022, surgiu a Coalition for Advancing Research Assessment (Coara), coalizão global de instituições comprometidas com a reforma da avaliação da pesquisa, também em direção a modelos mais amplos e diversificados. Um sistema de avaliação que se destacou na crítica aos indicadores de produtividade é o dos Países Baixos. O protocolo de avaliação das universidades adotado no país em 2021, e que está vigente até 2027, proíbe o uso de indicadores como o FI. Já o índice-h, que combina o número de artigos de um autor com a frequência de citações desses manuscritos, precisa de justificativa para ser considerado. Apesar da ousadia, a influência do modelo é restrita. “Nos Países Baixos, praticamente não há impacto direto da avaliação no financiamento de grupos de pesquisa ou departamentos de universidades”, explica André Brasil, pesquisador do Centro de Estudos de Ciência e Tecnologia da Universidade de Leiden, na Holanda. Servidor da Diretoria de Avaliação da Capes, ele é um dos autores de um artigo publicado em abril na revista Research Evaluation, que comparou os sistemas de avaliação nacionais do Brasil e dos Países Baixos.
Segundo ele, o foco principal do modelo holandês, que ocorre a cada seis anos, é analisar as

estratégias das unidades de pesquisa e departamentos de universidades e sua capacidade de alcançar seus objetivos, tendo como base uma autoavaliação em que refletem sobre suas características. Pode haver, inclusive, resultados negativos, como constatar que um plano promissor não funcionou, o que, destaca o pesquisador, é parte da ciência, já que o “não resultado” também é um resultado. Há ainda o trabalho de uma comissão externa, internacional, que dá orientações às unidades para melhorar sua atuação e atingir objetivos. “É um modelo interessante. Funciona bem em um país pequeno, com um sistema integrado e um nível de investimento em pesquisa proporcionalmente mais alto do que no Brasil. Como a avaliação interfere pouco na distribuição de recursos geralmente escassos, ela se torna um exercício de aprendizagem e reflexão”, explica. “A autoavaliação passou a ser considerada como componente das últimas avaliações da Capes, mas ainda com peso reduzido em relação ao seu potencial transformador”, complementa. No próximo ciclo de análise dos programas de pós-graduação brasileiros, haverá novidades importantes. O Qualis-periódicos, sistema de classificação de revistas científicas criado nos anos 2000, não será mais usado para avaliar a produção de estudantes e de docentes dos programas de pós-graduação. A análise passa a se concentrar, também, na qualidade e na classificação do artigo e não somente no desempenho da revista científica em que ele foi publicado (ver Pesquisa FAPESP nº 345). Outra mudança é a introdução dos chamados “casos de impacto”. Será possível apresentar aos avaliadores relatos de como as
pesquisas geraram impacto científico, educacional, social, econômico e em políticas públicas.
Na avaliação de Jacques Marcovitch, reitor da Universidade de São Paulo (USP) entre 1997 e 2001, expedientes como o uso de casos de impacto representam uma mudança de cultura no sentido de aproximar da sociedade o conhecimento produzido pelos programas de pós-graduação. “Hoje, só se pede a um doutorando ou mestrando para realizar sua pesquisa e publicá-la. Mas será que essa produção alcança ministérios, prefeituras, empresas ou ONG?”, pergunta. “Se o estudante fizer uma síntese de quatro páginas, narrando o efeito que seu trabalho pode produzir na sociedade, é mais provável que seja levado em conta por tomadores de decisão.”
Marcovitch lidera o Projeto Métricas, apoiado pela FAPESP, iniciativa que reúne pesquisadores e gestores de diversas instituições para desenvolver formas abrangentes de monitorar o impacto das universidades na sociedade. A abordagem comparativa propiciada pelo Atlas é bem-vinda, na sua avaliação. “Temos que aprender uns com os outros, mas a plataforma ficará melhor quando tiver mais países incluídos”, observa. Ele vê espaço para aprimoramento nos filtros do Atlas. Segundo observou, eles mostram dimensões de como a ciência é avaliada, mas poderiam analisar melhor como a sociedade se apropria dela. l
Os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
Embrapa consegue autorização especial para pesquisas com plantio e melhoramento genético de cannabis, que ainda carecem de regulamentação
SARAH SCHMIDT
AEmpresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) deve iniciar um projeto de cultivo, desenvolvimento e melhoramento de cannabis (Cannabis sativa) no primeiro semestre de 2026. A pesquisa tornou-se viável graças a uma autorização especial para plantio e estudo concedida em novembro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O aval foi necessário porque não existe ainda no Brasil uma regulamentação geral que permita a universidades e instituições de pesquisa cultivar cannabis para fins científicos – em alguns casos, as autorizações ocorreram por decisão judicial. Embora a aprovação do cultivo seja atribuição do Ministério da Agricultura e Pecuária, o caráter psicoativo da planta também exige análise da Anvisa.
“A ideia é trabalhar desde a semente até o produto final”, explica a bióloga molecular Daniela Bittencourt, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em Brasília. “Precisamos desenvolver cultivares adaptados e estáveis para diferentes finalidades, considerando
as condições climáticas brasileiras.” A unidade do Distrito Federal é uma das quatro em que as pesquisas poderão ser desenvolvidas. Lá, o estudo será coordenado por Bittencourt, que vai iniciar a construção do banco de sementes e a análise genômica de diferentes variedades. O melhoramento de cultivares para fins medicinais ficará a cargo da Embrapa Clima Temperado, em Pelotas (RS), em parceria com a Embrapa Algodão, em Campina Grande (PB), que também trabalhará no melhoramento do cânhamo – uma das variedades de Cannabis sativa, sem ação psicoativa por ter menor concentração de tetra-hidrocanabinol (THC) –, para a produção de fibras, com uso na indústria têxtil, de papel e embalagens. A variedade também é usada para fins medicinais quando tem maior concentração de canabidiol (CBD). A Embrapa Agroindústria Tropical, em Fortaleza (CE), fará as análises químicas complementares.
Os trabalhos devem começar após uma inspeção da Anvisa às unidades para atestar se critérios de segurança serão cumpridos. Entre eles está o cultivo em estufas fechadas, equipadas com câme -

ras de vigilância por 24 horas para evitar riscos de desvio do uso ou disseminação das plantas. Também é preciso um sistema eletrônico de controle de acesso que permita a entrada apenas de pessoas autorizadas, que não podem ter antecedentes criminais.
A instituição submeteu o pedido à Anvisa em setembro de 2024. A previsão é de que os estudos levem, no mínimo, 12 anos, e parte deles será realizada com o aporte de cerca de R$ 13,2 milhões da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em um projeto de desenvolvimento de bases científicas e tecnológicas para uma cadeia produtiva de CBD no Brasil. Na decisão, a Anvisa cita o subsídio da Finep como um dos elementos favoráveis à autorização, destacando que o projeto “é considerado estratégico para a soberania produtiva e para a redução da dependência de IFA [insumos farmacêuticos ativos] importados”. A autorização é válida por três anos e pode ser renovada.
“A planta tem potencial para cultivo no Brasil inteiro. Desenvolver cultivares com maior produtividade e assegurar controle de qualidade é fundamental para garantir consistência, segurança e eficiência na produção”, destaca Bittencourt. Ela ressalta, no entanto, que, para uma cadeia produtiva de fato se estabelecer, é preciso que a legislação avance. “A autorização que obtivemos é exclusiva para fins de pesquisa. Não poderemos registrar um novo cultivar a menos que haja uma regulamentação definitiva.”
Em novembro de 2024, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a União e a Anvisa são obrigadas a regulamentar o cultivo de cânhamo para fins medicinais e farmacêuticos com teor abaixo de 0,3% de THC. Antes da Embrapa, a agência sanitária concedeu três autorizações similares para instituições de pesquisa. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em 2022, foi autorizada a importar, armazenar, germinar e cultivar cannabis. A Universidade Federal de Lavras (Ufla) teve o aval da Anvisa em 2023 para o
estudo e a produção de canabinoides in vitro, assim como a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), em 2017. Outras instituições puderam conduzir suas pesquisas apenas por meio de decisões judiciais, como a Universidade Federal de Viçosa (UFV), que obteve autorização para plantar cannabis em 2020, mesmo ano em que a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) conseguiu a licença. A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) foi autorizada pela Justiça em 2022 para cultivo e produção de insumos para pesquisa veterinária. Em 2021, o grupo coordenado pelo farmacêutico André Gonzaga dos Santos, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Araraquara, fez uma parceria com a Associação Terapêutica Cannabis Flor da Vida, de Franca (SP), organização sem fins lucrativos que produz óleos de CBD e THC para pacientes. “Entramos com pedidos na Anvisa para estudar o material da associação em nossos laboratórios em 2022, 2024 e 2025. Todos foram negados”, contou. Segundo ele, a alegação é de que a associação não pode fornecer materiais para pesquisa porque tem apenas autorização judicial para cultivo e a portaria vigente da Anvisa exige que fornecedores de produtos controlados sejam autorizados pela própria agência. “Enfrentamos dificuldades para importar inflorescências de outros países e, dentro do Brasil, não nos é permitido trabalhar com o material cultivado por aqui”, desabafa.
Gonzaga foi um dos 132 especialistas de 31 instituições de pesquisa, entre elas, a Embrapa, integrantes de um grupo de trabalho que elaborou uma nota técnica destacando uma série de entraves que limitam a pesquisa científica com cannabis. O documento foi enviado ao Ministério da Saúde e à Anvisa em agosto de 2025 e mencionado pela agência em seu parecer favorável ao cultivo pela Embrapa. Um dos problemas apontados pelos pesquisadores foi o acesso aos insumos: “Não podemos cultivar e não temos acesso ao que é produzido pelas associações de pacientes e por aqueles que fazem produções domésticas”. Outro ponto diz respeito ao limite de THC: apesar de recomendações do STJ para fixá-lo em até 0,3%, pesquisadores defendem que não haja limite para pesquisa, já que o estudo mais amplo exige acesso a plantas com teores mais altos.
“Por que conceder o cultivo exclusivo à Embrapa e não também às universidades brasileiras que participaram do grupo de trabalho?”, questiona a bióloga Eliana Rodrigues, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Atualmente, com o apoio da FAPESP, ela estuda como os naturalistas europeus descreveram o uso de cannabis pelos indígenas e escravizados africanos no Brasil colonial e como os europeus se relacionam com a planta hoje. Rodrigues avalia que a resistência à liberação do cultivo no país para fins medicinais está ligada à desinformação e à ideia de que seria usado para outros fins que não os terapêuticos.
Um artigo publicado em junho de 2025 nos Cadernos Ibero-americanos de Direito Sanitário avaliou a regulamentação de cannabis medicinal no país e identificou 19 leis estaduais e uma distrital que versam sobre previsão de acesso à planta e derivados. O estudo registra um aumento de leis nos estados, principalmente em 2022 e 2023. “A legislação estadual surge para pressionar o governo federal a regulamentar o tema”, conclui Sandra Alves, coordenadora do Programa de Direito Sanitário da Fiocruz Brasília e uma das autoras do trabalho. l
O projeto e o artigo científico consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.

Estudos analisam por que artigos científicos assinados por mulheres são menos cancelados por erros ou má conduta do que os de autoria masculina
Estudos realizados recentemente reuniram novas evidências e levantaram hipóteses para explicar por que pesquisadores do sexo feminino têm menos artigos científicos invalidados em decorrência de erros ou má conduta do que autores do sexo masculino. Um dos trabalhos avaliou 64.658 papers que sofreram retratação, ou seja, tiveram sua publicação cancelada porque os dados ou as conclusões deixaram de ser considerados confiáveis. A retratação é a retirada formal de um artigo científico publicado em um periódico e pode ser causada tanto por equívocos honestos na coleta ou na análise dos dados como por deslizes éticos, a exemplo de plágio, fraude, manipulação de imagens e duplicação de dados.
A análise, feita por uma equipe do Reino Unido e da Austrália e publicada na revista Science Editor, concentrou-se nos primeiros e nos últimos autores de papers. A posição de primeiro autor normalmente é reservada ao principal encarregado da execução da
pesquisa, enquanto o nome no fim da lista indica liderança e responsabilidade pelo projeto. A maior parte das retratações – seis em cada 10 – tinha homens simultaneamente na primeira e na última posição da lista. As mulheres, por sua vez, eram 26,4% dos primeiros autores dos artigos invalidados e 23,7% dos últimos. É certo que as mulheres publicam menos do que homens – elas representam, segundo o estudo, de 30% a 40% dos primeiros autores e 25% a 30% dos últimos autores, a depender do país de origem e do campo do conhecimento dos artigos. Ainda assim, a proporção de retratações femininas é menor do que a presença delas na produção acadêmica.
Enquanto fraude e plágio foram as causas mais frequentes de retratações dos homens, no caso das mulheres um dos motivos mais comuns nem sequer é de sua responsabilidade direta: 33% dos papers retratados que tinham mulheres como primeiro autor foram invalidados por erros cometidos no processo de edição, como fraude na revisão por pares. Os responsáveis pelo estudo, embora reconheçam que as causas da diferença de gênero permanecem imprecisas, atribuíram a dianteira masculina a uma postura profissional mais competitiva e arrogante deles, que fomentaria uma “cultura de negligência”. Uma das hipóteses levantadas é a de que os homens, por ocuparem com mais frequência postos de liderança e posições de chefia, sofreriam mais pressão para publicar e estariam mais propensos a cometer violações. Por isso, sugerem que a promoção da igualdade de gênero na ciência poderia ter um efeito positivo para melhorar os padrões de integridade porque as mulheres parecem ser mais cautelosas em suas práticas de publicação. Também apontam a necessidade de aliviar a pressão para publicar artigos em grande quantidade como critério de promoção na carreira de pesquisadores.
Em outro levantamento sobre diferenças de gênero nas retratações, uma equipe do Grupo de Estudos de Métodos de Análise Sociológica (Gemass) da Universidade Sorbonne, em Paris, na França, analisou 1 milhão de artigos armazenados no banco de dados OpenAlex e os cotejou com o banco de papers retratados do site Retraction Watch. Foram analisados estudos de autoria única, tanto de homens quanto de mulheres, e também de equipes de pesquisadores compostas por ambos os sexos ou por um único gênero. Equipes mistas com homens e mulheres apresentaram maior probabilidade de retratação do que equipes de um único gênero – só masculino ou só feminino. Grupos mistos liderados por mulheres apresentaram uma probabilidade menor – mas apenas ligeiramente – de sofrer retratações do que grupos mistos liderados por homens. O trabalho foi publicado em abril no periódico Quantitative Science Studies, da Sociedade Internacional de Cientometria e Infometria. Em resposta por e-mail ao Retraction Watch, os cinco autores corroboraram a ideia de que
a incidência relativamente menor de retratações entre mulheres pode refletir uma abordagem mais cuidadosa por parte delas, enquanto os homens tenderiam a assumir comportamentos mais arriscados. Em sua interpretação, a cautela seria neutralizada quando a equipe mista é liderada por um homem, mas faria diferença quando a coordenação do grupo é feminina.
Os pesquisadores da Universidade Sorbonne apontaram uma limitação comum nesse tipo de estudo – que é a dificuldade de inferir com precisão o gênero dos autores com base em seus nomes – e sugeriram que os periódicos deveriam passar a incluir o sexo dos pesquisadores nos metadados dos papers. Eles identificaram a proporção relativa de homens e mulheres analisando os primeiros nomes, mas ficaram atentos a convenções específicas de cada país – reconhecendo casos como o de “Andrea”, tipicamente um nome feminino nos Estados Unidos (assim como no Brasil), mas tradicionalmente masculino na Itália. Segundo eles, ferramentas automatizadas apresentam resultados falhos na indicação do sexo de autores em até 30% dos casos devido à presença apenas de iniciais ou de primeiros nomes ambivalentes.
Uma leitura menos otimista da disparidade de gênero nas retratações é feita pelo médico Paul Sebo, pesquisador da Universidade de Genebra, na Suíça. Para ele, o que tem mais força para explicar o fenômeno é a posição ainda subalterna que as mulheres têm na ciência, causada por uma dificuldade estrutural de ocupar funções proeminentes em equipes de pesquisa, o que implica baixa visibilidade de sua produção. “As mulheres têm baixa representação em cargos acadêmicos de alto nível, lideram menos projetos de pesquisa e, portanto, podem estar menos expostas aos tipos de responsabilidades e riscos que são comumente associados a retratações”, afirmou Sebo à revista Nature. Ele é um dos autores de um estudo, divulgado na revista PLOS ONE, que analisou 878 artigos publicados em mais de uma centena de revistas médicas e retratados entre 2008 e 2017. Usando uma ferramenta de inteligência artificial para inferir o gênero dos autores, concluiu que apenas 16,5% dos primeiros autores e 12,7% dos últimos eram mulheres. Ao comentar os resultados do estudo a pedido da Nature, o linguista e especialista em escrita acadêmica Curtis Rice, ex-reitor da Universidade Norueguesa de Ciências da Vida, em Oslo, disse que o artigo de Sebo levanta questões relevantes, como o peso de homens e mulheres na negociação e definição da lista de autores de artigos e a atenção que a produção masculina e a feminina recebem da comunidade científica. “Minha especulação é que, como os homens são mais visíveis na ciência em geral, seu trabalho está sendo mais escrutinado”, afirmou. l MÔNICA MANIR
Os perigos do uso de programas de inteligência artificial para o aconselhamento sobre saúde mental
Uma pesquisa coordenada por cientistas da computação da Universidade Brown, nos Estados Unidos, em colaboração com profissionais de saúde mental, evidenciou perigos no uso de programas de inteligência artificial generativa no aconselhamento de usuários com problemas psicológicos. De acordo com o estudo, os chatbots , programas como o ChatGPT que simulam uma conversa humana por texto ou voz para responder a perguntas feitas pelo usuário, violam de várias maneiras diferentes o código de conduta profissional da Associação Americana de Psicologia.
O trabalho, apresentado em outubro em uma conferência sobre inteligência artificial e ética realizada em Madri, na Espanha, levou um ano e meio para ser concluído. Os cientistas queriam saber como perguntas de usuários sobre saúde mental feitas a programas de inteligência artificial poderiam guiar atitudes – e quais sugestões de comportamento eram feitas. Para tanto, sete profissionais de saúde mental treinados em técnicas de terapia cognitivo-comportamental realizaram 137 sessões de aconselhamento com diferentes versões dos chatbots GPT (OpenAI), Claude (Anthropic) e LLaMa (Meta). Posteriormente, três psicólogos clínicos ajudaram a identificar possíveis violações éticas nas conversas.
Os 15 tipos de violações éticas encontradas foram classificados em cinco categorias: falta de compreensão de contexto (ignorar as experiências vividas pelas pessoas e recomendar intervenções simplistas e padronizadas); colaboração terapêutica ineficaz (dar respostas impositivas e enganosas que reforçam crenças
negativas do usuário); empatia enganosa (usar frases como “Eu entendo” para criar uma falsa conexão emocional com o usuário); discriminação (exibir preconceito de gênero, cultural ou religioso); e incapacidade de gerenciamento de crises (negar atendimento sobre tópicos sensíveis, não encaminhar usuários para profissionais apropriados ou responder com indiferença a situações de crise, incluindo ideação suicida).
Os autores acreditam que a inteligência artificial pode ajudar a reduzir as barreiras ao tratamento decorrentes do alto custo ou da falta de profissionais treinados, mas ressaltam a necessidade de uma implementação criteriosa das tecnologias, com regulamentação e supervisão adequadas. O alerta tem razão de ser. Segundo estudo publicado em novembro na revista JAMA Network Open , 13,1% dos jovens nos Estados Unidos, algo como 5,4 milhões de indivíduos, usaram inteligência artificial generativa para obter conselhos sobre saúde mental – 65,5% interagiam com o programa pelo menos uma vez ao mês.
Periódico sobre ética editado pela Associação Médica Americana vai deixar de circular em 2026
Sem informar o motivo, a Associação Médica Americana (A MA) anunciou que deixará de publicar em 2026 o A MA Journal of Ethics, periódico mensal de acesso aberto sobre ética médica. Fundado em 1999 como Virtual Mentor, assumiu o título atual em 2015 e sempre manteve um modelo peculiar: cada edição abordava um tema específico, que era selecionado e produzido por estudantes e residentes de cursos de medicina convidados, sob a supervisão do corpo editorial da revista. A publicação incentivava os colaboradores a explorar desafios éticos e controvérsias da prática médica, como a investida do
capital privado na medicina, parcerias entre médicos e advogados para lidar com a desigualdade na saúde pública, ética em publicações científicas, entre outros. A principal hipótese para a descontinuidade é a redução de custos. Segundo dados levantados pelo site Retraction Watch, a receita da AMA com publicações, que representa cerca de 12% do total da organização, diminuiu em US$ 2,1 milhões em 2024, especialmente devido à queda na publicidade em suas outras 13 revistas – a mais famosa é o Journal of the American Medical Association (JAMA). O AMA Journal of Ethics não entrava nessa conta porque sempre foi um periódico on-line gratuito e sem publicidade. O conteúdo publicado será mantido no site. “Tenho esperança e confiança de que o conteúdo arquivado dessa revista permanecerá relevante por muitos anos”, escreveu Audiey Kao, há mais de duas décadas nos cargos de editor-chefe do AMA Journal of Ethics e de vice-presidente do Grupo de Ética da AMA, em um comunicado no site da revista.
Conhece a nossa newsletter de integridade científica?

Acesse o QR Code para assinar nossas newsletters

➔ Após retração de 11% do rendimento real médio no Brasil, em 2021 – possível efeito da pandemia de Covid-19 –, seu valor-hora elevou-se continuamente até chegar a R$ 21,13, em 2025. Além das flutuações conjunturais, esse valor reflete o efeito de elementos estruturais, como nível de instrução e sexo
RENDIMENTO REAL MÉDIO
POR HORA – BRASIL
Por sexo (2020-2025)
➔ Em 2025, os titulados no ensino superior receberam R$ 38,87 por hora, 175% a mais que os não titulados (R$ 14,11). Esse diferencial pouco se alterou ao longo do período analisado (2020-2025)
➔ A desigualdade de renda entre homens e mulheres é marcante. Em 2025, homens ganharam em média R$ 22,19 por hora, 12% a mais que as mulheres. Entre os que concluíram o ensino superior, a diferença aproxima-se de 37%: R$ 45,30 para homens e R$ 33,11 para mulheres, mas é menor para os que não o concluíram: 14% a favor dos homens (R$ 15,19 ante R$ 12,34)
RENDIMENTO REAL MÉDIO
POR HORA – BRASIL Pessoas com e sem ensino superior, por sexo (2020-2025)
➔ No estado, os rendimentos reais superaram a média nacional durante todo o período. Seu valor horário oscilou de R$ 25,63 (2020) para R$ 24,86 (2025), com queda de 14% em 2021. O crescimento real acumulado entre 2020 e 2025 foi de 6%
RENDIMENTO REAL MÉDIO
POR HORA – SÃO PAULO
Por sexo (2020-2025)
➔ Em 2025, o prêmio educacional paulista (158%) foi pouco inferior ao nacional: os titulados no ensino superior receberam R$ 41,83 por hora ante R$ 16,20 dos não titulados. Os rendimentos dos paulistas superaram a média nacional seja entre os que completaram o ensino superior (8%), seja entre os que não o completaram (158%)
➔ A desigualdade entre homens e mulheres em São Paulo é ainda maior que no Brasil. Em 2025, homens ganharam R$ 26,82 por hora, 19,7% a mais que os R$ 22,41 das mulheres. Entre titulados no ensino superior, os homens receberam R$ 48,47, valor 37% maior que os R$ 35,32 das mulheres. Entre os não titulados, a diferença foi de 24% em favor dos homens (R$ 17,58 ante R$ 14,14)
POR HORA – SÃO PAULO
Pessoas com e sem ensino
por sexo (2020-2025)

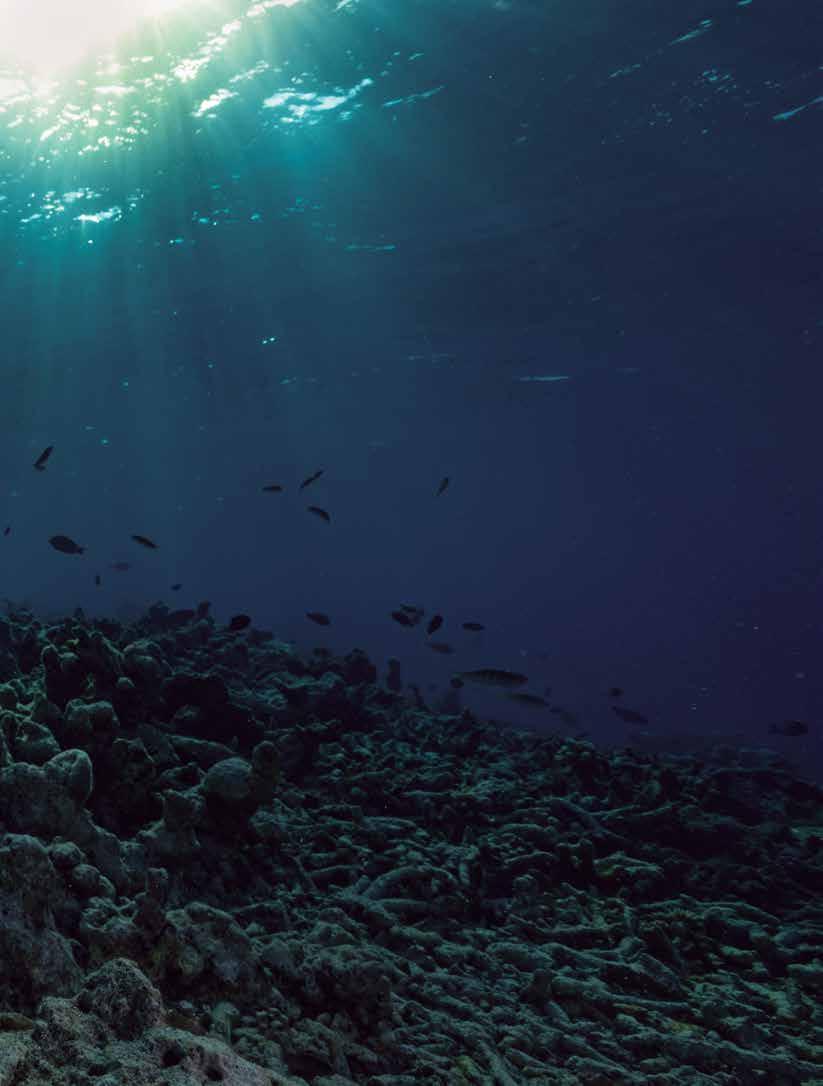
Coral crescendo em área degradada na Arábia Saudita: recomeço possível
Ante o branqueamento e a mortalidade de recifes em consequência de ondas de calor, pesquisadores buscam resgatar essa peça essencial nos ecossistemas marinhos
MARIA GUIMARÃES
Em 2024, uma onda de calor no oceano foi responsável por uma extensa mortalidade de recifes de coral em vários lugares do mundo. No Brasil, os efeitos foram mais sérios na costa do Nordeste, de acordo com artigo de setembro de 2025 na revista científica Coral Reefs. “Uma vez que o branqueamento se manifesta, só o que podemos fazer é documentar”, lamenta o oceanógrafo Miguel Mies, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO-USP), primeiro autor do artigo e coordenador de planejamento do projeto Coral Vivo, responsável pelo monitoramento. Bem longe dali, no mar Vermelho, pesquisadores liderados pela bióloga brasileira Raquel Peixoto, da Universidade de Ciência e Tecnologia Rei Abdullah (Kaust), na Arábia Saudita, mergulhavam na Vila de Probióticos de Corais, um laboratório subaquático, e também encontravam a paisagem praticamente destruída pelas prolongadas altas temperaturas. É lá que o grupo estuda maneiras de ajudar esses organismos a enfrentar o aquecimento global por meio do desenvolvimento de suplementos microbianos (probióticos). “A situação é gravíssima e vai piorar antes de melhorar”, avalia o biólogo marinho Clovis Castro, aposentado pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN-UFRJ) e presidente do Instituto Coral Vivo, do qual foi cofundador em 2003.
A mortandade de corais observada de 2024 para 2025 empurrou os corais para além de um ponto a partir do qual pode não haver recuperação, de acordo com o relatório “Global tipping
points 2025”, elaborado por uma rede internacional que envolve 160 pesquisadores de 23 países, publicado em outubro como pressão política para a 30ª Conferência das Partes, a COP30, que aconteceu em novembro em Belém. O documento afirma que o ponto de não retorno térmico previsto para os corais, de 1,2 grau Celsius (°C), já foi ultrapassado e o aquecimento atual, de 1,4 °C, basta para causar uma grande mortalidade desses seres tidos como engenheiros de ecossistemas que criam ambientes propícios a complexas e diversas comunidades de organismos. Existem cerca de 1.730 espécies de corais chamados verdadeiros, ou escleractíneos, que produzem um esqueleto de carbonato de cálcio. Metade deles forma recifes onde, em águas rasas, algas microscópicas (principalmente as conhecidas como zooxantelas) e visíveis vivem em associação.
“Os recifes impõem barreiras à circulação da água e criam redemoinhos, áreas onde o movimento é mais rápido ou mais lento”, explica Castro. Diferentes seres marinhos habitam essa paisagem, e com eles seus predadores e assim por diante. Isso gera uma cadeia alimentar que chega às mesas humanas, e por isso considera-se que centenas de milhões de pessoas no mundo todo dependam dos corais. Mesmo que o aquecimento seja freado em 1,5 °C, de acordo com o relatório, os corais que constroem recifes em águas quentes têm 99% de risco de ultrapassar o ponto do qual não conseguiriam se recuperar. O problema é que a maior parte dos especialistas já considera essa meta inverossímil, sendo mais provável um aquecimento maior.
Acropora na Austrália com peixes associados (abaixo); em Abrolhos, Pocillopora sp. e Mussismilia braziliensis (à dir.)

Branqueamento e mortalidade em massa de recifes de coral vêm sendo detectados desde os anos 1990, com destaque para a Grande Barreira de Corais, na Austrália, e o Caribe, na América Central. Os corais ficam brancos porque em determinadas situações as algas microscópicas que os habitam e executam uma parte importante de suas funções fisiológicas, além de fornecer energia e nutrição, sofrem alterações metabólicas que as tornam tóxicas para os hospedeiros, e são por isso eliminadas. Esse estado pode ser reversível, mas danos muito intensos causam a morte dos corais, que começam a cair em ruínas e perdem a vida associada. Isso nunca tinha acontecido em grande escala nas águas brasileiras até 2019, quando uma onda de calor chegou a causar grande mortalidade, principalmente no sul da Bahia. Os danos incluíram a região do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, conhecido por seus exuberantes e variados ambientes coralíneos. “Esse tremendo branqueamento pegou a comunidade de pesquisadores de calças curtas”, relembra Mies, do IO-USP.
A situação de Abrolhos levou a comunidade de especialistas brasileiros a se organizar e a estabelecer, em 2021, um protocolo padronizado de monitoramento que reúne cerca de 90 pesquisadores de 20 instituições ao longo de toda a


costa do país, com financiamento parcial da Petrobras: o Programa Nacional Integrado de Monitoramento de Branqueamento. “Quando veio a onda de calor de 2024, estávamos preparados e obtivemos um produto muito bonito, porém com resultados tristes”, afirma. O plano agora é manter esse programa em andamento constante sob a gestão do Instituto Coral Vivo, que tem sede em Santa Cruz Cabrália, na Bahia.
Oartigo da Coral Reefs é resultado desse trabalho que envolve duas saídas anuais de monitoramento quando as temperaturas estão dentro do normal, e com mais intensidade quando há uma onda de calor: amostragens antes, durante o pico e depois. “Verificamos 2.700 quilômetros [km] da costa, do Ceará a Santa Catarina, mais duas ilhas oceânicas – o atol das Rocas e Fernando de Noronha”, relata Mies. A primeira fica a cerca de 250 km de Natal, no Rio Grande do Norte, e a segunda por volta de 350 km. Usando fotografia ao longo de linhas preestabelecidas, as equipes medem a cobertura do fundo e comparam mudanças ao longo do tempo. “Vimos 96% dos corais branqueados no Nordeste.” Em Maragogi, Alagoas, 88% morreram.


A concentração dos estragos na região Nordeste se deveu a temperaturas mais quentes e prolongadas, mas também à composição de espécies. A maior parte da mortalidade em Alagoas era de corais-de-fogo (Millepora alcicornis), que não são considerados corais verdadeiros, mas têm igual importância na formação de refúgios para toda uma fauna e flora submarina. Uma esperança, de acordo com Castro, é que esses organismos têm uma grande capacidade de regeneração e crescem depressa. Basta um pedacinho para as células continuarem a proliferar e a gerar novas estruturas. Mussismilia harttii foi outra espécie muito afetada. Nas regiões Sul e Sudeste, a espécie mais comum é o coral-cérebro (Mussismilia hispida), aparentemente mais tolerante.
Castro conta que o projeto Coral Vivo busca direcionar as pesquisas para encontrar soluções. “Por exemplo, o que há de especial nos 12% que sobreviveram em Maragogi?” A partir dessa resposta pode ser possível selecionar linhagens mais resistentes às altas temperaturas.
Mies se preocupa com o futuro, visto que as ondas de calor no Atlântico Sul, que costumam acontecer entre abril e maio, estão cada vez mais intensas, duradouras e frequentes, com consequências visíveis, como mostrou artigo da bióloga Giovanna Destri, sua estudante de doutorado, publicado em abril na revista científica Global Change Biology. Ela analisou os registros de eventos de branqueamento utilizando o índice mais usado internacionalmente, o Degree Heating Week: por quantas semanas e em quantos graus a temperatura fica aumentada em cada local. “Com um aquecimento de 3 °C, que é plausível até o fim do século, sobrariam apenas os 5% dos corais que são mais resistentes”, conclui.
“Há milhares de bancos de corais de águas profundas entre o Uruguai e a bacia de Campos, entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo”, afirma. Em profundidades maiores do que 150 metros, as temperaturas são mais estáveis, protegidas das mudanças climáticas, um ambiente propício para a permanência de uma grande diversidade de corais escleractíneos de linhagens que persistem há 460 milhões de anos, como mostrou um estudo da bióloga italiana Claudia Vaga publicado em outubro na Nature como resultado de seu doutorado no grupo de Kitahara.
Apesquisadora, atualmente em estágio de pós-doutorado no Instituto Smithsonian, nos Estados Unidos, analisou sequências de centenas de espécies de corais e detectou linhagens que resistiram às perturbações do período Mesozoico, a partir de 200 milhões de anos atrás. São principalmente as que vivem em áreas mais profundas, onde os corais mais comuns são pequenos e solitários, embora algumas espécies possam produzir recifes – 26% delas são coloniais, mas não abrigam algas pela ausência de luz. Kitahara conta com essas linhagens para persistirem, embora, pela ausência de algas e peixes coloridos, além da profundidade inviável, elas não atraiam turistas nem mobilizem paixões conservacionistas. “O nosso olhar abarca um piscar de olhos, eles são muito mais resistentes do que pensamos e sobreviveram a todos os outros eventos de extinção em massa”, pondera. “Mas isso não garante que recifes como conhecemos permaneçam; o mais provável é que mudem.”
O pesquisador ressalta a importância da microbiota associada aos corais, sem a qual os organismos desenvolvem uma série de doenças. A oceanógrafa Aline Zanotti, pesquisadora em Depois do branqueamento de 2024 em Pernambuco:
O oceanógrafo Marcelo Kitahara, do Centro de Biologia Marinha (Cebimar) da USP, cultiva um otimismo que vem de um olhar evolutivo.


estágio de pós-doutorado no grupo de Kitahara, sequenciou o DNA das bactérias associadas aos corais-cérebro do arquipélago de Alcatrazes, a 35 km da costa paulista. A ideia é desenvolver uma marca genética da comunidade bacteriana. “Ter um monitoramento de espécies permitirá ver como o microbioma muda ao longo do tempo e relacionar esse perfil ao estresse.” Com esses dados, seria possível avaliar marcadores fisiológicos dos corais e detectar problemas antes de eles serem aparentes.
Seu grupo está analisando amostras antes e depois do evento de branqueamento em Abrolhos e, em dados preliminares, não detectou perda de diversidade genética. O plano agora é analisar as características moleculares para entender se houve adaptação às novas condições, inclusive por meio da instalação de uma nova microbiota que consiga funcionar no ambiente modificado. “Os indivíduos mais fortes têm uma diferença de genótipo, isso é um outro ponto de esperança.”
Miguel Mies vê com reticência as iniciativas de restauração e cultivo, uma vez que os berçários são perdidos a cada um desses períodos mais quentes. “É preciso aprimorar muito as técnicas

para ver se funciona.” Kitahara completa que, antes de mais nada, é preciso saber quais espécies têm potencial de sobreviver em cada local, em dadas condições ambientais. “Vale a pena investir em locais repetidas vezes sujeitos a estresse?”, questiona.
O grupo da Kaust, na Arábia Saudita, busca justamente aprimorar as técnicas de restauração de recifes. “Os anos de 2023 e 2024 foram muito tristes com o branqueamento global intenso, era chorar debaixo da água”, conta a bióloga carioca Erika Santoro, pesquisadora em estágio de pós-doutorado no Laboratório de Microbiomas Marinhos, coordenado por Raquel Peixoto. Nos últimos cinco anos, todas as semanas ela mergulha nos recifes ao redor da universidade, no mar Vermelho. Ela conta que a onda de calor de 2024 durou meses, foi como uma febre prolongada.
Santoro defende que berçários de corais sejam formados com espécies reconhecidas como mais resistentes ao aumento de temperatura e usados como fonte para projetos de restauração e produção de probióticos para corais. Esse tipo de tratamento parte do entendimento de que algumas populações e indivíduos são mais resistentes –uma capacidade associada aos microrganismos, como ela e colegas mostraram em artigo publicado em janeiro de 2025 na Science Advances. “O

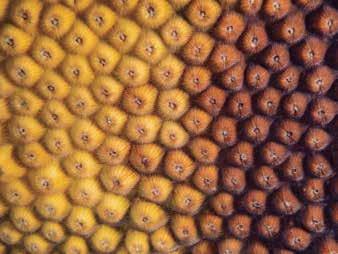

objetivo é acelerar o processo de restauração do microbioma para manter os corais vivos enquanto trabalhamos para mitigar o aquecimento global”, explica ela. Na Vila de Probióticos de Corais, o laboratório submarino, a equipe testa como esses suplementos microbianos afetam a sobrevivência e o crescimento dos corais, como descreve artigo publicado em julho na revista Ecology and Evolution . Depois do branqueamento em massa de 2024, o laboratório deixou de ser apenas um mergulho na beleza e local de testes ecológicos para abrigar experimentos de restauração.
“Os probióticos ajudam o coral a sobreviver e manter as algas por meio da redução do estresse oxidativo e da produção de metabólitos protetivos, além de impedir que patógenos dominem”, afirma a pesquisadora. Nos experimentos, o grupo separa trechos do recife e, em algumas partes, aplica o coquetel microbiano. O trabalho envolve também encontrar a melhor forma de aplicação. Em vez de inserir nas reentrâncias de cada coral, agora a equipe desenvolveu drágeas que liberam o probiótico aos poucos. Mesmo assim, o coquetel fica retido pelo coral e não é detectado nos peixes, no sedimento e na água em torno. Para monitorar o resultado, usam uma sonda que indica a eficiência da fotossíntese feita pelas algas. “Conseguimos fazer medições fisiológicas e do estresse oxidativo, além de visualmente avaliar o branqueamento e a sobrevivência.”
A Vila dos Probióticos também tem um papel de conscientização, ao promover passeios para estudantes e visitantes. “Pusemos placas como se fosse uma cidade, com rua das Anêmonas, rua do Polvo,
nomes assim; é um sucesso com as crianças”, conta Santoro. Um desafio é proteger o local, por onde navegam muitos pescadores. A língua é uma barreira de comunicação, mas os pesquisadores não sentem resistência e estão buscando maneiras de demarcar e proteger o espaço para que pescadores não joguem âncoras ou passem redes por ali.
Um desafio importante para proteção dos corais é a necessidade de uma ação global contra o aquecimento. Por isso o tema é levado para as COP – até agora, sem consequências palpáveis. Castro conta que esteve em Belém durante a conferência, como parte de uma exposição que o projeto Coral Vivo montou no Boulevard Shopping e que se tornará itinerante, com informações sobre mudanças climáticas, efeitos nas florestas e nos corais, além da necessidade de uma transição energética: “Mudamos o clima, agora o clima muda tudo”. O público-alvo eram os belenenses, que chegaram a 35 mil visitantes na exposição.
“A solução é política, em uma escala que o Coral Vivo não consegue nem arranhar”, avalia Castro, lamentando a lentidão do progresso. “Não temos séculos para conseguir resultados; no máximo, talvez, algumas décadas para que o mundo inteiro encontre maneiras de restaurar ecossistemas de corais.” l
Os projetos e os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
Recifes saudáveis abrigam diversidade, mesmo com cores sutis, como este na Nova Caledônia
ECOLOGIA
Estudo avalia o impacto da perda de hábitat na disponibilidade de caça, essencial na segurança alimentar de povos indígenas e tradicionais da Amazônia
MARIANA CECI
Na região amazônica, a alimentação de quase 11 milhões de pessoas – em sua maioria comunidades indígenas e tradicionais e pequenos agricultores – depende da caça. Mas esse modo de vida está ameaçado. Um estudo publicado em 26/11 na revista Nature mostra que, em áreas com mais de 70% de desmatamento acumulado, o número de animais caçados por pessoa caiu quase 75% ao longo de seis décadas. Segundo o artigo, cujo primeiro autor é o biólogo André Pinassi Antunes, da Rede de Pesquisa em Conservação, Uso e Manejo da Fauna da Amazônia (RedeFauna), o desmatamento compromete um sistema alimentar que há séculos sustenta a saúde dessas populações e a biodiversidade da floresta.
Conduzido por pesquisadores de mais de 40 instituições, o estudo é o primeiro a apresentar padrões em larga escala sobre como as mudanças ambientais afetam a caça praticada por povos tradicionais na Amazônia. A análise reúne
registros coletados entre 1965 e 2024 sobre a captura de mamíferos, aves, répteis e anfíbios.
Há cerca de 2 milhões de caçadores rurais na Amazônia. Cada um deles abate, em média, um animal a cada duas semanas – aproximadamente 25 por ano –, o que corresponde anualmente a cerca de 345 quilos de carne. Esses caçadores são responsáveis por abastecer as populações rurais da região. “A floresta é a despensa das famílias amazônicas. Onde há caça, há floresta viva”, afirma Antunes.
A caça varia conforme a região, refletindo diferenças culturais, ambientais e de disponibilidade da fauna. O levantamento registrou ao menos 490 espécies utilizadas como alimento. Os mamíferos são os mais capturados (66,5%), seguidos por aves (21,6%), répteis (11,2%) e anfíbios (0,006%). Entre os mamíferos, destacam-se os ungulados – animais com cascos, como a queixada –, em seguida vêm os grandes roedores e primatas. Também entram na lista iguanas e aves como jacus e mutuns, além de tatus, aves aquáticas e tartarugas, embora em proporções menores.

Os ungulados, como a queixada (Tayassu pecari ), são os mais caçados
A carne silvestre fornece proteína de fácil absorção, com todos os aminoácidos essenciais e micronutrientes, que muitas vezes não estão disponíveis em níveis adequados nos alimentos vegetais. O acesso à carne de caça está associado a melhores indicadores de saúde infantil, incluindo níveis mais altos de hemoglobina e maior ingestão de ferro e zinco. Isso é especialmente relevante para a região, onde a deficiência de micronutrientes é comum e se soma ao impacto de doenças como malária e parasitoses intestinais.
No entanto, o estudo mostra que, em quase 500 mil quilômetros quadrados (km²) de áreas desmatadas, a produtividade da carne de caça caiu cerca de 67% nas últimas décadas. Isso não apenas compromete a alimentação de quem depende desses animais para sobreviver, como também ameaça um dos sistemas alimentares mais sustentáveis do planeta –e a própria biodiversidade da floresta. Em áreas mais degradadas ou próximas de centros urbanos, espécies grandes e sensíveis à pressão de caça – como macacos-aranha, guaribas e barrigudos –tornam-se raras, enquanto tatus, capivaras, jacus e pombos, mais resistentes e comuns em paisagens alteradas, passam a predominar na dieta.
“Historicamente, essas populações construíram suas próprias maneiras de garantir a disponibilidade dessas espécies, porque dependem delas para sobreviver”, afirma a nutricionista Michelle Jacob, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), coautora do estudo. Entre essas estratégias estão regras locais de manejo, tabus e mitos que orientam quando e como caçar, evitando o abate excessivo e contribuindo para manter o ciclo de vida da floresta.
À medida que a caça diminui, cresce a substituição por carnes domésticas mais baratas, como o frango, que oferecem menos ferro, proteína e vitaminas do que a carne silvestre. O resultado é uma alimentação menos nutritiva e uma floresta empobrecida em biodiversidade. “Além dos aspectos nutricionais, a introdução de outras espécies por qualquer iniciativa que parta de fora das próprias comunidades representa uma medida colonialista, que ameaça os costumes e tradições que, há séculos, ajudam a proteger a floresta”, avalia Antunes.
A carne de paca (Cuniculus paca), um roedor, é tida como muito saborosa

Essa substituição também tem impactos ambientais relevantes. Como a criação de gado é hoje o principal motor do desmatamento na Amazônia – responsável pela perda de 0,63 milhão de km² de floresta desde o fim da década de 1970 –, transferir para o gado a proteína obtida por meio da caça exigiria expandir ainda mais a fronteira agropecuária. O estudo publicado na Nature estima que seria necessária a conversão de 7.603 a 63.803 km² de floresta em pasto. Esse cenário, em território nacional, resultaria em emissões anuais equivalentes a até 3% das registradas no mundo todo.
Com o avanço do desmatamento e da urbanização, os pesquisadores identificam dois processos que ajudam a explicar o declínio da caça tradicional: a redução da fauna, resultado direto da perda de hábitat, e a simplificação alimentar, quando a dieta se torna menos diversa e menos nutritiva. Esse efeito já é observado nas cidades brasileiras, onde o acesso à alimentação saudável é fortemente influenciado pela renda.
Um estudo coordenado pelo nutricionista Sávio Marcelino Gomes, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), publicado na Scientific Reports em 2023, constatou que apenas 1,3% dos brasileiros consome alimentos de alta biodiversidade, como plantas nativas, espécies não convencionais e carnes silvestres. Esse
consumo está concentrado em povos indígenas, quilombolas e moradores rurais, que mantêm o uso alimentar de dezenas de espécies. No resto do país, a maior parte das calorias vem de um conjunto restrito de ingredientes industrializados: trigo, milho, arroz, soja e frango.
“Quem tem recursos financeiros consegue acesso a uma variedade maior de frutas, legumes e alimentos frescos, enquanto as populações de menor renda acabam restritas a alimentos ultraprocessados e opções com menor valor nutricional”, afirma a nutricionista Marina Norde, pesquisadora do Sustentarea, núcleo de pesquisa e extensão da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP), que não participou do artigo da Nature. Para a pesquisadora, o estudo liderado por Antunes contribui para preencher lacunas sobre populações que historicamente permanecem sub-representadas em pesquisas nacionais oficiais.
“A biodiversidade alimentar que se mantém próximo às capitais da região Norte, por exemplo, está ligada à continuidade de práticas e saberes indígenas. Quando esses conhecimentos se enfraquecem, a alimentação tende a tornar-se menos nutritiva e diversa. Compreender as dinâmicas internas dessas populações é essencial para entender o que está acontecendo com os sistemas alimentares da Amazônia”, sintetiza Norde. l
Os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
Risco de extinção dos jumentos no Brasil mobiliza pesquisadores e criadores
MARIANA CECI

Você já experimentou leite de jumenta? Se não, experimentaria? Tem baixo teor de gordura, é indicado para quem tem intolerância alimentar e sua composição o faz ser cogitado como alimento para recém-nascidos que não podem receber leite materno ou de vaca. A busca por novas formas de valorização dos jumentos tem se tornado um dos principais meios para evitar a extinção desses animais, também chamados de asnos ou jegues (Equus africanus asinus). Dóceis, fortes e dotados de orelhas enormes, os jumentos nordestinos – uma das três raças brasileiras – correm o risco de desaparecer até 2030, em consequência do abate desenfreado para produção de um composto com supostas propriedades rejuvenescedoras da medicina tradicional chinesa. Pesquisadores e criadores se mobilizam para evitar o extermínio e ressaltar a importância genética desses animais, usados no transporte de cargas e pessoas e na agricultura desde o início da colonização. No III Workshop Internacional Jumentos do Brasil, realizado em junho de 2025 em Maceió (AL), foi divulgada a “Declaração de Maceió – Estado de emergência: Extinção do jumento nordestino”, alertando para a redução de 94% do rebanho nacional de asininos (jumentos e jumentas), que caiu de 1,3 milhão em 1997 para 78 mil em 2025, de acordo com estimativas de
pesquisadores baseadas em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura e Pecuária (SIF-Mapa) e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).
Segundo o Mapa, 248 mil animais foram abatidos, uma média de 113 por dia, entre 2018 e 2023. Enquanto no século passado o interesse estava na carne do jumento, atualmente a motivação é a pele dos animais, utilizada na produção de um composto chamado ejiao. Feito com o colágeno extraído da pele dos jumentos, é bastante consumido na China e vendido on-line por até US$ 920 o quilograma (kg). De acordo com a organização não governamental britânica The Donkey Sanctuary, o consumo de ejiao impõe a necessidade de matar 6 milhões de jumentos por ano.
A procura pelo composto praticamente dizimou a população de jumentos em países como Quênia e Togo. Para evitar a extinção da espécie, a União Africana decretou em fevereiro de 2024 uma moratória de abate desses animais por 15 anos em seus 55 países-membros. Na Itália, onde as populações sofreram uma redução de 95% entre 1939 e 1996, os jumentos voltam a ser valorizados para a produção de carne e leite ou para uso no lazer e turismo. No Brasil, algumas cidades, como Jericoacoara, no Ceará, e Cairu, na Bahia, proibiram o uso de jumentos para puxar charretes e

outros veículos de tração animal após denúncias de maus-tratos. Na contramão do movimento de preservação da espécie, uma decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), publicada em novembro de 2025, reconheceu a legalidade do abate de jumentos no Brasil.
Os animais abatidos para extração de colágeno são capturados à beira de estradas, aonde chegam depois de serem abandonados. Criá-los, visando a produção de ejiao, não seria economicamente viável, na avaliação da bióloga Patrícia Tatemoto, representante da Donkey Sanctuary na América Latina. A gestação dura 12 meses e cada animal precisa viver por cerca de três anos até atingir o peso de abate, o que eleva o custo de produção para cerca de R$ 2 mil – muito acima do valor de mercado de um jumento nordestino, que não costuma ultrapassar R$ 180. “A China, mesmo com subsídios governamentais, não consegue criar jumentos na velocidade necessária para
Jumentos, cavalos e zebras descendem de um ancestral comum e depois seguem caminhos evolutivos próprios
Época estimada de surgimento
Época aproximada de divergência (caminhos evolutivos distintos)
Número de cromossomos
atender à demanda. Por isso, a busca se deslocou primeiro para países africanos e, agora, para o Brasil”, diz Tatemoto.
Essa forma de exploração, além de acarretar a redução populacional, oferece riscos à saúde pública. A falta de controle sanitário favorece a transmissão de zoonoses – doenças que podem passar do animal para o ser humano –, especialmente quando o abate e o processamento da carne são feitos com baixa fiscalização. O médico-veterinário Pierre Barnabé Escodro, com sua equipe da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), analisou amostras de 104 animais destinados ao abate e identificou problemas graves de saúde, como má nutrição, inflamação sistêmica e sinais de maus-tratos, como argumentado em um estudo publicado em março de 2025 na revista Animals
Em 2019, equipes da Donkey Sanctuary, de outra organização não governamental, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, e da Universidade Federal da Bahia (UFBA) resgataram cerca de mil jumentos em uma fazenda entre Euclides da Cunha e Canudos, na Bahia. Parte
Híbridos de cavalo e jumento
Mula: mãe égua e pai jumento
Burro: mãe jumenta e pai cavalo
Jumento / Asno (E. africanus asinus)
Cavalo / Égua (E. ferus caballus) Zebra-da-montanha (E. zebra)
Outros equídeos extintos (E. lambei, E. scotti etc.) Zebra-da-planície (E. quagga)
Zebra-de-grévy (E. grevyi )

Jumento nordestino ajuda no transporte de sisal em Valente, na Bahia
deles havia sido abandonada com a suspensão temporária do abate determinada pela Justiça.
A médica-veterinária da UFBA Thereza Bittencourt acolheu 166 em sua fazenda, mas muitos não resistiram às doenças que já haviam contraído. “Herpes, anemia... Para cada doença que testávamos, o resultado era positivo”, ela conta. Do grupo inicial, restaram cerca de 70. “Depois do resgate, não consigo mais ouvir alguém chamando outro de jumento de forma pejorativa. São animais muito inteligentes e carinhosos”, afirma Bittencourt.
Um caminho cogitado para reduzir o abate está na intensificação do uso do leite de jumenta, já vendido na Itália, França e outros países da Europa. Seu poder nutritivo chama a atenção. Em comparação com o leite humano, de camela, vaca, búfala, ovelha, cabra e égua, o de jumenta tem alto teor de peptídeos bioativos, como são chamadas as cadeias curtas de aminoácidos com ações antioxidantes e anti-inflamatórias, de acordo com um estudo da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas (FEA-Unicamp) publicado na revista Amino Acids em março de 2022. Por enquanto, como a produção é limitada, o litro do leite de jumenta chega a custar R$ 125. Já o queijo, um dos mais caros do mundo, é vendido por R$ 3 mil o kg no Brasil e o equivalente a R$ 8 mil na Europa.
Uma jumenta da raça nordestina pode produzir cerca de 5 litros (L) por dia, menos que os 20 a 30 L diários, em média, de uma vaca. Como as propriedades nutritivas compensam a produtividade, uma equipe da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (Ufape) examina a viabilidade de utilizar esse leite em unidades de terapias intensivas (UTIs) neonatais e contribuir para o reabastecimento dos bancos de leite. “O fato de o soro do leite de jumenta ter mais aminoácidos livres que o do leite de vaca faz com que seja mais fácil de digerir e provoque menos alergias”, comenta o zootecnista Jorge Lucena, coordenador da pesquisa.
O trabalho começou em 2018, quando pesquisadores da Ufape foram procurados pela Polícia Rodoviária Federal em busca de alternativas para reduzir acidentes causados por jumentos nas rodovias. Com a popularização das motocicletas, o animal – antes essencial para o transporte e o trabalho no campo – passou a ser visto por muitos como símbolo de atraso. Parte da população de jumentos então foi abandonada e passou a vagar pelo sertão. Lucena explica que os animais remanescentes costumam buscar o calor do asfalto à noite, aumentando o risco de colisões.
A ideia de aproveitar o leite em UTIs neonatais ganhou força quando os pesquisadores identificaram estudos realizados na Itália, onde está previsto em lei o fornecimento de leite de jumenta para recém-nascidos impossibilitados de receber leite materno. “Estamos na fase final dos chamados testes de prateleira, que avaliam a estabilidade, prazo de validade e segurança do produto armazenado. Depois, seguiremos para os testes clínicos, com as equipes médicas, para ver se o leite de jumenta poderia efetivamente ser uma alternativa para os recém-nascidos”, afirma Lucena. Outra forma de proteção da espécie avançou pouco. Em agosto de 2024, instituições de proteção aos animais solicitaram ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) o registro do jumento como patrimônio cultural do país. O pedido foi negado, mas não faltam referências à cultura – e não só do Brasil. Longe da imagem moderna de pouca inteligência, o jumento aparece, como símbolo de humildade e de trabalho duro, em hieróglifos, nas Fábulas do escritor grego Esopo (564 a.C.-620 a.C.), no Alcorão e na Bíblia. Na canção Apologia ao jumento, um clássico da cultura popular, o compositor Luiz Gonzaga (1912-1989) entoa: “O jumento é nosso irmão!/ Sim! O jumento é nosso irmão/ Quer queira ou quer não!”.
O dócil animal é também lembrado pelo escritor João Guimarães Rosa (1908-1967) em seu primeiro livro de contos, Sagarana , de 1946, e pelo compositor Chico Buarque, na peça teatral Os saltimbancos, que estreou em 1976.
O ejiao tem a forma de tabletes ou cápsulas
Em seu laboratório da Universidade Federal do Paraná (UFPR), a médica-veterinária Carla Molento tenta desenvolver um equivalente ao ejiao com a chamada zootecnia celular, uma área nova de pesquisa, que visa a produção de carne sem a necessidade de criar e abater animais. Em fase inicial, o trabalho consiste em introduzir em leveduras e bactérias trechos do DNA do jumento que induzem a produção de colágeno.
Essa técnica, observa Molento, já é usada para produzir queijos e hambúrgueres vegetais (ver Pesquisa FAPESP nos 302 e 339). Se os microrganismos também produzirem colágeno de modo a ampliar a escala de produção e os consumidores aceitarem, o ejiao engenheirado dispensaria a necessidade de sacrificar jumentos.
Na “Declaração de Maceió”, os pesquisadores mencionam também o patrimônio genético representado pelos asininos. Descendente direto do asno selvagem, o jumento começou a ser domesticado na África, possivelmente na região do atual Quênia, por volta de 5 mil antes de Cristo (a.C.). De acordo com análises comparativas de 158 genomas lideradas por pesquisadores da Universidade Paul Sabatier, de Toulouse, na França, e publicadas em setembro de 2022 na Science, a domesticação ocorreu durante a desertificação do Saara, quando as populações humanas passaram a depender dos animais para transporte. Sua dispersão pela Europa e Ásia se deu a partir de 2,5 mil a.C. Os primeiros jumentos chegaram ao Brasil em 1534, na capitania de São Vicente, trazidos dos arquipélagos da Madeira e das Canárias pelo

militar português Martim Afonso de Souza (1500-1564). Em 1549, o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Sousa (1503–1579), levou para a Bahia jumentos de Cabo Verde. Cruzando entre si e com outras variedades que chegaram depois, aos poucos formaram três grupos nativos (raça): o jumento nordestino, o brasileiro e o pêga, diferenciados à primeira vista pelo porte. O jumento nordestino, o menor deles e o mais ameaçado de extinção, pesa entre 110 e 120 kg, é bastante resistente ao calor e à seca e deriva majoritariamente da ramificação Nubiana. De porte intermediário, de 170 a 180 kg, o brasileiro é ligado à ramificação Somali, como o pêga, o mais avantajado, que pode ultrapassar 300 kg. O porte afeta diretamente o valor dos jumentos: enquanto um jumento nordestino, em feiras, pode custar R$ 20, um da raça pêga pode chegar a R$ 35 mil.
Uma equipe coordenada pelo zootecnista Gregório Miguel Ferreira de Camargo, da UFBA, analisou o DNA de 30 animais e concluiu que os três grupos descendem de duas linhagens distintas de domesticação, as mesmas que formaram as raças europeias. “A história da ocupação do território brasileiro ajuda a explicar a diversidade genética de nossos jumentos, porque a colonização começou no Nordeste, onde se originou o jumento nordestino, e avançou para o Sudeste, berço do jumento pêga”, comenta Escodro, um dos autores do estudo publicado em agosto de 2022 na revista Tropical Animal Health and Production. A linhagem mais recente é a do jumento brasileiro, resultado do cruzamento de raças de origem italiana.
Em um sítio em Indaiatuba, um dos 75 criadores paulistas reconhecidos pela Associação Brasileira dos Criadores de Jumento Pêga (ABCJPêga), que a reportagem de Pesquisa FAPESP visitou no início de outubro, o fazendeiro César Barnabé, da Agropecuária Barnabé, cria cerca de 70 jumentos para a produção de mulas. Esses animais são resultantes do cruzamento de jumentos com éguas, fêmeas de uma espécie-irmã, o cavalo (Equus caballus). Mulas ou burros normalmente são estéreis por causa da incompatibilidade genética (o cavalo tem 64 cromossomos e o jumento 62).
“As mulas são muito valorizadas para transporte de carga nas fazendas”, explica Barnabé, que faz parte da terceira geração de criadores de equídeos da família. “São animais mansos, resistentes, com poucas doenças e com baixo custo de manutenção.” Nas baias, os jumentos aceitavam o carinho do dono e dos visitantes enquanto comiam uma mistura de palha com trigo. l
Os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.

Fósseis estudados em 2025 revelam animais de tamanhos muito divergentes, vivendo em hábitats distintos
ENRICO DI GREGORIO
O interior paulista já abrigou dunas por onde andavam répteis alados
Há mais de 100 milhões de anos, pterossauros – alguns gigantescos, outros com centenas de dentes parecidos com os das baleias e uma dieta similar à dos flamingos ou com uma grande crista sobre a cabeça – viveram, respectivamente, no que hoje é o Rio Grande do Norte, São Paulo e o litoral da Síria. Os achados foram descritos em uma série de artigos publicados por pesquisadores brasileiros durante o ano de 2025. Naquela época, o centro-leste paulista era um grande deserto com dunas de areia, e foi por ali que um pterossauro acabou deixando a marca de uma pata dianteira e uma traseira durante suas andanças. As pegadas – as primeiras de um réptil alado descrita no Brasil – foram preservadas porque a depressão deixada na areia pelo peso do animal foi coberta por outros sedimentos.
O paleontólogo Marcelo Fernandes, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), foi o primeiro a descrever o rastro fóssil em sua tese de doutorado, defendida em 2005 na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mas na época a identificou como pegadas deformadas de dinossauro. Vinte anos depois, decidiu aplicar novas tecnologias na revisão do material com o paleontólogo Mauro Lacerda, pesquisador de pós-doutorado na UFSCar, com bolsa da FAPESP, e concluíram que poderia ser um rastro de pterossauro.
Na nova análise, os pesquisadores fizeram modelagem 3D das peças e pediram ajuda ao paleontólogo italiano Giuseppe Leonardi, aposentado pelas universidades Federal do Paraná (UFPR) e Estadual de Ponta Grossa (UEPG), para identificar o material, dada a sua experiência com registros de pegadas. “Essa ferramenta permite observar detalhes que antes não eram vistos”, comenta Fernandes sobre o salto tecnológico em sua pesquisa. “Na época da minha tese, usei fotos com sombreamento, uma técnica para ressaltar detalhes da peça, com uma máquina fotográfica de 4 megapixels [mp], uma tragédia”, brinca ele. As câmeras de celulares modernos têm no mínimo 8 mp e alguns modelos superam 200 mp.
Com base nas pegadas, os paleontólogos verificaram que o animal se apoiava sobre os dedos das patas da frente, integradas nas asas, e com toda a sola das patas de trás. Também usaram o tamanho dos rastros para inferir suas medidas – aproximadamente 2,5 metros (m) de envergadura – e concluíram que se tratava de um pterossauro aparentado de Tupandactylus, um gênero que viveu no que hoje é o Nordeste do Brasil há 112 milhões de anos.
Foi justamente no Nordeste que uma equipe coordenada pela paleontóloga Aline Ghilardi, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), descreveu uma nova espécie de pterossauro a partir de fósseis preservados no vômito fossilizado de um dinossauro predador. O nome técnico para esse tipo de fóssil é regurgitólito.
A história por trás da identificação lembra um pouco o caso das pegadas: o fóssil de vômito estava guardado há décadas no Museu Câmara Cascudo, da UFRN, mas nunca havia sido identificado formalmente. Durante as análises, o estudante de biologia William Bruno de Souza Almeida identificou fósseis de peixe no aglomerado, mas percebeu outras estruturas estranhas e pediu ajuda para Ghilardi, sua orientadora. “Dias antes, eu tinha lido um artigo sobre um pterossauro argentino que, por coincidência, era muito parecido com o

Reconstrução 3D de pegadas
traseira (no alto) e dianteira permitiu entender como o animal pisava: mais profundo em azul, elevado em vermelho
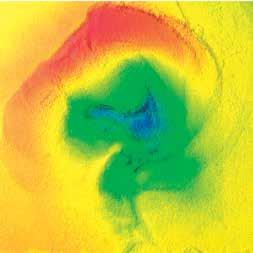
que vimos naquele fóssil”, conta a pesquisadora. “Na hora, percebi que podia ser um exemplar de um pterossauro muito raro.” Ela então convidou especialistas em pterossauros, entre eles a paleontóloga Rubi Pêgas, pesquisadora de pós-doutorado na Universidade de São Paulo (USP).
A raridade do achado consiste no fato de que a espécie, com idade calculada em 110 milhões de anos e nomeada Bakiribu waridza, tinha uma arcada dentária de 450 a 500 dentes que parecia um pente-fino, similar à das baleias e dos flamingos, usada para filtrar pequenos animais invertebrados que vivem na água. “É uma espécie muito especializada e inédita no Brasil”, diz Ghilardi. Até hoje, espécies desse grupo, Ctenochasmatidae, já foram encontradas na Argentina, no Uruguai e no Chile. A espécie argentina, batizada de Pterodaustro guinazui, é a recordista no número de dentes, com cerca de mil deles.


Segundo o artigo, publicado em novembro na revista Scientific Reports, o réptil alado com dentes de baleia foi vítima de um ataque voraz de algum megapredador, provavelmente um espinossauro. Por algum motivo a refeição não teria caído bem e o carnívoro acabou regurgitando a presa. “Como o vômito é coberto de muco, os ossos ficaram protegidos tempo suficiente para acabarem cobertos pelo sedimento, o que levou à sua fossilização”, explica Ghilardi.
Bem longe da América do Sul, a paleontóloga sírio-brasileira Wafa Adel Alhalabi, da USP, publicou a primeira descrição de fósseis de vertebrados da Síria em mais de duas décadas. O estudo revelou parte do úmero de um pterossauro gigantesco encontrado em 2003 na região de Palmyra, em depósitos de fosfato marinho.
AUma profusão de dentes permitia que o animal filtrasse alimento na água; fóssil foi encontrado no Nordeste em vômito fossilizado (ao lado e abaixo)

s estimativas indicam que, com 10 m de envergadura, o animal era apenas 10% menor que o maior pterossauro já registrado, o colossal Quetzalcoatlus northropi. “O tamanho foi muito surpreendente para nós”, conta Alhalabi. “Os pterossauros identificados no Líbano e na Jordânia são menores.” Inabtanin alarabiam , encontrado na Jordânia, tinha cerca de 5 m de envergadura. Já Microtuban altivolans, que viveu no que hoje é o Líbano, tinha menos de 2 m.
O achado sírio muda a compreensão sobre os hábitats dos pterossauros. “É mais uma evidência que sustenta a teoria de que esses animais frequentaram também os ambientes marinhos e viveram no litoral”, diz Alhalabi. Isso poderá ser confirmado com novas pesquisas, incluindo
Espécie identificada na Síria é das maiores já encontradas
outros sete achados paleontológicos que aguardam financiamento para serem estudados. O fóssil sobreviveu às dificuldades de pesquisa na Síria, onde a falta de laboratórios especializados e os impactos da guerra limitaram o acesso ao material por anos. “Examinar o fóssil foi muito difícil, porque não há laboratórios específicos nem equipamentos”, conta Alhalabi. Na USP, ela usa uma máquina de pressão de ar para limpar o sedimento dos fósseis, mas na Síria só contava com a tradicional escova de dentes. Apesar das restrições, a equipe conseguiu examinar a peça e avançar na identificação do pterossauro.
Além das novidades sobre a diversidade do grupo, pesquisadores brasileiros evoluíram no entendimento sobre a origem desses répteis alados. Um estudo publicado em fevereiro nos Anais da Academia Brasileira de Ciências defende que os lagerpetídeos – pequenos répteis terrestres do Triássico – foram ancestrais diretos dos pterossauros (ver box na página 57). A conclusão se diferencia da de análises de parentesco dessas espécies feitas entre 2020 e 2023 (ver Pesquisa FAPESP n° 299) que apontava as espécies como grupos irmãos, mas sem uma relação de ascendência e descendência.
“Eram bons estudos, mas decidimos aprimorar a análise com mais fósseis, incluindo exemplares muito bem preservados, alguns dos quais encontrados por nós em sítios do Rio Grande do Sul”, conta o paleontólogo Maurício Garcia, estudante de doutorado na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), um dos autores do artigo. O trabalho consistiu na análise de mais de 300 características e de mais de 80 espécies de lager-

petídeos, de dinossauros próximos dos répteis alados e de outros ancestrais dos pterossauros encontrados em países como Brasil, Argentina, Itália e Estados Unidos.
Os lagerpetídeos surgiram e começaram a se desenvolver nas paisagens áridas de clima quente e seco que predominavam no supercontinente Pangeia durante o Triássico, período geológico datado entre 251,9 milhões e 201,4 milhões de anos atrás. Entre os mais antigos representantes do grupo estava Ixalerpeton, com ossos longos e finos e hábitos terrestres consolidados.
Com a dispersão desses répteis pelo mundo, outras espécies surgiram. Uma delas foi Venetoraptor gassenae , que tinha a parte frontal da mandíbula sem dentes e coberta por queratina, lembrando um bico, e uma pélvis bem estruturada, que facilitava saltos longos. Além disso, o quarto dedo da pata dianteira era bem maior que os outros, uma inversão rara nunca antes vista entre os pré-pterossauros, mas típica dos primeiros voadores.
Essas duas espécies foram algumas das incluídas pelos pesquisadores na nova análise. Ao todo, o acréscimo incorporou seis lagerpetídeos bem preservados do Rio Grande do Sul – Ixalerpeton polesinensis, Venetoraptor gassenae, Faxinalipterus minimus e três ainda não identificados – e sete espécies de pterossauro do Triássico, dos gêneros Carniadactylus, Seazzadactylus, Arcticodactylus, Austriadactylus , Austriadraco, Caelestiventus e Peteinosaurus
“Com essa atualização na base de dados, vimos que os lagerpetídeos têm mais similaridades com os pterossauros do que com os dinossauros”, conta Garcia. Parte das semelhanças são as estruturas pélvicas, o quarto dedo alongado e a estrutura bucal similar com um bico. “Venetoraptor é crucial, porque mostra essa transição gradual.” Ghilardi resume: “Esse conjunto de descobertas mostra que os pterossauros atingiram um nível muito grande de diversidade e adaptação e conquistaram vários nichos do planeta. Era um grupo fantástico”.
A empolgação não é à toa. Normalmente, fósseis de pterossauros são difíceis de encontrar, porque seus ossos eram ocos e finos para o voo, tornando-os frágeis e propensos à fragmentação. Mas, por uma junção de investimento, novas pesquisas, revisões em fósseis já estudados e uma dose de sorte, o ano de 2025 foi uma bela exceção. l
O projeto e os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
Moldes internos de crânios fossilizados mostram neuroanatomia dos primeiros vertebrados alados
MARIA GUIMARÃES
Apossibilidade de decolar e manter o voo com o bater das asas surgiu por volta de 215 milhões de anos atrás com os pterossauros. Mais de 50 milhões de anos se passaram até surgir, independentemente do ponto de vista evolutivo, outra linhagem voadora, a que deu origem às aves. As asas dos pterossauros, formadas pela extensão de um dedo, são revestidas por uma membrana. Já as das aves, sustentadas pelos ossos do antebraço, têm uma estrutura de penas que sustenta o voo. A questão era se haveria também soluções neuroanatômicas diferentes.
O paleontólogo brasileiro Mario Bronzati, pesquisador de pós-doutorado na Universidade de Tübingen, na Alemanha, ofereceu algumas respostas em artigo de novembro na Current Biology. Os resultados mostraram uma semelhança importante no que diz respeito à expansão dos hemisférios cerebrais e do lobo óptico, ligado à visão e à integração sensorial, que permite uma navegação mais sofisticada no meio tridimensional. O cérebro dos pterossauros se caracteriza por um formato globular, com trato olfativo mais curto. Uma estrutura neurológica mais especializada, também desenvolvida nos animais alados – sobretudo nos pterossauros –, é uma parte do cerebelo chamada flóculo. Em relação ao tamanho do corpo, o cérebro dos pterossauros era menor do que o das aves, indicando que as demandas neurológicas para o voo, embora específicas, podem ocupar pouco espaço.
Essencial nesse estudo é o lagerpetídeo Ixalerpeton polesinensis, ancestral dos pterossauros que viveu há cerca de 233 milhões de anos. O animal provavelmente vivia no alto das árvores, um ambiente tridimensional. Esse hábito

já lhe exigia uma sofisticação sensorial que, aparentemente, pôs sua linhagem no caminho da possibilidade de conquistar o meio aéreo. “A parte óptica do cérebro precisava ser capaz de manter a imagem nítida na retina enquanto ele se movia depressa para capturar presas”, explica Bronzati. “Ao voar, a capacidade visual é mais importante para permitir manobras exatas do que a coordenação motora das asas.” O flóculo, aquela estrutura especializada no cerebelo, atua no controle dos músculos da cabeça e do pescoço em resposta a indicações sensoriais que vêm das asas, de forma que a imagem não fica borrada pela vibração causada pelo voo. Um fóssil encontrado no interior paulista, Navaornis hestiae, ajudou a completar o quebra-cabeça da transição para o
Representação artística de lagerpetídeo observando o voo de pterossauros no final do Triássico, cerca de 215 milhões de anos atrás
O projeto e o artigo científico consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line. voo (ver Pesquisa FAPESP nº 346 ). Ao contrário do que indica o registro fóssil de aves, o trabalho de Bronzati não detecta nos pterossauros uma evolução gradual da anatomia cerebral, como se os elementos essenciais ao voo tivessem surgido subitamente. “Precisamos achar mais fósseis”, afirma o paleontólogo. É possível, segundo ele, que não estejam enxergando os passos evolutivos por escassez de material analisado. Ele pretende montar um banco de dados de uma diversidade de espécies com informações neuroanatômicas e ecológicas para entender melhor o papel do flóculo na evolução da locomoção aérea. l
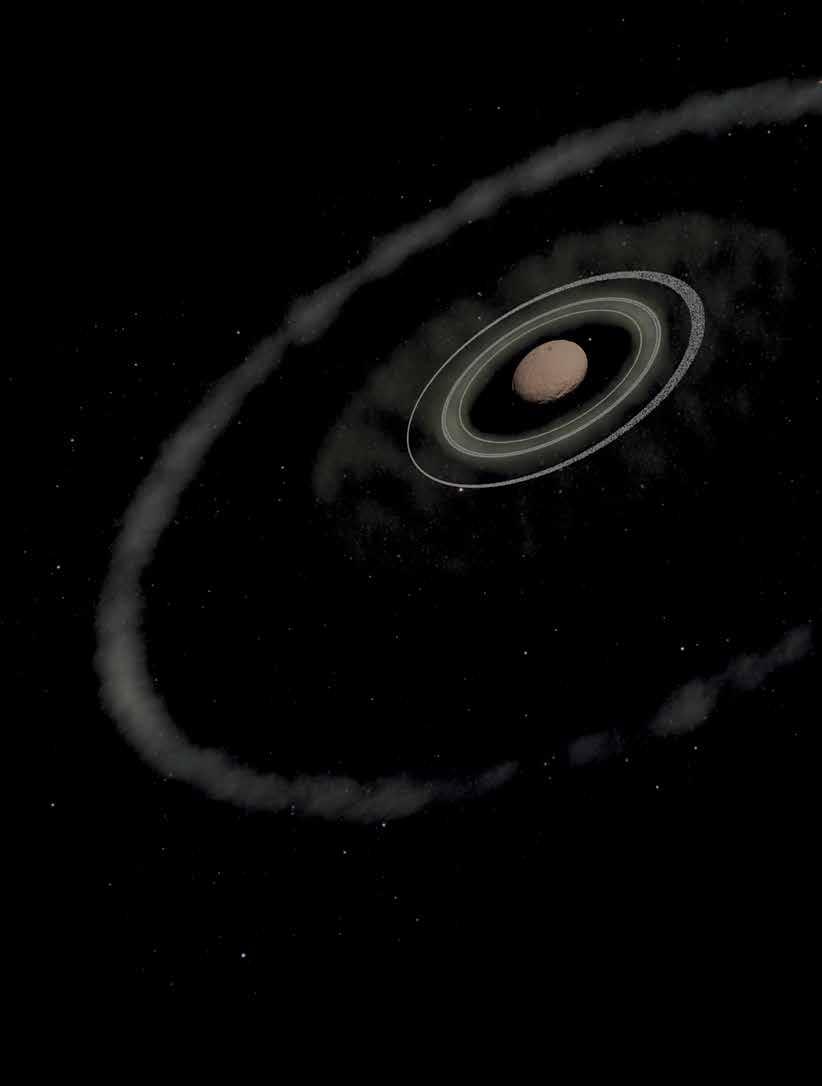
Formação de sistema com quatro aros e um disco de matéria é observada quase em tempo real ao redor de asteroide
MARCOS PIVETTA

Ilustração do centauro Quíron com seu sistema de quatro anéis e um disco de matéria
Anéis estão presentes em diferentes partes do Universo. Mas, até 12 anos atrás, apenas quatro objetos do Sistema Solar, os planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, apresentavam sabidamente esse tipo de formação. Em março de 2014, esse tipo de estrutura foi descoberto, pela primeira vez, em torno de um corpo que não era um planeta. Um par de anéis foi identificado ao redor do centauro Chariklo, objeto rochoso entre Júpiter e Netuno com aproximadamente 250 quilômetros (km) de diâmetro. Desde então, aros formados por uma mistura de água congelada, poeira e detritos sólidos foram confirmados em mais três corpos menores de nosso sistema: nos planetas anões Haumea e Quaoar, respectivamente em 2017 e 2023, que ficam no cinturão de Kuiper, área que se inicia depois de Netuno e é formada por milhões de corpos gelados de tamanhos variados; e em outro centauro, Quíron, no final de 2025, que se encontra na mesma região de Chariklo. Astrofísicos brasileiros têm sido protagonistas em estudos que localizaram anéis ao redor desses quatro objetos. Foram os autores principais de trabalhos sobre Chariklo, Quaoar e, mais recentemente, Quíron. Este último astro reservou uma surpresa extra, uma configuração única em relação à dos outros três objetos. Segundo artigo publicado em outubro do ano passado no periódico Astrophysical Journal Letters, o sistema de anéis ao redor de Quíron, um centauro com aproximadamente 200 km de diâmetro, foi flagrado em meio a seu processo evolutivo. Ou seja, antes de sua arquitetura anelar estar totalmente constituída, em um momento único em que suas formas ainda estão se modificando ao longo de um curtíssimo período, de uns poucos anos, quase em tempo real.
“Quíron pode representar uma rara janela de observação de um pequeno corpo do Sistema Solar que está na fase intermediária do processo de formação de seus anéis”, comenta o astrofísico
Chrystian Luciano Pereira, que faz pós-doutorado com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) no Observatório Nacional, no Rio de Janeiro, autor principal do artigo. “Nunca tivemos a chance de acompanhar esse fenômeno.” Dados anteriores, obtidos em 2011 e 2018, sugeriam, de maneira não totalmente conclusiva, que o centauro tinha três anéis, mais internos.
Uma campanha de observação feita em 10 de setembro de 2023, que envolveu 31 telescópios da América do Sul, confirmou a presença desses três anéis e descobriu mais duas estruturas ao redor de Quíron: um quarto anel, mais difuso e externo, situado a 1.380 km do centro de Quíron; e um grande disco ou halo de matéria não muito densa em volta dos três anéis mais internos, situado entre 200 e 800 km do centauro. Os dados mais importantes da campanha, que sustentam as conclusões do trabalho publicado em 2025, foram produzidos pelo Observatório do Pico dos Dias, em Brasópolis (MG), operado pelo Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA).
Como o disco de Quíron não tinha sido visto nas observações dos anos 2010, os astrofísicos concluíram que ele surgiu em menos de uma década. Em um golpe de sorte, o grupo de astrofísicos, que envolve colaboradores sobretudo de Brasil, França e Espanha, parece ter flagrado uma arquitetura de anéis ainda em plena evolução. “Esse sistema de Quíron é bastante complexo, com muito material em torno de seu disco de matéria”, comenta o astrofísico Felipe Braga Ribas, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), outro autor do estudo. “Não sabemos como ele se formou.”
Descoberto em 1977, Quíron tem sido sistematicamente estudado nas últimas décadas. “Quando propus que Quíron tinha anéis em um estudo de 2015, houve ceticismo de colegas e da comunidade em geral”, conta, em entrevista por e-email a Pesquisa FAPESP, o astrofísico espanhol Jose-Luis Ortiz, do Instituto de Astrofísica de Andaluzia, da Espanha, coautor do trabalho atual com esse objeto celeste. “Esse sistema parecia diferente em muitos aspectos do único corpo pequeno com anéis então conhecido, Chariklo.” Dessa vez, praticamente não há margem de dúvida de que o centauro abriga uma arquitetura sofisticada de aros ao seu redor.
Agênese de anéis e discos em torno de objetos pequenos, e mesmo ao redor dos planetas gigantes do S i stema Solar, pode ser atribuída a diversos mecanismos. Essas estruturas podem ser originadas pela destruição de luas ou de asteroides que um dia estiveram na órbita de um corpo, por colisões com um astro que cruzou o caminho de um objeto celeste ou ainda por sobras do material original que se aglutinou para gerar qualquer outro tipo de corpo de certo porte. Em tese, centauros, como Chariklo e Quíron, também poderiam produzir um sistema de anéis com um disco a partir da ejeção de parte de sua massa. Esse tipo de objeto celeste é uma espécie de híbrido, com características tanto de asteroides como de cometas. Centauros podem expelir uma cauda (um rabo) ou coma (uma nuvem de poeira
e gelo em seu entorno) que se tornam luminosas quando esses objetos passam perto do Sol. Muito mais ativo do que Chariklo, Quíron expulsa matéria de seu interior com certa periodicidade e, desde os anos 1990, sua atividade é monitorada. Planetas anões como Quaoar e Haumea não produzem caudas ou comas.
Diferentemente dos anéis de Saturno e dos outros três planetas gigantes, que podem ser visualizados diretamente e em detalhes por telescópios, não há imagens dos sistemas de aros em torno desses quatros objetos pequenos do Sistema Solar. Na verdade, não há nem mesmo registros ópticos de boa qualidade de Chariklo, Haumea, Quaoar ou Quíron. Esses corpos são muito pequenos e estão muito distantes da Terra. No melhor dos casos, eles aparecem como pontos em um trecho do céu. A identificação de anéis e de discos em torno desses pequenos corpos ocorre por meio da observação de um fenômeno denominado ocultação estelar, análogo a um eclipse solar, quando a Lua se coloca entre a Terra e o Sol.
Os astrofísicos conhecem a órbita de corpos celestes de menor porte do Sistema Solar e conseguem calcular quando esses objetos vão passar na frente de uma estrela visível da Terra. Durante esse processo de ocultação, que dura no máximo uns poucos segundos, um objeto com um sistema de anéis provoca uma variação no brilho da estrela de acordo com um padrão conhecido. Há um bloqueio completo e mais demorado de sua luminosidade quando o corpo celeste passa bem em frente da estrela. Ou seja, seu brilho é totalmente eclipsado, cai a zero do ponto de vista de
Similar a um eclipse solar, o fenômeno da ocultação estelar é usado para identificar esse tipo de estrutura ao redor de objetos pequenos e distantes
Quando passa na frente de uma estrela, a parte central de um corpo celeste envolto por um anel bloqueia toda a luz desse astro que chegaria à Terra
Antes e depois dessa queda, as bordas do anel, ao barrarem parcialmente a luz da estrela, causam duas reduções rápidas e de menor monta no brilho

um observador terrestre. Imediatamente antes e depois dessa queda brutal de luminosidade ocorrem outras duas reduções de brilho, parciais (de menor magnitude) e mais rápidas (ver quadro na página 58).
Essas diminuições, menos pronunciadas e mais fugazes, são provocadas no momento em que as partes de um anel (e não o corpo central do objeto) se interpõem entre a Terra e a estrela. Um aro de poeira e gelo é bem menor e menos denso do que o objeto em si. Por isso, a queda de luminosidade que um anel provoca não chega a zero e é mais breve. Uma nuvem ou halo de matéria, como deve existir em parte do sistema de anéis de Quíron, ocasiona uma outra assinatura luminosa durante a ocultação: uma redução no brilho ainda menor do que a de um anel, mas um pouco mais demorada. Luas também podem ser identificadas pela técnica da ocultação estelar.
Ométodo da ocultação estelar é empregado para descobrir uma série de propriedades dos corpos celestes. Antes de haver imagens diretas dos anéis de Urano e Netuno, essas estruturas foram primeiramente identificadas por meio dessa técnica. “Com o método da ocultação estelar, podemos ter uma ideia do tamanho, da forma e da presença de anéis, discos e satélites em torno de corpos celestes”, explica o astrofísico Rafael Sfair da Faculdade de Engenharia e Ciências da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Guaratinguetá , que também assina o estudo recente com Quíron e trabalhos com Quaoar. “Cada característica do objeto em estudo produz uma queda distinta no padrão de luminosidade da estrela.” Sfair é orientador de doutorado da aluna Giovana Ramon,
bolsista da FAPESP e coautora do estudo recente sobre o centauro.
A busca por anéis, discos e luas em torno de planetas e objetos menores não é uma curiosidade científica. Faz parte do estudo do processo de formação de sistemas planetários, de corpos celestes de menor porte e até de galáxias. “De modo geral, anéis e discos são estruturas muito comuns no Universo em diferentes escalas”, comenta o astrofísico Bruno Morgado, do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (OV-UFRJ), outro coautor do artigo de outubro sobre Quíron e principal responsável por um trabalho de 2023 sobre a descoberta de um anel ao redor do planeta anão Quaoar (ver Pesquisa FAPESP nº 325). “No caso dos pequenos corpos, os efeitos dinâmicos dessas estruturas são muito rápidos e permitem observar a evolução temporal desses sistemas.”
Como, além dos planetas gigantes gasosos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, apenas quatro corpos celestes de pequeno porte do Sistema Solar apresentam anéis confirmados, os astrofísicos não sabem precisar se a formação dessas estruturas ao redor desse tipo de objeto é a regra ou a exceção. Apesar da baixa estatística disponível, parece pouco provável que os sistemas anelares encontrados no entorno de Chariklo, Haumea, Quaoar e Quíron representem tanto uma anormalidade como um padrão. “Teria sido muita sorte termos encontrado justamente as exceções”, diz Pereira. “Sistemas com anéis podem não ser majoritários, mas devem ser relativamente comuns.”
Nos últimos anos, cresceram os indícios de que alguns exoplanetas, mundos que se formaram ao redor de outras estrelas que não o Sol, também podem apresentar anéis. l
Aprovada pela Anvisa, vacina contra a dengue do Instituto Butantan chega primeiro aos profissionais da atenção primária à saúde
RICARDO ZORZETTO
Apartir deste mês, médicos, enfermeiros, agentes comunitários e outros profissionais que integram as equipes de atenção primária à saúde e atuam no enfrentamento de arboviroses no país começam a receber o imunizante contra a dengue desenvolvido pelo Instituto Butantan, de São Paulo. A vacina, registrada com o nome de Butantan-DV, é a primeira disponível em dose única, formulada para proteger contra os quatro sorotipos do vírus causador da enfermidade – dois outros imunizantes aprovados e comercializados no Brasil são importados e administrados em duas ou três aplicações. Até o final de janeiro, o Butantan deve fornecer ao Ministério da Saúde 1,3 milhão de doses que já estão prontas e começaram a ser fabricadas ainda durante os testes de eficácia em seres humanos.
“A vacinação já começa com a produção do Butantan, que vai disponibilizar volume suficiente para iniciarmos a imunização dos profissionais da atenção primária em todo o país”, anunciou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em visita à Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista (FMB-Unesp), no interior de São Paulo. Ele se referia às pessoas que atuam nas unidades básicas de saúde e em visitas domiciliares às famílias. “A atenção primária é a porta de entrada para os casos de dengue, por isso é fundamental proteger o mais rápido possível esses profissionais”, completou.

Frascos da Butantan-DV, a vacina em dose única contra a dengue desenvolvida no Brasil
A estratégia de aplicação da Butantan-DV foi definida por especialistas do Programa Nacional de Imunizações (PNI) no início de dezembro e comunicada pelo ministro no dia 9, um dia depois de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicar o registro do imunizante.
“É uma forma inteligente de usar o número de doses disponíveis”, comentou o médico e virologista Maurício Lacerda Nogueira, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). Ele coordenou um dos 16 centros nos quais a Butantan-DV foi administrada a voluntários na avaliação da eficácia e conversou com Pesquisa FAPESP após a decisão do PNI. “A aplicação de pouco mais de 1 milhão de doses, se fosse diluída em toda a população elegível no país, não produziria um efeito relevante em termos de saúde pública. Focar em um grupo específico cria a oportunidade de gerar um impacto interessante já no primeiro momento”, contou.
Ainda na visita a Botucatu, Padilha revelou que a cidade paulista de 145 mil habitantes, entre outras localidades a serem definidas, deve participar de um estudo para avaliar em condições de mundo real o desempenho da vacina brasileira contra a dengue. A ideia é imunizar de 40% a 50% das pessoas com idade entre 12 e 59 anos já no início de 2026, antes do pico de transmissão da dengue. Em seguida, equipes do ministério, em parceria com pesquisadores da FMB-Unesp, devem comparar as taxas de infecção e adoecimento da população que recebeu a vacina com as da que não foi imunizada. O teste pode antecipar
Nove anos registraram epidemias com mais de 1 milhão de casos desde 2010
o que deve ocorrer assim que o imunizante estiver disponível para toda a população.
A fabricação em massa da Butantan-DV será feita também por uma empresa chinesa, a WuXi Vaccines, para quem o Butantan licenciou a produção a fim de aumentar a escala rapidamente. A previsão é que 25 milhões de doses estejam disponíveis em 2026 e outros 35 milhões no ano seguinte. Com a distribuição dessas doses, a vacinação começará pelos adultos mais velhos, inicialmente com 59 anos, e será gradualmente expandida para as demais faixas etárias até chegar ao público de 15 anos de idade, segundo o ministério.
“Apenas quando uma proporção significativa dos brasileiros tiver sido imunizada, vamos conhecer o impacto real da vacina no âmbito da saúde pública. Isso deve ocorrer somente daqui a dois ou três anos”, relatou Nogueira.
A Butantan-DV é uma vacina produzida com vírus atenuado, que conserva a capacidade de se multiplicar, mas perde a de causar a doença. Ela foi desenvolvida a partir de um trabalho inicial do grupo do microbiologista Stephen Whitehead, dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIH).
No Laboratório de Doenças Infecciosas dos NIH, Whitehead e colaboradores conseguiram reduzir a capacidade de o vírus da dengue causar doença eliminando um pequeno trecho de seu material genético. Funcionou para os sorotipos 1, 3 e 4, mas não para o 2. Os pesquisadores, então, criaram um vírus híbrido, que contém a parte interna do vírus tipo 4 (DENV-4)
6.601.253
e a externa do DENV-2. Os quatro componentes foram depois misturados em uma formulação contra a dengue.
O protótipo vacinal criado pela equipe de Whitehead foi licenciado há pouco mais de uma década para o Instituto Butantan, que realizou o desenvolvimento completo do produto e obteve a exclusividade de comercialização no Brasil e nos demais países da América Latina. “Os NIH haviam fornecido o protótipo vacinal e, no Butantan, fizemos todo o desenvolvimento do produto vacinal, liofilizado e seguindo boas práticas laboratoriais”, lembrou o imunologista Jorge Kalil, da Universidade de São Paulo (USP), que dirigiu o instituto de 2011 a 2017, em entrevista a Pesquisa FAPESP em 2023 (ver Pesquisa FAPESP nº 324). “A versão fornecida pelos NIH precisava ser mantida à temperatura de 80 graus Celsius negativos, o que exige freezers especiais e dificultaria a distribuição. A equipe de desenvolvimento do Butantan conseguiu aumentar a capacidade de produzir o vírus, melhorar sua purificação e liofilizar o composto [transformar em pó, mais estável à temperatura ambiente], sem que perdesse a capacidade de despertar a produção de anticorpos”, afirma.
Os dados mais recentes de eficácia da Butantan-DV mostram que, cinco anos após a administração de uma única dose de 0,5 mililitro (mL), o imunizante mantém um efeito protetor elevado. Ele evitou 74,7% dos casos de dengue e 91,6% dos de dengue grave (antiga dengue hemorrágica), aquela que progride para um quadro de dor abdominal intensa, vômitos persistentes, dificuldade para respirar e acúmulo de líquidos no abdômen ou no tórax.
“Isso significa que, cinco anos depois de receber a vacina, 74,7% das pessoas que foram infectadas não desenvolveram viremia [disseminação do vírus] nem apresentaram sintomas da doença. Entre os 25,3% que apresentaram sintomas, 91,6% não desenvolveram a forma grave”, explicou o infectologista Esper Kallás, diretor do Butantan, no final de novembro, quando foi noticiada a aprovação pela Anvisa. Ele foi o investigador principal dos estudos de fase 2 e 3, quando ainda estava na Faculdade de Medicina da USP e, na apresentação de novembro, lembrou que a ideia de trazer o desenvolvimento dessa vacina para o Butantan havia sido do bioquímico Isaías Raw (1927-2022), ex-diretor do instituto.
A Butantan-DV também apresentou uma proteção excepcional contra a hospitalização. Nenhuma das pessoas vacinadas que foram infectadas e desenvolveram sintomas precisou ser internada.

“Todas as hospitalizações ocorreram no grupo que tinha recebido placebo”, afirmou Kallás. Na ocasião, o diretor do Butantan contou que esses resultados haviam sido apresentados no Encontro Anual da Sociedade Americana de Medicina Tropical e Higiene (ASTMH), em novembro no Canadá, e foram aceitos para serem publicados em uma das próximas edições da revista Nature Medicine. Dois trabalhos anteriores já haviam registrado o desempenho da Butantan-DV 2 anos e 3,7 anos após a administração (ver Pesquisa FAPESP nº 343).
O desenvolvimento da Butantan-DV contou com investimento da FAPESP, da Fundação Butantan, do Ministério da Saúde, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e, mais recentemente, de uma parceria com o laboratório Merck Sharp & Dohme (MSD). Ela foi testada ao longo de quase uma década em um ensaio clínico de fase 3, que envolveu 10.259 voluntários vacinados em 16 centros de diferentes regiões do país. Outros 5.976 receberam placebo (composto inócuo).
Os quatro sorotipos da dengue já foram encontrados no país e, desde os anos 1980, provocam surtos e epidemias. De 2010 para cá, o total de casos por ano superou a marca de 1 milhão ao menos nove vezes. O recorde foi em 2024, quando houve 6,6 milhões de casos suspeitos e 6,3 mil mortes. Em 2025, até o início de dezembro, esses números eram, respectivamente, 1,6 milhão e 1,7 mil (ver gráfico na página 61).
Enquanto não ocorre a distribuição ampla da Butantan-DV, a saída para controlar a dengue é combater o mosquito. Hoje está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) a vacina Qdenga, da empresa farmacêutica Takeda, para crianças e adolescentes na faixa dos 10 aos 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, 7,4 milhões de doses da Qdenga já foram aplicadas nesse público nos últimos anos e 18 milhões deverão estar disponíveis até 2027. l
Técnica do Butantan inspeciona o imunizante durante a produção
Nas Américas, Aedes aegypti tornou-se especialista em se alimentar de sangue humano e ganhou resistência a inseticidas
RICARDO ZORZETTO
Omosquito Aedes aegypti é um transmissor de vírus bem-sucedido. Ele se adaptou às cidades e se espalha pelas zonas tropical e subtropical de todo o planeta. Hoje, 4 bilhões de pessoas vivem em áreas onde existe A. aegypti e correm o risco de serem infectadas por um dos vírus que ele transmite, como o da dengue, da febre amarela, da zika e da chikungunya. Há tempos, especialistas em insetos tentam descobrir quando e como surgiram as adaptações que permitiram Aedes se tornar tão cosmopolita. Respostas recentes foram publicadas em setembro na Science. Elas indicam que o mosquito, de certo modo, contou com a colaboração humana.
No trabalho, do qual participaram dois pesquisadores brasileiros, a equipe do entomologista norte-americano Jacob E. Crawford, do Google LLC, sequenciou o genoma de 1.206 mosquitos capturados em 73 locais do mundo e retraçou a história evolutiva do inseto.
A primeira conclusão é que o mosquito não é originário da África continental. Ele surgiu em ilhas no sudoeste do oceano Índico 7 milhões de anos atrás e só alcançou o continente africano há 85 mil anos. Era um inseto de coloração mais escura, que colocava os ovos em ocos de árvores e se alimentava do sangue de animais. Os pesquisadores classificaram essa variedade como sendo a subespécie Aedes aegypti formosus.
Por dezenas de milhares de anos, essa variedade espalhou-se pelo continente africano até que mudanças ambientais favoreceram o surgimento de outra, mais adaptada a conviver com os agrupamentos humanos. Com o clima mais quente e seco, há 5 mil anos, na porção ocidental do Sahel, sobreviveram as populações adaptadas a colocar ovos em cisternas e recipientes de água mantidos perto das habitações e a se alimentar de sangue humano. Dali, elas se espalharam pela costa oeste da África e, a partir do século XVI, chegaram às Américas por meio do tráfico de africanos escravizados. Os pes-
Há cerca de 85 mil anos, Aedes aegypti formosus chega à África e se espalha pelo continente
No Sahel, há 5 mil anos, surgem populações de proto Aedes aegypti aegypti (proto Aaa), variedade levada às Américas
Viagens no tempo e no espaço
Variedade que surgiu no oeste da África chegou às Américas, onde se tornou mais invasiva antes de ganhar o mundo
quisadores chamaram essa variedade de proto Aedes aegypti aegypti (proto Aaa). O mosquito trazido ao continente americano já acumulava diferenças comportamentais e genéticas em relação a A. a. formosus, ainda hoje encontrado na África. “As populações de proto Aaa eram geneticamente menos diversas do que as de A. a. formosus”, conta o entomologista Luciano Cosme, da Universidade da Califórnia em Riverside, nos Estados Unidos, um dos autores brasileiros do estudo.
Em 200 ou 300 anos, do proto Aaa emergiu em solo americano uma versão mais invasiva, adaptada a se alimentar de sangue humano, a viver em áreas urbanas e a transmitir vírus. É o mosquito Aedes aegypti aegypti, que se espalhou pelas Américas. “Nos séculos XVIII e XIX, o comércio internacional exportou essa variedade para a Europa e a Ásia”, explica o entomologista Ademir Martins, da Fundação Oswaldo Cruz, coautor da pesquisa.
Após a Segunda Guerra Mundial, Aedes aegypti aegypti foi extinto em boa parte das Américas, inclusive no Brasil, pelo uso de inseticidas. Na década de 1960, porém, foi reintroduzido a partir dos Estados Unidos e do Caribe. Essa variedade, resistente a inseticidas, retornou para a África. l
O artigo científico consultado para esta reportagem está listado na versão on-line.
Nas Américas, proto Aaa origina Aedes aegypti aegypti, especialista em se alimentar do sangue humano e resistente a inseticidas, que depois alcança outros continentes 2 1 3 4
Há 7 milhões de anos, o precursor do mosquito Aedes aegypti surge em ilhas do oceano Índico, a leste da África continental

Vacina contra o vírus HPV reduz em 58% os casos de câncer de colo do útero e em 67% os de lesões pré-tumorais
GISELLE SOARES
Em 2014, o Brasil tornou disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) – inicialmente só para meninas – a vacina contra o vírus do papiloma humano, o HPV. Agora, pouco mais de uma década depois, surgem as primeiras evidências robustas, obtidas com base no uso cotidiano da população, de que o imunizante protege as mulheres do câncer de colo do útero. O número de casos novos da doença no início da idade adulta (entre os 20 e os 24 anos) foi até 58% menor no grupo de pessoas vacinadas entre o fim da infância e o começo da adolescência do que entre as mulheres que não haviam sido imunizadas. A vacina também reduziu em até 67% o surgimento de lesões pré-tumorais no primeiro grupo, em comparação com o segundo. Esses resultados estão em um estudo liderado pelo médico e epidemiologista brasileiro Thiago Cerqueira-Silva, da London
School of Hygiene and Tropical Medicine, no Reino Unido, publicado em outubro na revista The Lancet Global Health. Os autores do estudo, que inclui pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em Salvador, chegaram a esses números depois de analisar dados sobre o diagnóstico de tumores e lesões pré-cancerígenas de colo do útero registrados entre 2019 e 2023 em diferentes bases do SUS. Os pesquisadores investigaram informações de cerca de 16 milhões de mulheres com idade entre 20 e 24 anos e identificaram 1.318 casos de câncer e 2.132 de lesões pré-malignas nessa faixa etária. Como o Brasil iniciou a vacinação contra o HPV em 2014, inicialmente para meninas com idade entre 11 e 13 anos, as mulheres incluídas na pesquisa puderam ser separadas em quatro grupos. O primeiro é o das nascidas entre 1994 e 1998. Elas não receberam a imunização contra o
Imunização de meninas começou em 2014; cópias do vírus HPV observadas ao microscópio eletrônico
HPV porque, quando estavam no fim da infância ou início da adolescência, o produto não estava disponível no SUS. Essas integraram o grupo de controle. O segundo grupo é o das mulheres de 1999, que se assemelham às nascidas a partir de 2000, mas também não eram elegíveis para a vacinação. O terceiro é o das nascidas em 2000, das quais apenas parte foi vacinada, pois uma fração delas já havia passado da idade-alvo da imunização quando a vacina começou a ser oferecida. O quarto e último grupo é o formado pelas nascidas a partir de 2001, no qual todas eram elegíveis para receber o imunizante. Nos anos analisados no estudo, a incidência (proporção de casos novos) da doença permaneceu estável, na faixa de 0,43 a 0,45 ocorrência a cada 100 mil mulheres por ano, incidência 35 vezes menor do que a média observada para a população feminina de todas as idades.
O efeito protetor do imunizante, observaram os pesquisadores, variou de acordo com a cobertura vacinal. No grupo em que apenas parte das mulheres recebeu a vacina, houve uma redução de 39% nos casos de câncer e de 54% no de lesões de colo do útero. No segmento em que todas foram imunizadas, a queda foi maior: a ocorrência de tumores diminuiu 58% e a de lesões 67%. Não houve redução de tumores e lesões no grupo das que não receberam o imunizante.
Para excluir o impacto de uma potencial melhora do rastreamento no sistema público de saúde, que pode influenciar a frequência de casos detectados, os pesquisadores compararam a taxa de casos de câncer de mama nos grupos elegíveis para vacinação e nos não vacinados. A vacina contra o HPV não protege contra os tumores de mama,
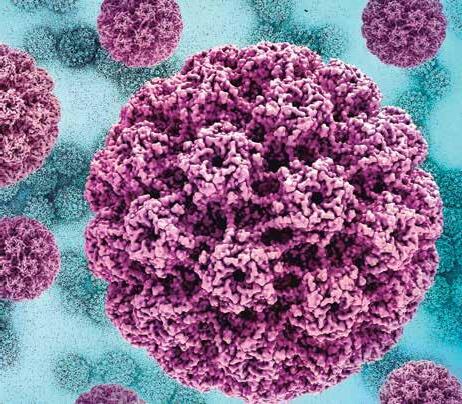
mas tanto estes quanto os de colo do útero sofrem influência das campanhas de conscientização e da qualidade do serviço de rastreamento. Uma queda nos casos de câncer de mama semelhante à observada nos de colo do útero indicaria que o sistema de detecção melhorou e que o efeito não seria decorrente da vacinação contra o HPV. Mas essa diminuição não ocorreu.
“O estudo oferece evidência concreta de que a vacina contra o HPV funciona na prevenção do câncer de colo do útero”, afirmou Cerqueira-Silva. “Até agora, as análises que mostravam essa proteção vinham quase sempre de nações ricas, como Suécia, Estados Unidos e Austrália. Pela primeira vez, conseguimos observar esse impacto em um país como o Brasil, onde há desigualdades e desafios de acesso à saúde”, completou.
Cerqueira-Silva e colaboradores suspeitam de que o grau de proteção da vacina possa ser ainda mais elevado. É que a incidência de câncer de colo do útero é baixa nas mulheres da faixa etária avaliada no estudo. Além disso, elas não estão no grupo para o qual se recomendam os exames preventivos de rotina – o Papanicolau é indicado para mulheres com idade entre 25 e 64 anos. Como resultado, os pesquisadores só conseguiram calcular o impacto da vacinação tomando por base os casos detectados porque já apresentavam sintomas ou, quando os sintomas ainda eram ausentes, pelo fato de o exame ter sido realizado a pedido da paciente.
“Consequentemente, muitas lesões pré-cancerosas assintomáticas ou cânceres iniciais permanecem não detectados, reduzindo as taxas de incidência observadas”, escreveram os pesquisadores. “À medida que as mulheres vacinadas entram na faixa etária elegível para rastreamento, ou seja, 25 anos ou mais, antecipamos reduções observáveis maiores tanto na incidência de NIC 3 [lesões pré-tumorais] quanto na de câncer cervical devido à vacinação, refletindo melhor o impacto protetor completo da vacinação contra o HPV.”
O câncer de colo do útero, ou câncer cervical, é o terceiro mais comum entre as brasileiras, quando se excluem do cálculo os tumores de pele não melanoma – ele só fica atrás dos tumores de mama e colorretal. De acordo com uma projeção do Instituto Nacional de Câncer (Inca), são esperados no Brasil 17 mil novos casos de câncer cervical em 2025, o que corresponde à incidência de 15 em cada grupo de 100 mil mulheres (de todas as idades). Essa incidência é maior no Norte (20,5 por 100 mil) e Nordeste (17,6 por 100 mil), regiões nas quais ocupa a segunda posição. No Centro-Oeste, é o terceiro mais frequente, com
incidência de 16,7 por 100 mil, enquanto no Sul ocupa a quarta posição e no Sudeste, a quinta, com incidência, respectivamente, de 14,6 por 100 mil e 12,9 por 100 mil. No mundo todo, a doença provocou cerca de 350 mil mortes em 2022, sendo 94% em países de baixa e média renda, onde o acesso à vacinação e ao rastreamento ainda é limitado.
Em 98% dos casos, o câncer de colo do útero é causado pela infecção persistente do HPV – daí a importância da vacinação, que inicialmente era feita por meio da aplicação de três doses do imunizante e, desde 2024, passou a ser em dose única para meninas e meninos com idade entre 9 e 14 anos. O efeito protetor observado no estudo da The Lancet Global Health corrobora o que sugeriam pesquisas anteriores.
Em um trabalho publicado em 2021 na revista Vaccine, pesquisadores do Rio Grande do Sul, de São Paulo e de Brasília avaliaram o desempenho da vacina quádrupla em 5.945 mulheres de 26 estados e do Distrito Federal. Tanto o imunizante aplicado em várias doses quanto o de dose única protegem contra os sorotipos 6 e 11 do vírus, associados a verrugas genitais, e o 16 e o 18, causadores do câncer cervical. Como resultado de sua aplicação, a taxa de infecção por HPV foi 56,7% menor nas pessoas vacinadas do que nas não imunizadas. O trabalho, no entanto, não avaliou se a redução na infecção diminuía os casos de lesões pré-tumorais e câncer.
Embora a imunização e o rastreamento regular sejam as principais estratégias de prevenção do câncer de colo do útero, fatores como o desconhecimento sobre a vacina, falta do produto e falhas na qualidade do rastreamento comprometem a eficácia dessas medidas (ver Pesquisa FAPESP nº 351).
Em um levantamento encomendado pelo Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos (EVA) ao Instituto Locomotiva, foram entrevistadas 831 mulheres de todas as regiões do país entre o fim de julho e a primeira quinzena de agosto de 2025 – cerca de metade delas das classes A e B e a outra metade da C e da D. O trabalho, ao qual Pesquisa FAPESP teve acesso antecipadamente, revelou que três de cada 10 participantes tinham baixo grau de conhecimento sobre as formas de prevenção do câncer de colo do útero. “No total, 82% demonstraram desconhecimento geral sobre o tema, o que é assustador”, conta a oncologista Andrea Gadelha, líder do Centro de Referência em Tumores Ginecológicos do A.C.Camargo Cancer Center e presidente do Grupo EVA.
Em 2020, a Assembleia Mundial da Saúde, órgão que determina as políticas e os objetivos da Organização Mundial da Saúde (OMS), aprovou uma estratégia para acelerar a eliminação do câncer de colo do útero como problema de saúde pública. O objetivo é reduzir a incidência para menos de 4 casos por 100 mil mulheres – algo que o Brasil ainda está longe de alcançar. Para isso, o plano estabelece três metas a serem cumpridas até 2030: vacinar 90% das meninas até os 15 anos de idade contra o HPV; realizar rastreamento de alto desempenho em 70% das mulheres aos 35 e aos 45 anos; e garantir tratamento adequado a 90% daquelas diagnosticadas com lesões pré-cancerosas ou câncer invasivo.
No Brasil, o Ministério da Saúde atualizou em 2025 as diretrizes para o rastreamento do câncer
Cobertura vacinal média para meninas e meninos de 9 a 14 anos
A OMS recomenda vacinar 90% das meninas até os 15 anos de idade contra o HPV
Obs.: em alguns anos a cobertura ultrapassa os 100% porque o total de pessoas naquela faixa etária podia estar subestimado e porque os municípios registravam o número de doses aplicadas, e não o de indivíduos imunizados
cai após os primeiros anos e, entre as meninas, estabiliza-se em 80%
de colo do útero, determinando a implementação no SUS do teste de biologia molecular, que detecta o material genético do HPV e é mais sensível do que o Papanicolau. O teste molecular permite identificar 14 variedades do vírus e descobrir a sua presença no organismo antes de as lesões ou o câncer surgirem. Desde agosto, o exame passou a ser oferecido gradualmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Bahia, Pará, Rondônia, Goiás, Rio Grande do Sul e Paraná, além do Distrito Federal. A meta do ministério é, até dezembro de 2026, tornar essa forma de rastreamento disponível na rede pública de todo o país.
Após um período inicial de taxa de imunização exemplar, em que a quase totalidade das garotas elegíveis receberam o imunizante, a cobertura vacinal contra o HPV caiu a partir de 2018 e, mais recentemente, estabilizou-se na faixa dos 80%, abaixo da meta estabelecida pela OMS (ver gráfico). A vacina passou a ser oferecida aos meninos de 9 a 14 anos a partir de 2016. Nesse grupo, a cobertura se encontra em ascensão e recentemente chegou a 71% do grupo elegível, de acordo com os dados do Painel Coortes Vacinais – Papilomavírus Humano (HPV), do Ministério da Saúde.
Apesar da retomada recente, especialistas consultados pela reportagem alertam que a vacinação ainda enfrenta barreiras de acesso e informação, que se refletem em resistência e desconhecimento sobre a importância da imunização.
Um estudo liderado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e publicado em junho de 2025 na Vaccine buscou identificar os fatores associados à recusa ou ao atraso na vacinação contra o HPV. Em junho de 2023, foram entrevistados presencialmente 2.010 homens e mulheres com mais de 16 anos em todas as regiões do país, uma amostra representativa da população brasileira nessa faixa etária.
De modo até surpreendente, constatou-se que, no caso do HPV, a taxa de hesitação vacinal (a proporção de pessoas que se recusa a tomar vacina ou atrasa a imunização) é baixa no país: cerca de 6%.
Ela foi mais baixa no Nordeste (3,4%) e mais elevada nas regiões Sul (9,7%) e Centro-Oeste (9,8%). Foi menor entre o público que cursou a universidade (4,4%) e maior entre os iletrados (8,1%).
Os principais motivos apontados para não se vacinar foram o desconhecimento sobre a existência da vacina, mencionado por 22% dos entrevistados, a dificuldade de acesso e a falta de recomendação de profissionais de saúde (13%), a preocupação com efeitos colaterais e o receio de que o imunizante não seja seguro (10%).
“É um reducionismo grande acreditar que quem não se vacina é desinformado, negligente ou vítima de fake news. As pesquisas mostram que, no Brasil, o perfil de famílias que recusavam as vacinas, especialmente antes da pandemia, era formado por pessoas de alta renda e escolaridade, muitas vezes bem-informadas, mas expostas a outros tipos de informação”, avalia a médica sanitarista Camila Carvalho Matos, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) no campus de Araranguá, que investiga a hesitação vacinal. “No caso do HPV, entram ainda fatores como crenças religiosas, valores morais e ideologias. A decisão de não se vacinar, portanto, não se resolve apenas com mais informação. É preciso compreender o contexto cultural e simbólico dessas escolhas, e não tratar a hesitação como simples falta de conhecimento”, explica. Para a bióloga Luisa Villa, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP) e pesquisadora do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), a comunicação é fator-chave para melhorar a adesão às estratégias de vacinação e prevenção. “Não basta dizer que a vacina é segura, eficaz e salva vidas. Não basta ter um artigo publicado em um periódico científico respeitado ou outras evidências científicas. A população precisa se convencer e, para isso, a comunicação é decisiva. As mensagens têm de ser claras, direcionadas e compreensíveis, de modo que realmente gerem confiança e adesão tanto das mulheres quanto dos homens à vacinação”, explica Villa, coautora do estudo publicado em 2021 na Vaccine. A pesquisadora da USP destaca ainda que é necessário adaptar as mensagens aos diferentes públicos, com linguagem acessível e usando porta-vozes influentes e profissionais da saúde. Como exemplo que avalia como bem-sucedido, ela cita uma revista em quadrinhos lançada em 2025 pelo Icesp em parceria com o Instituto Maurício de Sousa. A publicação é protagonizada pela Turma da Mônica Jovem e voltada a adolescentes em fase escolar. O material, disponível gratuitamente no site do instituto, traz informações sobre o HPV e a importância da vacinação. l
Os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.

Drones subaquáticos vêm sendo empregados em inspeção de infraestruturas oceânicas, estudos científicos e monitoramento ambiental marinho
SUZEL TUNES
Um artigo publicado em maio de 2025 na revista Scientific Reports, do grupo Nature, inaugurou um novo capítulo na sismologia brasileira. Resultado de um estudo feito por pesquisadores do Observatório Nacional (ON), do Rio de Janeiro, e do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP), o trabalho mostrou que drones subaquáticos denominados gliders – ou planadores oceânicos – podem ser usados para detectar sinais sísmicos no fundo do mar de forma eficiente e econômica. “No mundo há uma quantidade escassa de trabalhos sobre gliders, e os que já foram publicados não tiveram como foco avaliar a eficácia desse equipamento na detecção de terremotos”, ressalta o geofísico Marcelo Belentani de Bianchi, pesquisador do IAG e um dos autores do artigo. Os dados analisados não foram coletados originalmente para um estudo sismológico, faziam parte do Projeto de Monitoramento da Paisagem Acústica Submarina na Bacia de Santos, coordenado pela Petrobras. Entre 2015 e 2021, atendendo a demandas de processos de licenciamento ambiental, a empresa fez um monitoramento acústico da região do pré-sal naquele local. O objetivo era detectar sons antropogênicos no ambiente marinho, como ruídos decorrentes das atividades de exploração e produção de petróleo, que pudessem impactar o ecossistema.
Para esse trabalho, foram utilizados gliders equipados com hidrofones (microfones subaquáticos). Os registros acústicos foram comparados com dados de catálogos de eventos sísmicos e
analisados com a ajuda de um algoritmo para diferenciá-los de outros ruídos, explica o geofísico Diogo Luiz de Oliveira Coelho, do ON. O resultado foi a identificação de 12 tremores de magnitude maior ou igual a 6 no período estudado.
O uso dos gliders, segundo Bianchi, abre uma nova perspectiva em sismologia, pois permite pensar em um monitoramento contínuo de longo prazo dos oceanos. Hoje, o que existe são apenas estudos pontuais. “A sismologia entende que locais distantes dos limites das placas oceânicas têm baixa sismicidade, similar ao que observamos nos continentes, mas a ausência de dados contínuos cobrindo essas regiões limita o conhecimento”, ressalta o pesquisador.
O geofísico explica que o monitoramento sísmico dos oceanos é limitado pelos custos econômicos e logísticos. Para a captação de sinais empregam-se, em geral, aparelhos conhecidos como OBS (ocean bottom seismometers), sismômetros tradicionais instalados em um invólucro para serem operados debaixo d’água. Pesando até 400 quilos (kg), requerem um navio com guindaste para manuseá-los em alto-mar, além de uma sala própria para operação. “Os OBS costumam ser usados para levantamentos temporários em regiões de águas não tão profundas e relativamente próximas da costa”, diz o pesquisador da USP. Mais leves, os planadores oceânicos têm a vantagem da mobilidade. Sua movimentação lembra, como o nome indica, a dos planadores aéreos, que são impulsionados por correntes de ar. Dentro d’água, o que garante a impulsão é a hidrodinâmica – esses drones não contam com um motor de propulsão. “Os gliders têm apenas um peque -

O drone SunFish, da norte-americana Stone Aerospace, explora cavernas submarinas de difícil acesso
O robô Luma (abaixo), criado na UFRJ, foi enviado a várias missões na Antártida. O Hindrax (à dir.) é usado para monitorar a produção de vieiras no Peru
no motor elétrico usado para inflar uma bexiga interna, que altera sua flutuabilidade. É isso que faz com que volte à superfície”, explica Coelho. Depois de cada mergulho para colher dados, ele é empurrado para cima e para a frente pela bexiga, e ao atingir a superfície comunica-se por satélite com a central de comando.
Acoleta dos dados pela Petrobras foi feita com gliders importados da empresa norueguesa Kongsberg. São drones classificados como AUV (veículos subaquáticos autônomos). Outra categoria desses dispositivos é a dos ROV (veículos subaquáticos operados remotamente), dotados de um cabo que os conecta a uma embarcação.
Os ROV surgiram na década de 1950, com propósitos militares. Eram usados em operações de reconhecimento, detecção de submarinos, localização de minas, entre outras. A evolução da indústria de petróleo e gás offshore , a partir da década de 1970, e os avanços da eletrônica, nos anos 1990, impulsionaram a tecnologia.
Hoje, esses equipamentos estão sendo cada vez mais utilizados para serviços de inspeção, monitoramento ambiental e pesquisa científica nos oceanos, segundo constatou a bióloga Amanda Carminatto em estudo feito em 2021, durante doutorado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). “Observamos um crescimento expressivo das pesquisas com ROV no cenário mundial e a aplicação mais direcionada à exploração de fundos marinhos e a estudos de biodiversidade”, relata.
O Instituto Alberto Luiz de Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe-UFRJ)

entrou nesse campo de pesquisa há mais de 30 anos. “A proximidade com a Petrobras nos levou a criar protótipos de ROV para inspeção de infraestrutura submarina”, conta o engenheiro eletrônico Alessandro Jacoud Peixoto, coordenador do Programa de Engenharia Elétrica (PEE) da Coppe.
O primeiro modelo criado no programa, em 2004, o Luma (Light underwater mobile asset) tinha como objetivo a inspeção de estruturas de hidrelétricas. Em 2007 surgiu a oportunidade de levar o equipamento para a Antártida, para uma operação de monitoramento da vida marinha na baía do Almirantado, onde fica a Estação Brasileira Comandante Ferraz. Para essa missão, o projeto sofreu adaptações (ver Pesquisa FAPESP nº 141). O Luma voltou mais duas vezes à Antártida, em 2009 e 2010.
Projetado para operar em profundidades de até 50 metros (m), no trabalho na Antártida, o ROV foi adaptado para mergulhos a 500 m e hoje chega a mil metros de profundidade. “Costumo dizer que fazemos drones capazes de participar de missões de mil metros de profundidade a mil metros de altura”, brinca Peixoto, referindo-se a um dos mais recentes desenvolvimentos do grupo, o robô Ariel (Autonomous robot for identification of emulsified liquids). Trata-se de um drone aéreo autônomo que trabalha em coordenação com uma embarcação, denominada Tupan, para a identificação de vazamentos em plataformas marítimas de petróleo (ver Pesquisa FAPESP nº 312).
Também com foco na exploração de petróleo nasceu o FlatFish (ver Pesquisa FAPESP nº 244), um dos primeiros AUV desenvolvidos no país. Criado para inspeção de dutos e equipamentos submarinos em áreas do pré-sal, o projeto começou em 2013, a partir de uma parceria entre a Shell Brasil e o Senai Cimatec, com a colaboração do Instituto Alemão de Robótica e Inteligência Artificial e apoios da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii).
“Ao longo de mais de 10 anos, cerca de 100 profissionais participaram do projeto, entre enge-

nheiros mecânicos, eletrônicos, de controle e de software e especialistas em inteligência artificial e testes submarinos. Essa diversidade foi essencial para superar os desafios técnicos e tornar o FlatFish uma realidade”, afirma Rosane Zagatti, gerente de Tecnologia da Shell Brasil.
Em 2019, o protótipo foi transformado em produto e a empresa italiana Saipem foi escolhida como parceira na etapa de industrialização e comercialização. “Esse modelo de parceria mostra como a colaboração entre centros de pesquisa e empresas pode impulsionar a inovação e gerar valor para todos os envolvidos”, diz Zagatti.
“Não temos ainda quem produza AUV e ROV em escala industrial no país”, lamenta o engenheiro naval Ettore Apolonio de Barros, da Escola Politécnica (Poli) da USP e coordenador do Laboratório de Veículos Não Tripulados (LVNT) da universidade. A equipe do LVNT dedica-se à robótica submarina desde 2005. Por enquanto, contudo, não há iniciativas de comercialização.
Outro projeto pioneiro no país foi o AUV Pirajuba (peixe amarelo, em tupi). Desenvolvido no LVNT, teve apoio da FAPESP desde sua concepção. O primeiro protótipo ficou pronto em 2008. Desde então foram surgindo aperfeiçoamentos e novos desenvolvimentos, como a linha de ROV Mandi, criada para a inspeção de turbinas de usinas hidrelétricas, e o Dourado, que carrega propulsores mais potentes e pode ter aplicações na indústria offshore. “O Dourado, em construção, está sendo projetado para operar em locais com maior correnteza”, explica Barros.
O pesquisador lidera atualmente o projeto de um veículo submarino híbrido (HROV) denominado Parati. “Ele pode atingir até 200 m de profundidade, tanto no modo autônomo como teleoperado, com cabo de fibra óptica, adaptando-se ao ambiente e às necessidades da operação”, explica Barros. O aparelho será destinado à indústria offshore e ao monitoramento ambiental.
O projeto tem a colaboração de pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e do engenheiro mecânico Alexander Alfonso Alvarez, da Universidade de La Serena, no Chile. Ele fez estágio de pós-doutorado na Poli, entre 2015 e 2018, sob a supervisão de Barros, e manteve a parceria com os pesquisadores do LVNT. “A robótica submarina abre novas perspectivas para o estudo e a preservação do ecossistema marinho”, comenta Alvarez. “Fala-se muito da importância da Amazônia para o meio ambiente, mas não podemos esquecer que a grande maioria do oxigênio que respiramos vem do fitoplâncton encontrado no mar.”

Na Universidade Federal do ABC (UFABC), o Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica também resultou em uma parceria internacional. O mestrado da engenheira mecatrônica colombiana Paola Andrea del Pilar Fonseca Florez, hoje professora da Universidad Católica San Pablo (UCSP), do Peru, culminou em um modelo de robô submarino operado remotamente, o Hindrax, que já está sendo empregado no litoral peruano para monitorar a produção de vieiras (tipo de moluscos usados na culinária).
“O equipamento permite fazer vídeos e fotografias do fundo do mar onde estão as vieiras. As imagens são processadas por um algoritmo de detecção baseado em IA que permite aos pescadores conhecer parâmetros como o número e o tamanho desses moluscos”, relata a pesquisadora.
Florez conheceu seu orientador, o peruano Juan Pablo Julca Avila, professor da UFABC, em 2019, ao participar do projeto de um ROV com a empresa peruana Veox, especializada em inovações tecnológicas para as áreas de pesca, agricultura e ambiente. A Veox havia contratado a consultoria de Avila, que tinha experiência nesse campo de pesquisa. Entre 2012 e 2014, desenvolveram um veículo robótico submarino para inspeção de cascos de navio, com apoio da FAPESP (ver Pesquisa FAPESP nº 244).
Avila incentivou Florez a cursar o mestrado no Brasil e o projeto teve início em 2021, na UFABC. Contou com a colaboração da UCSP, da Universidade de Lisboa, da Veox e do Centro de Inovação Tecnológica Pesquero Piura, do governo peruano. “No fim do projeto, a UCSP e a Veox ficaram com o ROV, que passou a ser usado na prestação de serviços de monitoramento de vieiras ou outras espécies”, conta a pesquisadora. l
Os projetos e os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
Desenvolvido no país, o FlatFish é fabricado e vendido pela empresa italiana Saipem 3
Mina de extração de lítio operada pela Sigma Lithium, próximo à comunidade Piauí Poço Dantas, em Itinga (MG)

Centros de pesquisa e órgãos públicos alertam para a ampliação da contaminação do solo e da água pela mineração em Minas Gerais
ENRICO DI GREGORIO
Os municípios de Araçuaí, com 35 mil habitantes, e Itinga, com 15 mil, ambos no Vale do Jequitinhonha, nordeste de Minas Gerais, vivem a perspectiva de aumento de empregos e de renda, mas também de contaminação do solo e da água. Tanto o desenvolvimento econômico quanto os problemas ambientais estão associados à exploração do lítio, elemento químico estratégico para a produção de baterias e para a transição energética (ver Pesquisa FAPESP nº 285).
Em 2023, o governo de Minas Gerais lançou o programa Vale do Lítio, para promover a exploração do mineral. Até aquele ano, uma empresa privada nacional, a Companhia Brasileira de Lítio (CBL), era a única a operar na região. Depois, a mineradora canadense Sigma Lithium iniciou a produção. A também canadense Lithium Ionic, a norte-americana Atlas Lithium, a australiana Latin Resources e a chinesa
BYD adquiriram áreas para pesquisa mineral na região.
No Brasil, o lítio é extraído principalmente do espodumênio, mineral encontrado em rochas chamadas pegmatitos. O problema é que a exploração química e mecânica das rochas e minerais para a retirada do lítio libera nanopartículas minerais com alumínio, elemento químico potencialmente tóxico que compõe o espodumênio.
“Os resíduos descartados contendo alumínio ficam empilhados em montes de rejeitos a céu aberto e, quando chove, são levados pela água superficial e se infiltram no solo”, conta o engenheiro-agrônomo Alexandre Sylvio Costa, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Com seus colegas da universidade, ele percorreu a região e buscou formas de resolver o problema. O grupo da UFVJM examinou as possibilidades de uso do silicato de alumínio, resíduo gerado após o espodumênio passar por um aquecimento a altas temperaturas, a chamada calcinação, e por 1
uma solução com ácido sulfúrico, formando sulfato de lítio. Em parceria com a CBL, os pesquisadores desenvolveram um silicato de alumínio não reativo, que, por causa de suas propriedades iônicas, atrai partículas dispersas na água, em um processo chamado floculação, ajudando a purificá-la, como detalhado em um estudo publicado em outubro no International Journal of Geoscience, Engineering and Technology.
A mineração do lítio amplia a liberação de elementos químicos e, portanto, os riscos de contaminação ambiental”, reforça o geólogo Edson Mello, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele e o geólogo Cássio Silva, da Companhia de Recursos em Pesquisas Minerais (CRPM), coletaram amostras de solo, vegetais e água nos arredores das cidades de Araçuaí e Itinga em 2008 e 2009 e, em todas, identificaram teores de alumínio acima do recomendado.
Os resultados das amostras próximas à mina apresentaram valores de alumínio similares aos regionais. Em pouco mais da metade (60%) das amostras coletadas, a concentração média era de 30,7 miligramas (mg) de alumínio por quilograma (kg) no solo, quase o dobro dos 17,7 mg por kg de áreas sem exploração de lítio. Na água, a média é de 0,405 mg por litro (L), bem acima dos limites de 0,05 mg/L a 0,2 mg/L de água potável recomendados pelo Ministério da Saúde, como detalhado em um artigo publicado em agosto de 2025 na Journal of Geological Survey
Silva estimou que cerca de 50 mil moradores da região estão expostos ao risco de contaminação por alumínio, cujo excesso prejudica o funcionamento dos ossos, músculos e do sistema nervoso central. Preocupado com a situação, ele
enviou os resultados para as empresas e órgãos públicos de Minas Gerais. As prefeituras de Araçuaí e Itinga e a Sigma não responderam às reiteradas solicitações de entrevistas de Pesquisa FAPESP.
Outras áreas do Vale do Jequitinhonha também apresentam sinais de impacto social e ambiental. Em novembro de 2024, ao percorrer o Vale do Jequitinhonha, a socióloga brasileira Elaine Santos, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), em Portugal, também deu razão aos protestos dos moradores, expressos em uma reportagem da Agência Brasil, de outubro de 2025. “Nas paredes das casas, vi rachaduras que os moradores diziam ser causadas pelas explosões das mineradoras”, afirma. “Eles relatavam que, o tempo todo, havia poeira e barulhos de máquinas.”
Na província de Yichun, na China, a maior produtora mundial de lítio, além da contaminação da água, a mineração aumentou a concentração de partículas com diâmetro de até 2,5 micrômetros na atmosfera para mais que o dobro dos níveis recomendados naquele país, concluíram pesquisadores do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG). As análises foram detalhadas em um artigo publicado em abril de 2025 na revista Eixos Tech
Problemas semelhantes inquietam os habitantes no noroeste da Argentina. Nessa região, o problema é a retirada de grandes quantidades de água, reduzindo o fluxo dos aquíferos subterrâneos que abastecem os moradores, alertaram pesquisadores das universidades nacionais de Salta (UNSa) e de La Plata (UNLP)

em um artigo publicado em fevereiro de 2025 na revista Heliyon. De acordo com esse trabalho, uma das minas, na província de Jujuy, consome cerca de 51 metros cúbicos (m³) de água por tonelada de carbonato de lítio. Esse volume corresponde a 30% da água doce do complexo de salinas conhecido como Salar de Olaroz-Cauchari, de onde se extrai o lítio.
O QUE FAZER?
“Simplesmente parar de usar lítio não é uma opção”, antecipa Santos. A partir de 2011, a extração do mineral ganhou importância em todo o mundo ao ser amplamente usado em baterias que duram mais tempo e em fontes renováveis de energia. Para ela, não se deveria criar grandes empreendimentos sem investir em serviços de saúde e agentes de fiscalização: “É preciso desenvolver uma infraestrutura que possa suportar as consequências da mineração”.
Mello, da UFRJ, ressalta a necessidade de mais transparência, audiências públicas, estudos de impacto ambiental e acompanhamento da mineração. “Precisamos mostrar claramente os riscos ao ambiente e aos moradores, que raramente são ouvidos”, diz. “Os estudos geológicos prévios também precisam ser debatidos com as comunidades para que possamos ter uma mineração com o mínimo possível de impactos ambientais.”
As resoluções nº 001/1986 e nº 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) definem a participação popular no licenciamento ambiental de atividades de mineração como princípio fundamental e instrumento jurídico obrigatório. O artigo da Eixos Tech, porém, observa que a escassez de fiscais e de recursos da Agência Nacional de Mineração (ANM) dificulta a implementação dessas leis.
Pegmatito, rocha da qual é extraído o mineral que contém lítio
Em setembro de 2025, o procurador Helder Magno da Silva, do Ministério Público Federal (MPF), recomendou formalmente à ANM a suspensão e revisão de todas as autorizações de pesquisa e extração de lítio no Vale do Jequitinhonha e solicitou “uma consulta prévia, livre, informada e de boa-fé” das populações locais antes de qualquer nova concessão para exploração de lítio. l
Os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.

Pesquisas investigam como se deu a troca de conhecimento na área da educação entre o Brasil e outros países
CHRISTINA QUEIROZ ilustrações CARLA BARTH
Em 1933, um livro contendo testes para avaliar a aptidão de crianças que iriam iniciar o processo de alfabetização cruzou as fronteiras da América Latina. Produzida no Brasil pelo educador paulistano Manoel Bergstrom Lourenço Filho (1897-1970), a obra tornou-se referência em países como Argentina e México nas décadas seguintes. Essa trajetória é um dos casos analisados por projeto temático financiado pela FAPESP, encerrado em 2025, que investigou a circulação transnacional de ideias pedagógicas do século XIX aos dias atuais entre o Brasil, a Europa, os Estados Unidos e a América Latina.
“O projeto examinou documentos de diferentes períodos históricos, incluindo fontes como catálogos de bibliotecas escolares, recibos de compra de livros, manuais pedagógicos, filmes educativos em 8 milímetros [mm] e cartas de professores, revelando como ideias estrangeiras foram apropriadas, traduzidas e adaptadas em contextos locais”, explica a historiadora Diana Vidal, professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE-USP) e coordenadora do projeto.
“Pesquisas sobre os diálogos entre países, instituições e suportes impressos têm reconfigurado a maneira de se pesquisar a história da educação”, concorda a pesquisadora Mônica Yumi Jinzenji, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que não participou do projeto temático. Uma das organizadoras da obra História da educação –Práticas e instâncias educativas (Editora Selo FAE,
2025), ela explica que um elemento comum aos estudos que compõem esse livro é investigar a circulação de conhecimentos e de que forma eles foram adaptados no Brasil. Na sua perspectiva, a abordagem transnacional tem sido viável, entre outros motivos, pela ampliação do acesso a arquivos digitais, que permitem expandir o escopo e a profundidade das análises.
Segundo o historiador Bruno Bontempi, professor da FE-USP e participante do projeto coordenado por Vidal, a virada do século XIX para o XX constitui um marco central em relação à circulação do conhecimento internacional nas escolas dos Estados Unidos, Europa e América Latina. Isso porque, naquele momento, vários países vivenciavam um processo de expansão urbana e queriam ampliar a escolarização de suas populações. Como parte dessa dinâmica, o movimento Escola Nova, que tem o pedagogo suíço Adolphe Ferrière (1879-1960) como um de seus fundadores, foi criado com a proposta de renovar o sistema educacional. Isso envolvia, por exemplo, aplicar testes para analisar aptidões de estudantes, colocar o aluno como centro do aprendizado e valorizar a experiência prática. De acordo com o pesquisador brasileiro, as ideias da Escola Nova já circulavam no Brasil em 1920, impulsionando a troca de conhecimentos e objetos pedagógicos, como livros, entre o país e outras nações (ver Pesquisa FAPESP nº 335).
Autor do livro Escola Nova: Políticas de reconstrução – A educação no Rio de Janeiro e em São Paulo (1927-1938) (Editora da Unicamp, 2022), o historiador André Luiz Paulilo, da Universida-
de Estadual de Campinas (Unicamp), pesquisa como concepções pedagógicas, especialmente aquelas originadas no hemisfério Norte, foram apropriadas pelo Brasil. Nesse sentido, ele explica que, na Europa, os ideais da Escola Nova foram adotados pontualmente em experiências locais, enquanto no contexto brasileiro essas propostas se disseminaram por diferentes estados e municípios e passaram a influenciar políticas públicas criadas por governos estaduais. “Nos anos 1930, escolas das capitais reformularam seus currículos e nos anos seguintes as mudanças chegaram também às cidades do interior”, afirma Paulilo, que participou da pesquisa coordenada por Vidal.
Esse esforço de reinventar e adaptar propostas pedagógicas estrangeiras se estendeu para as décadas seguintes. Licenciada em educação física, Cassia Danielle Monteiro Dias Lima, docente da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), unidade de Ibirité, comenta que entre 1950 e 1960, como parte do processo de renovação iniciado com a Escola Nova nos anos 1920, a educação física brasileira incorporou um repertório diversificado de metodologias estrangeiras, entre elas o chamado Método Natural Austríaco. A proposta foi criada na Áustria depois da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e se baseia na valorização de movimentos naturais e variados, na realização de exercícios físicos ao ar livre e na interação com elementos do meio ambiente, como pedras, troncos e rios. “O método propunha uma aprendizagem progressiva e foi uma resposta a modelos precedentes, que eram considerados excessivamente mecânicos e impunham padrões rígidos de movimentos”, esclarece a pesquisadora, autora de capítulo sobre o tema no livro História da educação – Práticas e instâncias educativas Segundo Lima, o Método Natural Austríaco passou a ser adotado na prática de professores de educação física e em cursos superiores da área no país. O marco inicial dessa incorporação aconteceu em 1957, quando o professor austríaco Gerhard Schmidt (1933-2018) passou meses no Brasil ministrando cursos de aperfeiçoamento sobre o método em cidades como Santos (SP), Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte. A pesquisadora explica que o Método Natural Austríaco foi produzido como tentativa de conciliar práticas esportivas e exercícios de ginástica, utilizando jogos como estratégia de ensino. Ao ser adotado no Brasil, estabeleceu relações com outras maneiras de pensar e fazer educação física que circulavam pelo país. Nesse sentido, passou a articular a defesa de movimentos naturais (como andar, correr e saltar) com exercícios direciona-
dos. Além disso, incorporou aspectos morais e religiosos que eram vinculados a preceitos cristãos católicos.
Em relação à vinda de profissionais da educação ao Brasil, a pedagoga Ana Laura Godinho Lima, da FE-USP, comenta que o país recebeu pesquisadores e intelectuais estrangeiros que fugiam de conflitos na Europa, como a Revolução Russa de 1917 e a Guerra Civil Espanhola (1936-1939). Esse foi o caso da psicóloga russa Helena Antipoff (1892-1974), que estudou medicina e psicologia na França e trabalhou com o pedagogo suíço Édouard Claparède (1873-1940) no Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra, voltado à formação de professores.
Antipoff chegou ao Brasil em 1929, a convite de Francisco Campos (1891-1968), então secretário do Interior do estado de Minas Gerais, e assumiu o cargo de professora de psicologia educacional na Escola de Aperfeiçoamento de Minas Gerais, instituição dedicada à formação de professores. Lá, fundou um dos primeiros laboratórios de psicologia aplicada da América do Sul. “Ao longo de sua estada no Brasil, Antipoff esteve à frente de outras iniciativas, como uma escola experimental para crianças com deficiência na zona rural mineira, que inovava na abordagem pedagógica ao articular atividades de ensino com práticas manuais, como marcenaria e artesanato”, relata Godinho Lima, que participou do projeto temático. A experiência chamou a atenção de outros educadores estrangeiros, como alunos de Claparède, que visitaram o Brasil em algumas ocasiões para conhecer e acompanhar o desenvolvimento do projeto.

Outro exemplo citado pela pesquisadora é o do psicólogo catalão Emilio Mira y López (18961964), exilado durante a Guerra Civil Espanhola. Em 1945, ele se instalou no Rio de Janeiro, onde dirigiu o Instituto de Seleção e Orientação Profissional, que atuou na psicologia aplicada ao trabalho, sendo considerado crucial para o desenvolvimento da psicometria e da psicologia científica no país. Essas áreas da psicologia são dedicadas à elaboração de ferramentas como testes de QI (quociente de inteligência). Ao lado de Antipoff e outros profissionais, ele fundou em 1946 na capital fluminense o Centro de Orientação Juvenil, que oferecia atendimento psicológico a jovens.
“Esses educadores vinham ao Brasil para fugir da situação difícil na Europa e, aqui, encontravam um terreno fértil para experimentação de ideias”, observa Godinho Lima.
Além de incorporar práticas pedagógicas, o Brasil produziu conhecimento que circulou em outros países. Nesse sentido, Vidal menciona o caso de Lourenço Filho, citado no início desta reportagem. De acordo com a pesquisadora, a inserção do educador paulistano em debates globais aconteceu, inicialmente, por meio da Bibliotheca de Educação, projeto editorial criado pela Companhia Editora Melhoramentos, de São Paulo, em 1928. Como diretor da coleção, ele encomendou traduções de livros de autores de destaque da psicologia e da sociologia da educação relacionados ao movimento Escola
Nova, como o francês Henri Piéron (1881-1964) e o suíço Claparède.
“Essa mediação do pensamento estrangeiro marcou sua entrada no circuito transnacional, em um momento em que viagens também se tornaram comuns entre educadores brasileiros, que buscavam aprimorar a sua formação por meio de experiências internacionais”, diz Vidal. Nos anos 1930, os profissionais da educação se deslocaram sobretudo para os Estados Unidos, devido à possibilidade de intercâmbios e estudos em instituições como o Teachers College, da Universidade Columbia, considerada referência na oferta de cursos para a formação docente. A partir de análises da correspondência e das redes intelectuais que ligavam Lourenço Filho a nomes como os educadores brasileiros Anísio Teixeira (1900-1971) e Noemy da Silveira Rudolfer (1902-1980), Vidal identificou que o paulistano desenvolveu conexões ativas com especialistas estrangeiros, entre eles o próprio Piéron, que esteve no Brasil em missão oficial em 1926.
Mais do que um mediador, Lourenço Filho tornou-se produtor de conhecimento que circulou em outros países. Para ilustrar esse argumento, Vidal relata que o livro Testes ABC: Para a maturidade necessária à aprendizagem da leitura e da escrita (1933), escrito pelo educador como parte da coleção Bibliotheca de Educação, foi um dos principais instrumentos educacionais em circulação pela América Latina a partir da década de 1930. Lançado em um período de crescente interesse global por testes mentais como instrumentos de avaliação psicométrica, o volume traz uma pro -

posta para medir quando crianças estão prontas para iniciar a alfabetização. “A simplicidade metodológica e o prestígio do autor favoreceram a rápida adoção dessa obra em larga escala tanto no Brasil como em outros países da região”, informa a historiadora.
Adifusão internacional do título teve início com a tradução para o espanhol pela editora Kapelusz, sediada em Buenos Aires e especializada em material didático. A versão argentina foi lançada em 1937, quatro anos após sair no Brasil. Com seis edições publicadas de 1933 até 1974, o livro foi um sucesso editorial naquele país, tornando-se leitura obrigatória em instituições de formação docente, especialmente na província de Buenos Aires. Cartas vindas de países como Argentina e Equador, registradas em edições brasileiras, por exemplo, indicam o uso efetivo do livro em sala de aula, dúvidas sobre sua aplicação e sugestões de adaptação.
Além da Argentina, o livro foi editado no México em 1964 pelo Instituto Federal de Capacitação do Magistério, e chegou aos Estados Unidos em um formato resumido, em 1969, por iniciativa da Universidade Temple. De acordo com Vidal, um relatório de 1948 da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e do Bureau Internacional de Educação (BIE) lista a obra como um dos instrumentos psicométricos mais utilizados na América Latina entre os anos 1930 e 1980. “Lourenço Filho adaptou e exportou propostas pedagógicas, contribuindo ativamente para o debate educacional em escala continental”, assegura a historiadora.
Outros elementos utilizados para pensar a história da educação brasileira em uma perspectiva transnacional são os objetos do universo escolar. Em pesquisa de pós-doutorado, finalizada na USP em 2022 com financiamento da FAPESP, a historiadora Carolina Mostaro, hoje docente da FE-USP, investigou a formação da biblioteca da antiga Escola Normal de São Paulo, fundada em 1846 no centro da capital, com a proposta de formar professores para atuarem na educação básica. “O pontapé inicial para a constituição do acervo foi a compra de uma coleção de livros franceses na década de 1880”, conta a pesquisadora.
O conjunto se ampliou entre 1880 e 1884, quando o diretor da instituição, o franco-brasi leiro Paulo Bourroul (1855-1941), foi à França incumbido de adquirir mais livros e outros materiais didáticos. “Esses itens foram fundamentais para estruturar a biblioteca, que passou a funcionar oficialmente em 1884”, afirma Mostaro. De acordo com ela, a dinâmica revela um trânsito intelec-
tual intenso existente entre São Paulo e centros editoriais europeus, principalmente a França. “Ao reunir livros de todas as disciplinas, a biblioteca da Escola Normal se consolidou como símbolo de excelência na formação de professores. Ter um acervo estrangeiro qualificou simbolicamente a instituição”, considera.
Por sua vez, a pedagoga Rosa Fátima de Souza Chaloba, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Araraquara, explica que nos anos 1950 recursos audiovisuais como filmes educativos, retroprojetores e slides passaram a ocupar papel central em debates pedagógicos e nas políticas públicas de educação no Brasil. Em estudo que analisa a circulação desses objetos entre 1950 e 1980, ela identificou que esse movimento foi impulsionado por iniciativas de cooperação internacional. Entre 1949 e 1961, por exemplo, o Brasil recebeu ajuda financeira dos Estados Unidos para difusão do uso de recursos audiovisuais na educação. “Com essas iniciativas, os norte-americanos buscavam ampliar a cooperação e a influência de suas propostas pedagógicas em território nacional”, diz Chaloba, que compôs a equipe do projeto temático coordenado por Vidal. Um desses programas envolvia o financiamento do Programa de Cooperação Técnica Ponto IV, iniciativa que oferecia assistência técnica e financeira para diferentes áreas de países em desenvolvimento, com o objetivo de promover o crescimento e aumentar a influência norte-americana nas regiões. Em 1959, o programa subsidiou a criação do Serviço de Recursos Audiovisuais no Centro Regional de Pesquisas Educacionais,

criada

sediado em São Paulo e vinculado ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), do Ministério da Educação. A filmoteca do centro regional foi formada a partir da aquisição de filmes educativos produzidos nos Estados Unidos sobre diversas áreas, como ciências, geografia e história, e emprestava esse material audiovisual para escolas públicas.
Em formato 8 mm, os filmes exigiam equipamentos específicos para serem exibidos. Outros recursos de grande difusão foram os retroprojetores, que se tornaram símbolo da modernização tecnológica no ambiente escolar. Dispositivos como projetores de slides também se difundiram, especialmente em cursos de formação de professores e para o ensino de idiomas. “Essa colaboração incluiu o envio de técnicos norte-americanos ao Brasil, a oferta de bolsas de estudos para professores brasileiros em instituições norte-americanas e a montagem de laboratórios e centros audiovisuais em escolas brasileiras”, comenta a pedagoga.
Em tese de doutorado, defendida em 2023 na UFMG, o historiador Gabriel Bertozzi investigou os primeiros livros em braile que circularam no Brasil no século XIX. O sistema foi criado em 1825 por Louis Braille (1809-1852), jovem francês com deficiência visual. “A versão final do método, baseada em pontos em relevo que permitem leitura e escrita táteis, foi consolidada em 1837, substituindo sistemas anteriores que reproduziam letras em relevo”, diz Bertozzi. O responsável por trazer os primeiros livros em braile ao Brasil, em 1850, foi José Álvares de Azevedo (1834-1854), ex-
-aluno do Instituto dos Meninos Cegos de Paris, na França, voltado à educação de pessoas cegas. Ele também articulou a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1854 (ver Pesquisa FAPESP nº 348), atual Instituto Benjamin Constant (IBC). A entidade selecionava obras utilizadas na educação básica brasileira e as enviava para tipografias na França, que as traduziam e imprimiam em braile.
De acordo com o pesquisador, o primeiro livro produzido em braile para fins de exportação na Europa foi impresso a pedido do governo brasileiro. “A demanda nacional teve impacto direto na ampliação da capacidade produtiva francesa, funcionando como impulso para que gráficas daquele país adquirissem novos equipamentos e passassem a produzir obras em braile em grande escala para exportação”, relata Bertozzi, docente no IBC. A partir de 1857, o Brasil passou a contar com tipografias para impressão em braile. Esses livros foram apresentados em Exposições Universais, organizadas na Europa para divulgar iniciativas educacionais promovidas pelo governo imperial do Brasil. “Os impressos elaborados em território nacional circulavam no exterior como exemplos de uma pedagogia possível para cegos, contribuindo para o debate global sobre a educação de pessoas com deficiência”, finaliza o historiador. l
Os projetos, os artigos científicos e os livros consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
Resultado de mais de uma década de trabalho, coleção em seis volumes propõe nova leitura da produção literária gaúcha, valorizando trajetórias e temáticas locais
CHRISTINA QUEIROZ
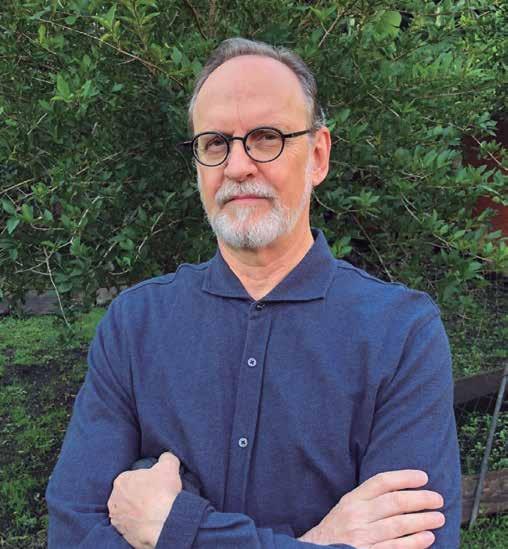
Professor de literatura brasileira na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o gaúcho Luís Augusto Fischer costuma dizer que viver perto de fronteiras significa estar em estado permanente de autorreflexão. Talvez por isso, ao longo de sua trajetória acadêmica, ele sempre tenha sentido que o Rio Grande do Sul, que faz divisa com Argentina e Uruguai, carregava perguntas sobre a própria identidade. Na visão do pesquisador, o estado imagina ser distante do Brasil, mas ao mesmo tempo é profundamente marcado pela história nacional. Dessa sensação de deslocamento nasceu uma ideia: escrever uma história da literatura gaúcha que não apenas registrasse autores e datas, mas reconstruísse a lógica interna desse território cultural.
Publicada em 2025, a coleção História da literatura no Rio Grande do Sul (Editora Coragem e Editora da UFRGS) reúne seis volumes, com textos assinados por 92 autores. Uma de suas propostas é contar a história literária no estado distanciando-se de marcos temporais e culturais associados a cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, entre eles a Semana de Arte Moderna de 1922. Além disso, o trabalho incorpora em suas análises recortes como canção popular, histórias em quadrinhos, tradução, literatura indígena, de fantasia e a vida editorial do estado. A obra vem sendo apresentada a estudantes e ao público em geral por meio de caravanas que percorrem universidades, faculdades e bibliotecas públicas de todo o estado.
Graduado, mestre e doutor em letras pela UFRGS, ele também cursou quatro anos de graduação em história e realizou estágio de pós-doutorado na Sorbonne Paris VI, na França. Em 2023, foi professor visitante na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Fischer tem 67 anos e é autor de mais de 20 livros, muitos deles envolvendo crítica literária e cultura gaúcha.
Por que escrever uma história da literatura no Rio Grande do Sul?
Desde o início de minha carreira lecionei literatura, que é a área à qual me dedico mais diretamente. No entanto, nunca perdi de vista o campo da história propriamente dito, especialmente os debates historiográficos. Sempre tive o desejo de escrever uma história da literatura. Parte importante de minha motivação para organizar esse trabalho vem do lugar onde vivo. O Rio Grande do Sul ocupa uma posição geográfica específica no Brasil. Durante cerca de 150 anos, fez fronteira entre o império português e o espanhol e, hoje, faz divisa com Argentina e Uruguai. Ao contrário de outras fronteiras, que se perdem na floresta ou em zonas sem circulação humana intensa, aqui, a linha divisória é viva e povoada. Gosto de recorrer a uma ideia do sociólogo alemão Georg Simmel [1858-1918] para pensar esse fenômeno. Simmel dizia que quem vive na fronteira é sempre levado a refletir sobre a própria identidade. Assim, no meu estado, somos atravessados por
um impulso autorreflexivo. Considero que esse sentimento esteve no cerne do meu desejo de refletir sobre a literatura no Rio Grande do Sul.
Como surgiu a ideia de desenvolver a coleção?
É uma ideia que acalento desde a faculdade, na década de 1970. Na graduação tive aulas com o historiador Guilhermino César [1908-1993], primeiro titular da cadeira de literatura brasileira da UFRGS. Ele elaborou diferentes estudos sobre a historiografia literária no estado e falava sobre eles em suas aulas. Assim, eu dialogava diretamente com alguém que tinha escrito a história que hoje tento compreender e atualizar. Entretanto, a ideia começou a se desenhar mais claramente em 1999, quando a pesquisadora Elisa Henkin, que foi minha colega de faculdade, assumiu a direção do Instituto Estadual do Livro [IEL]. Naquela época, o IEL tinha um papel relevante no cenário cultural do estado. Henkin me procurou para pensarmos em ações para sua gestão. Nos anos 1990, vivíamos um clima de efervescência cultural que culminou, em 2001, na realização do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, um evento de enorme vitalidade política e projeção internacional. Sugeri, então, que o IEL organizasse uma história da literatura no Rio Grande do Sul. A proposta era reunir pesquisadores que já vinham escrevendo sobre autores, períodos e movimentos literários específicos, e convidá-los a produzir sínteses de seus estudos. Porém o projeto acabou não acontecendo naquela ocasião e decidi retomar a ideia em 2006.
Por quê o senhor retomou a ideia?
Naquele ano, o historiador Tau Golin, da Universidade de Passo Fundo [UPF], e o filósofo Nelson Boeira, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul [Uers], coordenaram a publicação da obra História geral do Rio Grande do Sul [Editora Méritos], composta por seis volumes. Fui convidado a integrar o conselho editorial dessa coleção e a experiência reacendeu meu interesse. Pensei que era hora de tentar novamente escrever uma história literária do estado. A ideia foi amadurecendo ano após ano até a produção começar de forma efetiva em 2014, quase uma década depois. Convidei colegas
de cada um dos programas de pós-graduação em literatura no Rio Grande do Sul para escrever os capítulos. Temos aqui uma rede universitária sólida, com forte presença no interior do estado. Ao todo, 92 pessoas assinam os textos que compõem a obra, incluindo pesquisadores da geração anterior à minha, colegas da minha geração e pesquisadores mais jovens, recém-formados ou em processo de formação acadêmica. Essa diversidade geracional foi fundamental para compor um panorama amplo e plural da história da literatura no estado.
Quais temas norteiam a coleção? Temos uma conexão forte com a literatura produzida em Montevidéu, no Uruguai, e Buenos Aires, na Argentina. O primeiro volume da coleção se inicia em 1860, quando começa a se consolidar uma produção literária mais estruturada no estado. O segundo aborda o
modernismo no estado, a partir de 1910, enquanto o terceiro abarca a geração de escritores como Érico Verissimo [1905-1975], Mario Quintana [1906-1994] e Dyonélio Machado [1895-1985], que tiveram seu auge durante período de intensa atividade da Editora Globo, em Porto Alegre, nas décadas de 1930 e 1940. O quarto volume inclui a produção elaborada durante a ditadura militar [1964-1985] e o quinto número envolve autores contemporâneos. Por fim, o sexto volume reúne temas que atravessam diferentes períodos históricos. Entre eles, a história de instituições ligadas à vida literária, como academias de letras, associações de escritores e feiras do livro, que constituem um fenômeno importante no estado há mais de 70 anos. Há, também, ensaios dedicados à produção memorialista e à literatura de grupos étnicos específicos: indígenas, teuto-descendentes, afrodescendentes e judeus.
Quem vive em regiões de fronteira com frequência é levado a refletir sobre a própria identidade
Poderia falar sobre as novidades temáticas e metodológicas da coleção? Uma novidade que considero particularmente significativa é a inclusão da tradução como parte da história da literatura do estado. Há um capítulo inteiro dedicado a tradutores que atuaram no Rio Grande do Sul. Temos uma tradição contínua de tradução de obras do dramaturgo inglês William Shakespeare [1564-1616] desde o começo do século XX, com diferentes gerações de estudiosos dedicados a verter seus escritos para o português. Também desenvolvemos um capítulo com um levantamento de autores gaúchos traduzidos para distintos idiomas, como Érico Verissimo e Dyonélio Machado. Incluímos, ainda, temas que costumam ser marginalizados na historiografia literária tradicional, como a canção popular. No livro, contamos a história desse gênero no estado a partir da geração do compositor Lupicínio Rodrigues [1914-1974], dos anos 1930. Também temos capítulos dedicados à literatura de fantasia e infantojuvenil e à produção em quadrinhos. O objetivo foi dar estatuto literário a essas formas de expressão, reconhecendo sua importância na configuração do campo cultural gaúcho.
Houve um esforço para incorporar a produção literária de cidades menores?
Sim. Outro ponto de destaque da nossa obra é justamente descentralizar a narrativa. Em estudos historiográficos anteriores existe uma tendência de concentrar as análises na capital, Porto Alegre. Para superar isso, incluímos no segundo volume uma seção dedicada à vida literária em cidades do interior. Não se trata apenas de reconhecer autores que nasceram em outras localidades, mas de mapear municípios que desenvolveram uma vida literária efetiva, com jornais dedicados à literatura, academia de letras, grupos organizados de escritores e poetas em atividade. Selecionamos 14 cidades e encomendamos pequenas monografias sobre cada uma delas. Entre elas estão Pelotas, Santa Maria, Bagé, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul e São Leopoldo.
Quais autores contemporâneos são analisados no trabalho?
O estado sempre contou com um número expressivo de escritores que publicam majoritariamente aqui, cujas obras são lidas, debatidas e valorizadas localmente, mesmo sem grande projeção nacional. Muitos desses autores apresentam um nível literário elevado. Esse circuito interno não só mantém uma vitalidade própria como, muitas vezes, acaba lançando nomes que ultrapassam as fronteiras do estado. Em parte, isso se deve à história e à cultura local, que criaram condições para o surgimento constante de novas vozes a cada geração. Hoje, por exemplo, vemos emergir com força autores negros no estado, como José Falero, Jeferson Tenório e Eliane Marques, que publicaram inicialmente em editoras e revistas locais, mas que com o passar dos anos ganharam projeção nacional.
Como a pesquisa acadêmica colabora com o movimento literário no estado? Além de nomes como Lya Luft [1938- 2021] e Caio Fernando Abreu [1948-1996], que são amplamente estudados, há uma atenção acadêmica dedicada a autores menos conhecidos. Muitas vezes, são figuras cuja obra não circula fora do estado, mas que despertam interesse pelo valor estético ou histórico que carregam. Muitos pesquisadores expressam uma preocupação com a manutenção da memória literária local. Um desses objetos
de estudo é o Grupo Quixote, coletivo de vanguarda literária surgido no estado após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). O grupo, que inspirou diferentes dissertações e teses, não ganhou projeção nacional, mas teve integrantes como o sociólogo Raymundo Faoro [1925-2003], que se tornou um nome importante das ciências sociais no Brasil.
O imaginário gauchesco sempre esteve presente nas obras de autores do estado?
Existe no Rio Grande do Sul uma dimensão forte de bairrismo, que se manifesta, entre outras formas, na valorização da literatura de temática gauchesca. Trata-se de uma produção extensa e consolidada, centrada no universo das estâncias, do gado e dos cavalos. Esse imaginário rural compõe um dos pilares da identidade cultural do estado. Mas essa tradição não se limita ao território brasileiro. Ela é
compartilhada com regiões da Argentina e do Uruguai, compondo uma paisagem cultural comum que ultrapassa as fronteiras nacionais. Por isso, incluímos na coletânea um capítulo com resultados de pesquisas dedicadas à chamada literatura gauchesca, abordando suas manifestações tanto no Rio Grande do Sul quanto na região do rio da Prata.
A Semana de Arte Moderna de 1922 foi importante para esse cenário?
A notícia da Semana de Arte Moderna chegou cedo ao Rio Grande do Sul e foi bem recebida por escritores e críticos locais. Desde 1925, Mário de Andrade [1893-1945] manteve correspondência intensa com Augusto Meyer [1902-1970], intelectual gaúcho que foi poeta e depois se destacou como ensaísta e tradutor. Essa troca de cartas entre os dois revela o interesse de Andrade por entender o que acontecia no estado gaúcho. O diálogo é revelador de uma dinâmica de reconhecimento mútuo, mas também de diferenças. Meyer nunca tomou Andrade como o único modelo possível de autor moderno. Ao contrário, suas referências de modernidade eram outras, entre elas alguns autores vinculados ao modernismo do Rio Grande do Sul, como Ernani Fornari [1899-1964].
Quais as peculiaridades do modernismo gaúcho?
No campo dos estudos literários se instalou o que considero uma perversidade: a superespecialização precoce
Enquanto o modernismo paulista se construiu em oposição ao parnasianismo, o modernismo no Rio Grande do Sul surgiu como um herdeiro direto do simbolismo, propondo inovações, mas sem menosprezar o passado. Há autores gaúchos interessantes cujas trajetórias expressam bem essa confluência de tradições. Fornari é um deles, na medida em que seu primeiro livro, Missal da ternura e da humildade [Livraria do Globo, 1923], apresenta forte inclinação simbolista, enquanto as obras seguintes, como Trem da serra [1928], têm aspectos claramente modernos, adotando uma linguagem cotidiana e menos solene. O Rio Grande do Sul não teve muitos escritores alinhados com a estética do modernismo paulistano de 1922, que buscava romper com características literárias de movimentos anteriores. Talvez esse seja um dos motivos de terem alcançado pouca repercussão em nível nacional. Em
contrapartida, tivemos uma produção intensa nos anos 1930 e 1940 no campo do romance realista, incluindo Érico Verissimo e Dyonélio Machado, que hoje são considerados centrais à história da literatura brasileira, da mesma forma que Mário de Andrade e Oswald de Andrade [1890-1954].
Por que a história da literatura no Brasil tende a se organizar a partir do eixo Rio-São Paulo?
Por diferentes motivos. Alguns deles envolvem o fato de o Rio ter sido capital do país por quase dois séculos, enquanto a cidade de São Paulo passou a ser considerada o centro irradiador de tendências modernistas após 1922. Esses acontecimentos acabam estabelecendo parâmetros redutores para pensar a literatura no Brasil como um todo. Em São Paulo, por exemplo, a chancela modernista opera como uma espécie de selo de legitimidade: só é reconhecido como relevante quem se enquadra em modelos estéticos preconizados por autores que fizeram parte do movimento. Entre as características valorizadas nesse sentido estão poemas escritos com versos livres, a busca pela identidade nacional nas narrativas, a aposta em experimentação estética e na linguagem coloquial. Minha crítica a esse modelo é antiga. Sempre defendi a importância de prestar atenção às dinâmicas locais, sem impor critérios externos. Por exemplo, se eu fosse buscar uma manifestação parnasiana no Rio Grande do Sul semelhante à que ocorreu no Rio de Janeiro, não encontraria. O parnasianismo praticamente não existiu no estado gaúcho. Em compensação, o simbolismo teve aqui uma presença muito forte, que se estendeu até os anos 1920. Ou seja, os tempos literários são outros, e é justamente por isso que precisamos olhar com atenção para os processos locais. Mas o conteúdo que produzimos na nossa coleção não pode ser pensado como enciclopédico ou como uma história única. Uma história literária precisa ser, antes de tudo, uma narrativa com conflitos, tensões, escolhas e silêncios.
Por que o senhor questiona o regionalismo?
Essa é uma das categorias mais problemáticas da história literária brasileira. O
propôs inovações, mas sem menosprezar
passado
que significa, afinal, regionalismo? Toda produção cultural, inclusive a do centro, é de uma região. O carimbo de regionalista, que foi dado a produções de regiões como o Sul e o Nordeste do Brasil, empobrece a recepção da obra e restringe sua validade. A história da literatura no Rio Grande do Sul mostra que os ritmos e as prioridades foram diferentes daquelas identificadas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Por isso, trabalhamos com marcos temporais próprios.
Quais são eles?
Um desses marcos temporais é 1868, quando foi fundada a Sociedade Partenon Literário, em Porto Alegre, que, na ocasião, tinha pouco mais de 20 mil habitantes. Criada por um grupo de escritores, a associação foi o centro da vida literária do estado durante cerca de 20 anos, editando uma revista que desempenhou papel fundamental à circulação de ideias. Outro marco decisivo envolve a fundação da Livraria do Globo em 1883. Originalmente, o estabelecimento
imprimia documentos comerciais, como contratos e notas fiscais. Porém, no final dos anos 1920, passou também a publicar livros, motivado pela emergência de jovens escritores, que buscavam um local para imprimir seus textos. Foi nesse contexto que surgiram nomes como Érico Verissimo e Dyonélio Machado. A Livraria do Globo manteve uma atuação editorial vigorosa até o início dos 1970, tornando-se um verdadeiro polo de produção cultural no estado.
A história da literatura perdeu centralidade nos estudos acadêmicos? Sim. Um dos motivos, certamente, é o impacto da globalização nos anos 1990. Para muitos colegas, parecia que a ideia de nação havia se tornado obsoleta. Tudo passou a ser visto sob a ótica do comparatismo, do trânsito internacional e da circulação irrestrita. Mas isso é uma ilusão. No Brasil, continuamos a viver em um sistema de ensino quase inteiramente estruturado em língua portuguesa. A literatura que se lê nas escolas é, majoritariamente, brasileira. Isso, por si só, justifica a necessidade de se estudar a história da literatura no país. Outro fator decisivo é a tecnologia. O acesso irrestrito a conteúdos globais faz com que a dimensão nacional pareça dispensável. Somos expostos a tudo, o tempo inteiro, e isso nos dá a impressão de que pertencemos a uma espécie de presente contínuo, sem fronteiras. No entanto, pertencemos, antes de tudo, a um tempo histórico específico e a um território concreto. Além disso, no campo dos estudos literários se instalou o que considero uma perversidade: a superespecialização precoce. Vejo isso com muita preocupação. O estudante, muitas vezes ainda no primeiro ou segundo semestre da graduação, sem base formativa suficiente, já é absorvido por uma linha de pesquisa. E segue por esse caminho durante toda a sua formação. Assim, ele sai da universidade como um especialista, mas sem uma visão ampla da literatura. Costumo brincar com meus alunos que teremos de instituir uma formação no curso de letras similar à do clínico geral na medicina. Dessa forma, os estudantes poderão se formar com uma perspectiva temporal extensa da literatura e uma compreensão abrangente de gêneros e tradições. l
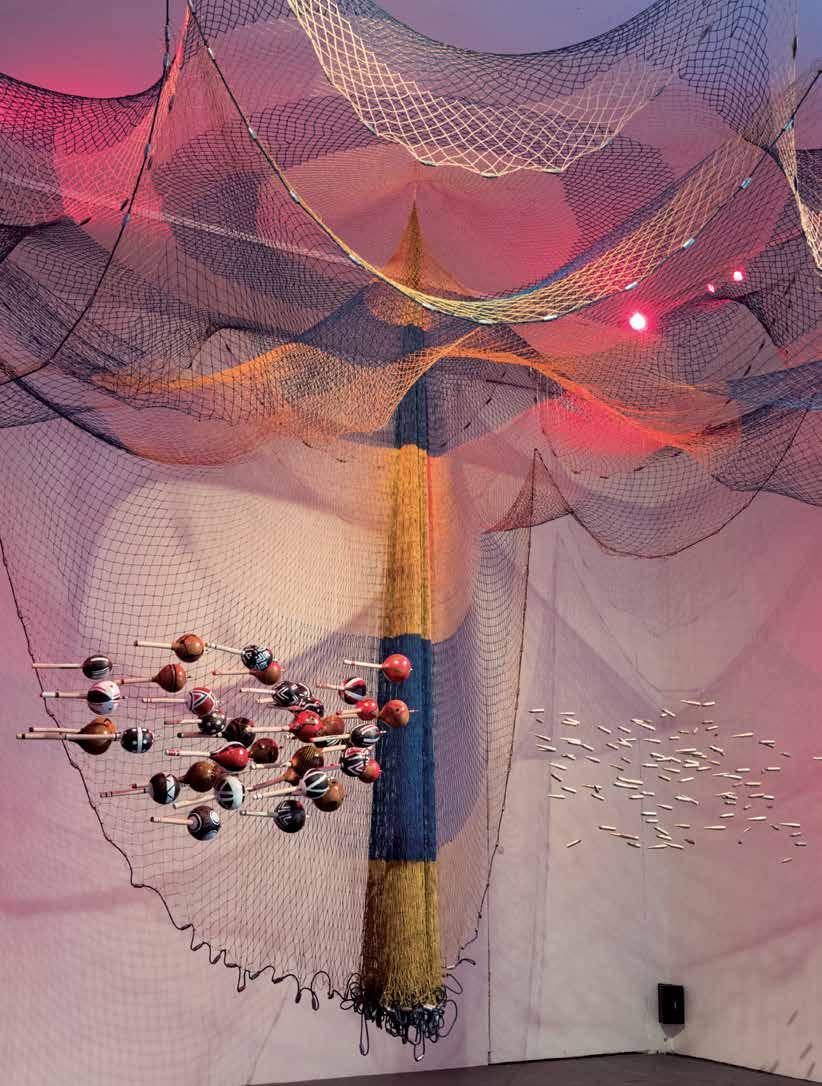
Cardume, instalação do artista
Ziel Karapotó exposta na Bienal de Veneza, em 2024
Em alta no circuito de exposições, obras de artistas indígenas despertam novas formas de curadoria
Em 2017, o Museu de Arte do Rio (MAR) realizou Dja guatá porã: Rio de Janeiro indígena , uma das primeiras exposições em um grande museu de arte brasileiro a contar com uma pessoa indígena na equipe curatorial: a antropóloga Sandra Benites, do povo Guarani Nhandeva, de Mato Grosso do Sul. Desde então, ela foi curadora-adjunta do Museu de Arte de São Paulo (Masp), entre 2019 e 2022, e uma das curadoras da primeira edição da Bienal das Amazônias, que aconteceu em Belém (PA), em 2023. Entre seus trabalhos mais recentes figura a coletiva Insurgências indígenas: Arte, memória, resistência , que assina com Marcelo Campos e fica em cartaz no Centro Cultural Sesc Quitandinha, em Petrópolis (RJ), até fevereiro de 2026.
Benites não é mais um caso isolado. Em 2024, o pavilhão brasileiro na 60ª Bienal de Veneza teve três curadores indígenas: os artistas visuais Denilson Baniwa, Arissana Pataxó e Gustavo Caboco Wapichana. Rebatizado de Pavilhão Hãhãwpuá, o espaço abrigou a exposição Ka´a Pûera: Nós somos pássaros que andam. Com obras dos artistas Glicéria Tupinambá, Olinda Tupinambá e Ziel Karapotó, a mostra tratou da violação dos direitos indígenas e celebrou a memória dos povos originários. “O termo ‘Hãhãwpuá’ é usado pelos Pataxó para se referirem ao território que, depois da colonização, ficou conhecido como Brasil. No caso do pavilhão, escolhemos esse nome para ressaltar a importância de reconhecer o país como terra indígena”, explica Arissana Braz Bonfim de Souza, conhecida como Arissana Pataxó, em entrevista a Pesquisa FAPESP.
Segundo a antropóloga Ilana Goldstein, professora do Departamento de História da Arte da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o aumento de visibilidade da produção artística de povos originários no circuito comercial e institucional faz emergir a necessidade de novos formatos de curadoria para essas obras. “As artes indígenas podem servir como plataforma para aproximações entre mundos diferentes, mas também suscitar mal-entendidos, pois estamos diante de maneiras próprias de lidar com imagens, objetos e mesmo com a noção de autoria”, constata a pesquisadora. “A curadoria dessa produção envolve uma série de desafios, que incluem desde barreiras linguísticas até regimes de visibilidade específicos, ou seja, o que pode ser visto e por quem.”
A curadoria é definida como uma atividade de categorização e interpretação de objetos, imagens e coleções, que pode, por exemplo, render exposições em galerias ou guiar o modo de trabalhar com acervos em museus. “Ela constrói uma narrativa a partir da escolha do que será mostrado e de como será mostrado, propondo interpretações para as obras e relações entre elas”, prossegue a pesquisadora.
No doutorado defendido em 2012, na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), ela estudou a arte aborígene contemporânea, produzida pelos povos originários da Austrália. “Nos anos 1950, alguns museus australianos começaram a incorporar como obras de arte trabalhos até então vistos como artefatos etnográficos. Desde a década de 1970, o governo australiano vem construindo políticas públicas de fomento às artes indígenas, culminando em um boom nas décadas de 1990 e 2000”, diz Goldstein.
No Brasil, a chamada arte indígena contemporânea se consolidou no circuito expositivo a partir da década de 2010 (ver Pesquisa FAPESP
nº 301). Um marco nessa história foi a mostra Primeiro encontro de todos os povos, organizada em 2013, em Boa Vista (RR), pelo artista visual e curador Jaider Esbell (1979-2021), de origem Macuxi. Ainda naquele ano foi aberta em Belo Horizonte (MG) a exposição ¡MIRA! Artes visuais contemporâneas dos povos indígenas, com curadoria da pesquisadora não indígena Maria Inês Almeida, então professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Essas mostras, entre outras que se seguiram, evidenciavam uma nova leva de artistas que utilizam suportes como pintura, escultura e vídeo para tratar de questões políticas sem abrir mão de aspectos da cultura ancestral. “Ganhamos o status de artista há pouco tempo, mas os indígenas sempre fizeram arte. Em nossas comunidades, ela não se separa da vida cotidiana”, diz Souza, que é artista, curadora e atualmente faz pesquisa de doutorado na Universidade Federal da Bahia (UFBA) sobre as práticas artísticas dos Pataxó
A entrada da arte indígena contemporânea no circuito expositivo levantou questões. Segundo Ana Avelar, docente do Departamento de História da Arte da Unifesp, ao longo desse tempo alguns artistas indígenas passaram a atuar como curadores. Eles “fizeram isso ao perceber que pessoas não indígenas tinham dificuldade de compreender suas práticas artísticas”, observa.
“Foi essencial que assumissem a função de curadoria para ganhar mais autonomia e determinar aquilo que se entende como essas artes ditas contemporâneas e indígenas.”
“É importante ocuparmos esse espaço de curador, pois assim vamos trazendo mais artistas

indígenas para o sistema convencional de arte”, defende Souza, uma das organizadoras do dossiê “Processos curatoriais e exposições de artes indígenas na/da América Latina”, publicado em 2024 na revista Modos, da Unicamp, com 13 artigos escritos por pesquisadores indígenas e não indígenas. Ela assina o trabalho com Goldstein e com o antropólogo e museólogo Aristóteles Barcelos Neto, da Universidade de East Anglia, no Reino Unido.
Como lembra Goldstein, alguns desses artistas-curadores passaram pelas universidades, um reflexo das ações afirmativas que vêm incorporando os indígenas à vida acadêmica do país desde a década de 2010, ainda que de forma lenta e parcial (ver Pesquisa FAPESP nº 351). “Nos cursos de graduação e de pós-graduação, podem-se aprimorar ferramentas úteis para transitar no sistema da arte, desde a redação de textos curatoriais até a formatação de projetos para editais, passando pelo domínio do repertório ocidental, ainda que seja para contestá-lo”, comenta.
Essa formação precisa ser ampliada e aprimorada, na avaliação da artista visual e curadora Kassia Borges, de origem Karajá. “Os currículos universitários são ainda muito baseados na arte canônica, de matriz europeia”, observa. Ela destaca também a falta de literatura especializada produzida no Brasil para orientar os trabalhos de curadoria em relação à arte indígena.
Docente da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Borges responde pela curadoria do Museu das Culturas Indígenas, vinculado àquela instituição. Além disso, atuou como curadora-adjunta do Masp entre 2022 e 2024. Ela é uma das entrevistadas no livro Ativismo curatorial (Mireveja, 2025), organizado por Avelar, da Unifesp, e pela pesquisadora Marcella Imparato,


Duas telas sem título do artista e curador
Jaider Esbell na exposição Moquém Surarî – Arte indígena contemporânea, de 2021
doutoranda em filosofia na Universidade de São Paulo (USP). A obra reúne o depoimento de 15 curadores de diferentes regiões do Brasil para compreender como a curadoria ativista vem se desenvolvendo no país.
Otermo “ativismo curatorial”, concebido pela curadora norte-americana Maura Reilly, designa a criação de exposições que buscam dar visibilidade à produção artística de grupos silenciados pelo discurso oficial da história da arte, como é o caso da população negra. A seara indígena está representada na publicação por meio de duas entrevistas. Além de Borges, as organizadoras ouviram Benites, mencionada no início desta reportagem.
No livro, Borges fala de sua atuação em trabalhos como a exposição Histórias indígenas, em que foi uma das curadoras ao lado de nomes como Edson Kayapó e Renata Tupinambá. Realizada pelo Masp em colaboração com o Kode Bergen Art Museum, da Noruega, a mostra ficou em cartaz nos dois espaços entre 2023 e 2024. Para ela, a atuação dos curadores indígenas não deveria ficar circunscrita à produção dos povos originários. “A incorporação desses profissionais não está bem resolvida no circuito de arte convencional no Brasil, ela não acontece em sentido amplo”, afirma. “Há avanços em termos do nosso protagonismo, mas ainda existe muito descrédito em relação à capacidade intelectual do indígena, reflexo do racismo institucionalizado no país”, constata Borges, que participa de exposições como artista desde a década de 1980.
A curadoria feita por indígenas na cena de arte contemporânea frequentemente passa pela
parceria com não indígenas. Jaider Esbell utilizava o termo “txaísmo”, título de uma de suas obras de 2019, para nomear essa relação. O artista e curador de origem Macuxi deu os primeiros passos no circuito artístico comercial na década de 2010. Dono de uma galeria em Boa Vista, ele também produzia obras, sobretudo pinturas. Com o tempo, alcançou projeção, inclusive internacional. Dois de seus trabalhos, Carta ao velho mundo (2018-2019) e Na terra sem males (2021), foram adquiridos pelo Centro Georges Pompidou, na França, em 2021.
Naquele mesmo ano, Esbell assinou a curadoria da exposição Moquém Surarî – Arte indígena contemporânea, no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP). Com mais de 140 trabalhos de 34 artistas indígenas do Brasil, a coletiva funcionou como extensão da 34ª Bienal Internacional de São Paulo. Na ocasião, ele trabalhou com dois antropólogos não indígenas, Paula Berbert, que foi assistente de curadoria, e Pedro Cesarino, consultor da exposição e professor da USP. No texto de apresentação da mostra, Esbell define o txaísmo como “a possibilidade de ser aliado daquele que é diferente de nós”, uma espécie de convite para criar novas formas de relação em um território marcado pela violência colonial. “A palavra ‘txai’ é utilizada pelo povo Huni Kuin, que vive no Acre, para designar ‘aliados de fora’, equivalente a cunhados ou parentes não consanguíneos”, relata o antropólogo Daniel Dinato. Ele refletiu sobre o conceito “curador-txai” na pesquisa de doutorado concluída em 2025, na Universidade de Quebec, no Canadá. Desde 2016, Dinato colabora com os integrantes do coletivo Mahku (Movimento dos Artistas Huni Kuin), tendo organizado exposições em parceria com o grupo. É o caso da mostra Vende tela, compra
terra, que esteve em cartaz em 2022 no Canadá.
“Entendo a prática do curador-txai como uma abordagem de curadoria colaborativa baseada em relações de longo prazo que venho desenvolvendo com membros desse coletivo”, explica o pesquisador.
Outro fator que impacta na curadoria das artes indígenas são as transformações ocorridas no campo da museologia em nível mundial desde os anos 1980, principalmente com o movimento conhecido como Nova Museologia. Tendo como um de seus precursores o arqueólogo francês
Hugues de Varine, essa proposta enfatiza a função social do museu em relação direta com a comunidade e, especialmente a partir da década de 1990, com as comunidades socialmente marginalizadas e marcadas pela violência colonial, como é o caso dos indígenas.
“A partir de então, coleções e museus etnográficos deixam de ser vistos como dispositivos neutros, passando a ser considerados como tecnologias de dominação e legitimação da colonialidade. Passa-se a buscar uma maior polifonia, escutando os produtores dos objetos expostos e questionando, simultaneamente, a autoridade e o poder daqueles que organizam as mostras”, registram Souza, Goldstein e Barcelos Neto no texto de abertura do dossiê veiculado na revista Modos. No Brasil, o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), em Belém, foi um dos pioneiros nesse movimento. Em 1985, a antropóloga Lucia Hussak van Velthem começou a franquear aquele acervo etnográfico aos povos indígenas. Essa iniciativa se desdobrou, resultando em diversos projetos de museologia participativa na instituição, co -
mo a primeira oficina Encontro com Objetos do Passado, em 2016.
Desde os anos 1990, o Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) da USP vem, por meio de pesquisas e modificações na gestão de coleções, ficando mais permeável a essas práticas colaborativas, como informa a museóloga Marília Xavier Cury, docente na instituição. É o caso da exposição Resistência já! Fortalecimento e união das culturas indígenas, realizada em 2019 naquele espaço. A curadoria da mostra esteve a cargo da equipe do museu em parceria com os povos indígenas Kaingang, Guarani Nhandewa e Terena, radicados no centro-oeste paulista.
Atualmente, Cury pesquisa com apoio da FAPESP a relação dessas três etnias com o MAE-USP. Segundo a museóloga, a proposta é dar continuidade a esse trabalho colaborativo de curadoria, com o objetivo de que ele se reverta em novas informações e novos sentidos para as coleções sob guarda do museu. “As relações entre povos indígenas e os museus são de extrema importância porque envolvem uma construção conjunta: uma troca de modelos e de possibilidades que atravessam o passado e o presente. Isso se manifesta tanto no trabalho colaborativo quanto nos conflitos que ele gera”, observa.
Na avaliação de Cury, o conflito faz parte das relações dialógicas dentro dos museus, assim como a negociação e a capacidade de firmar e cumprir acordos com os grupos indígenas parceiros de projetos. “Esses acordos devem constituir a política de gestão de acervo como expressão de respeito e como base de uma relação de confiança que os museus ainda precisam consolidar”, constata. l
O projeto, o livro e o dossiê consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.

Exposição Resistência já! Fortalecimento e união das culturas indígenas, que aconteceu no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, em 2019
Museu de Petrópolis restaura e expõe as cadernetas de viagem de dom Pedro II
TERESA SANTOS

Com muito cuidado, levemente curvado sobre uma mesa em uma sala silenciosa e bem iluminada do Museu Imperial, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, o restaurador Edmar Gonçalves atravessa com uma espátula um grampo metálico que prendia um conjunto de páginas a mareladas. Em seguida, prende a ponta do instrumento sobre a mesa, levanta-o, como uma alavanca, remove o grampo e deixa as folhas respirarem. À frente de um grupo de restauradores de uma empresa especializada e sob a supervisão da equipe técnica do museu, Gonçalves começou a trabalhar em abril de 2025 na recuperação de 38 diários de viagem do imperador dom Pedro II (1825-1891).
Escritos ao longo de 51 anos, entre 1840 e 1891, os 43 diários (cinco não serão restaurados por não estarem encadernados) documentam as viagens do imperador pelo Brasil e por outros 20 países que visitou, com descrições, ilustrações, desenhos e até poemas. A letra precisa e arredondada do monarca está gravada em papéis típicos do século XIX, produzidos a partir de pasta de madeira. Com
10 centímetros (cm) a 25 cm de altura, as cadernetas estão em diferentes estados de conservação. A maioria tem capa de couro, mas algumas são revestidas com tela de algodão e papel marmorizado e há também as sem capa e outras com capas feitas com a parte interna da pele de animais.
Inscritos em 2010 no Programa Memória do Mundo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
Em 1871, o imperador visitou as pirâmides de Gizé, no Egito; suas viagens foram registradas em 43 cadernetas como estas
a Cultura (Unesco), os diários já haviam sido transcritos e publicados on-line. Em dezembro, marcando o bicentenário de nascimento do último imperador do Brasil, começaram a ser expostos pela primeira vez, de forma alternada, no museu de Petropólis.
Os diários foram restaurados com o mínimo possível de modificações. “O que foi perdido acabou reconstruído com material de qualidade, similar ao

original”, informa a bacharel em pintura Beatriz Penna, responsável pelo laboratório de conservação e restauração do Museu Imperial. Em uma das cadernetas, o chamado cabeceado - tecido fixado no alto ou no pé da lombada de uma encadernação – não tinha acabamento. Gonçalves aproveitou o material extra do interior do cabeceado original para fazer um novo.
Os restauradores sabiam que talvez precisassem fazer enxertos. “Independentemente do material de revestimento ou tipo de papel, o enxerto é sempre um tom mais baixo para que possamos perceber que houve a intervenção”, destaca Gonçalves. Os especialistas, com olhar mais apurado, conseguem detectar as emendas, dificilmente perceptíveis para quem não é da área.
Em maio de 1871, dom Pedro embarcou pela primeira vez para a Europa. Em Lisboa, visitou Amélia de Leuchtenberg
(1812-1873), viúva de seu pai, dom Pedro I (1798-1834), e conheceu intelectuais portugueses, como o escritor Alexandre Herculano (1810-1877). Na Alemanha, foi apresentado ao compositor Richard Wagner (1813-1883).
Q uatro anos depois, esteve nos Estados Unidos. Inaugurou a Exposição da Filadélfia, ao lado do presidente Ulysses Grant (1822-1885), acionou um motor a vapor e se encontrou com os inventores Thomas Edison (1847-1931) e Alexander Graham Bell (1847-1922), que lhe apresentou seu invento mais recente, o telefone. Em 25 de junho de 1876, registrou sua opinião sobre o aparelho: “O telefone de […] não deu perfeito resultado, mas assim mesmo duas pessoas leram – uma quase nada – dois telegramas que mandei ao mesmo tempo”.
Em julho, dom Pedro novamente atravessou o Atlântico. Em Bruxelas, encontrou o médico francês Jean-Marie Charcot (1825-1893) e em Paris conheceu o químico Louis Pasteur (1822-1895) e o
6 DE JANEIRO DE 1862, PETRÓPOLIS, RJ
escritor Victor Hugo (1802-1885). Suas chegadas e partidas eram noticiadas pelos jornais do Rio, como Gazeta de Notícias e Jornal do Commercio
Os diários revelam um governante curioso e atento. “Identifiquei nas cadernetas a busca incessante do imperador pela imagem e memória do pai, dom Pedro I, tanto no Brasil quanto na Europa”, comenta o arquiteto Paulo Rezzutti, autor de D. Pedro II: O último imperador do novo mundo revelado por cartas e documentos inéditos (Leya, 2019). “No Egito, para minha surpresa, ele gravava seu nome nos antigos monumentos.”
De fato, em sua viagem ao Egito em 1871, o imperador conheceu as pirâmides de Gizé e relatou: “As americanas pediram-me que escrevesse meu nome em bilhetes de visita e eu fi-lo também numa das pedras do cimo do monumento, depois de havê-la escrito, com um grosso lápis dado por um árabe. Já havia feito o mesmo num recanto onde descansei mais tempo na subida”.
Um monarca global

“Ontem de noite houve grande enchente. Subiu três palmos acima da parte da rua do Imperador do lado da Renânia; […] e um homem caiu no canal, devendo a vida a saber nadar.”


21 DE JUNHO DE 1871, LISBOA, PORTUGAL
“Vi bem o monumento de Camões – não me agradaram senão alguns dos escritores do pedestal. […] ontem (20) às 10h e pouco mais ou menos fui ao Passeio Público que é grande e estava cheio de gente. Ouvi música assentado junto ao coreto […] e muitas meninas dançaram perto de mim, querendo todas beijar-me a mão e pedindo beijos que dei nas mais pequenas. Ao sair houve atropelo, mas eu fui metendo o ombro e só o Nicolau é que se viu mais zonzo.”

5 DE OUTUBRO DE 1863, ANGRA DOS REIS, RJ “Matriz em mau estado. Conventos de S. Francisco e do Carmo, estando o primeiro melhor conservado, para o qual querem mudar o hospital da Misericórdia.”


Deposto em 1889, com a implantação da República, dom Pedro II exilou-se na França. Com um endereço fixo em um hotel de Paris, mantinha uma intensa atividade cultural: leu bastante, traduziu obras de escritores e poetas europeus, visitou academias científicas e encontrou-se com médicos e intelectuais. Em 17 de julho de 1890, por exemplo, ele escreveu: “Estudei grego traduzindo a Odisseia com a comparação [de versões] do costume e o mesmo fiz relativamente aos Lusíadas e o alemão”. Ainda que não fosse mais imperador, ele zelava pela própria imagem: gostava de ser fotografado em situações da vida privada, mas cercado de livros, instrumentos musicais e outros objetos ligados à erudição.
“Dom Pedro II foi educado desde pequeno para ser uma pessoa pública, voltada para a condução do Estado, e sabia que o governante deve abrir um pouco da sua intimidade para conquistar o afeto dos governados”, comenta a historiadora Lilia Moritz Schwarcz, autora de As barbas

18 DE AGOSTO DE 1875, CIDADE DE SÃO PAULO
“Passeio lindo das margens do Tamanduateí. […] Mercado (triste cousa).”

25 DE AGOSTO DE 1875, CAMPINAS, SP
“Colégio Culto à Ciência. Bem montado ouvi estudantes nas aulas de aritmética, física, alemão e latim. Um estudante pareceu-me distinto por seu caráter estudioso […].
O professor de física Renschler pareceu-me confuso nas ideias.
O de latim é o filho de Hércules Florence."
do Imperador – D. Pedro II, um monarca nos trópicos (Cia. das Letras, 1998). Por essa razão, ela considera os diários como “uma peça de bem governar”.
Oimperador passava temporadas de inverno em Cannes, na Riviera Francesa, em Pau, nos Pirineus, e em Biarritz. Seu propósito era recuperar a saúde fragilizada. Com mais tempo, pôs-se a fazer poemas, reunidos pelo escritor José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque (1867-1934) no livro P oesias completas de D. Pedro II (Guanabara , 1932) e contextualizados pelo historiador Hélio Vianna (1908-1972) em D. Pedro I e d. Pedro II: A c r é sc imos às suas biografias (Companhia Editora Nacional, 1966). Vários poemas são para a filha mais velha, Isabel (1846-1921), e para os netos.
Outros, mais formais, adotam o formato clássico de sonetos, como este, intitulado “Ingratos”, com sua visão sobre

8 DE MAIO DE 1876, WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS
“Às 10h fui ver o botanical-garden que me agradou pela variedade de plantas exóticas. Fui depois visitar o presidente 004 [James Madison, 1751-1836]. Seu aspecto é grosseiro. Pouco fala. A nora é muito amável. A mulher feia e vesga faz o que pode para ser amável. O filho parece rapaz muito inteligente.”

o golpe republicano, que começa assim: “Não maldigo o rigor da iníqua sorte,/ Por mais atroz que fosse e sem piedade,/ Arrancando-me o trono e a majestade,/ Quando a dous passos só estou da morte” (o soneto completo encontra-se na versão on-line desta reportagem).
Um dos monarcas mais prolíficos, ainda que não o único a registrar suas impressões sobre lugares que visitou, o último imperador do Brasil morreu em 5 de dezembro de 1891, com pneumonia, aos 66 anos, em seu quarto, o 391, do Hôtel Bedford, em Paris.
Após o funeral, foi levado em um cortejo até uma estação de trem e sepultado no Panteão da Dinastia de Bragança, em Lisboa, Portugal. Em 1921, seus restos mortais foram trazidos para o Brasil e depositados no Mausoléu Imperial da Catedral de São Pedro de Alcântara, em Petrópolis. l
Os livros consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
15 DE NOVEMBRO DE 1876, BEIRUTE, LÍBANO
“Nunca vi monumentos propriamente de arquitetura tão majestosos como de Baalbeck. Na aldeia miserabilíssima há as ruínas de um diminuto templo circular que tem belos ornatos.”

17 DE JUNHO DE 1891
“Conversei longamente com Charcot, que veio ver-me de Clerment onde fora para ver um doente. […] Depois traduzi árabe.”
1o DE JANEIRO DE 1877, EGITO
“Montado em um jumento segui até ao rochedo de Abousihr, distante cerca de 6 milhas de Wadi-Halfah. […] No ponto mais alto do rochedo de Abousihr deixei a seguinte inscrição: 1o de jan. 1877 […].”

O sociólogo Sergio Miceli estudou a história dos intelectuais, sem fazer concessões
ANA BEATRIZ RANGEL
Reconhecido como um dos principais pensadores do campo da sociologia da cultura no Brasil, Sergio Miceli investigou sobretudo a história dos intelectuais, mas, ao longo de seu percurso acadêmico, voltou também o olhar para temas que vão dos programas de auditório televisivos à elite eclesiástica. Professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), o sociólogo morreu no dia 12 de dezembro, aos 80 anos, em decorrência de um câncer no fígado.
Segundo a socióloga Maria Arminda do Nascimento Arruda, docente da FFLCH-USP e vice-reitora daquela universidade, Miceli “dessacralizou a vida

intelectual brasileira” e instituiu um novo paradigma de análise dos fenômenos culturais no país ao romper com as interpretações que pensavam a produção artística e intelectual em uma esfera à parte das relações sociais.
Isso se deu na obra que se transformou em um clássico da sociologia da cultura: Intelectuais e classe dirigente no Brasil (1920-1945). “Foi um livro inovador. As análises sobre a origem social dos intelectuais na chamada República Velha [1889-1930] e da Era Vargas [1930-1945] se tornaram referência para a elucidação das relações entre a produção simbólica e, por exemplo, o processo de formação familiar”, afirma a pesquisadora.
Originalmente publicado pela editora Difel, em 1979, a convite do sociólogo e
depois presidente da República (1995-2002) Fernando Henrique Cardoso, o livro é fruto da tese de doutorado de Miceli. Defendida em 1978, na USP, com dupla titulação pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, na França, a pesquisa foi orientada pelos sociólogos Leôncio Martins Rodrigues (1934-2021) e Pierre Bourdieu (1930-2002).
A relação com Bourdieu se iniciou por carta, quando o jovem pesquisador brasileiro organizava para a editora Perspectiva, no início da década de 1970, uma coletânea de artigos do sociólogo francês, então pouco conhecido no país. A publicação saiu em 1974, com o título de Economia das trocas simbólicas. Logo em seguida, Miceli pleiteou a orientação de Bourdieu, sendo aceito. FOTO
“Na tese, Miceli mostra a ligação de nomes como Monteiro Lobato [1882-1948], Oswald de Andrade [1890-1954], Mário de Andrade [1893-1945] e Carlos Drummond de Andrade [1902-1987] com a classe dirigente”, diz o sociólogo Marcelo Ridenti, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Na banca de defesa da tese estava o sociólogo e crítico literário Antonio Candido (1918-2017), que fez duras críticas ao trabalho, mas acabou assinando o prefácio do livro, sem abrir mão dos questionamentos levantados. Em entrevista à Revista Estudos de Sociologia, veiculada em 2019, Miceli contou que a forma com que ele abordou a trajetória de certas personalidades do meio literário e intelectual foi um dos pontos que desagradaram Candido. “A arguição envolvia certa voltagem de testemunho: ele havia conhecido algumas das figuras mencionadas no trabalho e se mostrou um pouco chocado com a objetivação com que foram tratadas na tese”, lembrou.
Entre 2009 e 2013, Miceli coordenou o projeto temático “Formação do campo intelectual e da indústria cultural no Brasil contemporâneo”, realizado com apoio da FAPESP. “Venho de outra tradição teórica, mas aprendi bastante com Miceli, sempre disposto a questionar as representações que os intelectuais fazem de si mesmos”, afirma Ridenti, um dos integrantes do projeto. Segundo o pesquisador, os debates com Miceli e colegas do temático o ajudaram na formulação do estudo que resultaria mais tarde no livro O segredo das senhoras americanas (Editora Unesp, 2022), em que trata da atuação de intelectuais brasileiros durante a Guerra Fria, no período entre os anos 1950 e 1960.
A indústria cultural no Brasil já havia sido abordada por Miceli em sua dissertação de mestrado, defendida na USP, em 1971, também sob orientação de Leôncio Martins Rodrigues. Essa foi a primeira incursão do pesquisador carioca no universo acadêmico paulista – ele se graduou em ciências políticas e sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) em 1967. Intitulado “A noite da madrinha: Ensaio sobre a indústria cultural no Brasil”, o trabalho saiu em livro pela Editora Perspectiva em 1972 e posteriormente pela Companhia das Letras (2005). Nele, Miceli analisa o
programa de auditório apresentado por Hebe Camargo (1929-2012) na televisão, na década de 1960.
Como explica o sociólogo André Botelho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a indústria cultural é um tema recorrente em estudos acadêmicos dos anos 1960 e 1970, inclusive na sociologia. Na ocasião, o grande referencial teórico era a Escola de Frankfurt. “Miceli não seguiu a abordagem frankfurtiana, mais filosófica, e tomou um caminho empírico, sociológico”, diz o pesquisador. “Ele mostrou como, ao assumir as personas de mãe, filha, esposa e dona de casa, Hebe reforçava os estereótipos femininos e veiculava um discurso ideológico que encontrava eco no conservadorismo da sociedade brasileira durante a ditadura militar [1964-1985].”
Miceli explicitou ao longo de sua obra a teia de relações familiares que formou a intelectualidade no Brasil, mas não deixou de refletir sobre si mesmo a partir desse viés. Na mesma entrevista à Revista Estudos de Sociologia, ele revela que sua obra tem um aspecto autobiográfico. “Vim de uma família de imigrantes italianos calabreses, distantes do universo cultural. Meu tio [materno] foi o primeiro a entrar na faculdade. Meu pai provinha de uma família decadente do Vale do Paraíba, que também era distante da cena cultural. Eis o que enxergo de autobiográfico: a indagação de como alguém como eu se torna intelectual”, contou. No depoimento, relata ainda que
sua inserção nessa seara se deu por meio do tio materno mencionado anteriormente, Armando, que era redator-chefe do jornal carioca Correio da Manhã e o ajudou a custear os estudos.
Atrajetória acadêmica do sociólogo foi marcada por uma profícua produção editorial: ele escreveu e organizou mais de 40 livros, incluindo A elite eclesiástica brasileira (Bertrand, 1988), Imagens negociadas (Companhia das Letras, 1996) e Nacional estrangeiro (Companhia das Letras, 2003). Em 1989 saiu em dois volumes História das ciências sociais no Brasil (Editora Sumaré), obra coletiva que coordenou no Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo (Idesp) e reuniu autores como os cientistas políticos Maria Hermínia Tavares de Almeida e Fernando Limongi.
A relação com a obra de Bourdieu é outra marca registrada. “Miceli tomava como variáveis explicativas as origens de classe, as tensões familiares, os projetos de carreira, os constrangimentos produzidos pelo mercado e pelo Estado e mesmo as pulsões afetivas. São aspectos encontrados na obra de Bourdieu, mas ele filtrava essa influência de modo original, atento ao contexto brasileiro”, comenta o sociólogo João Marcelo Maia, da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV-CPDOC), no Rio de Janeiro.
Na tese de doutorado que virou livro, Miceli analisou a relação de intelectuais com a classe dirigente no país
Antes de ingressar como professor na USP em 1989, Miceli lecionou, por exemplo, na FGV (1971-1986), em São Paulo, e na Unicamp (1984-1985). Atuou como professor visitante em diversas universidades estrangeiras, como Stanford, nos Estados Unidos. Além disso, engajou-se em diversos papéis institucionais, entre eles o de secretário-executivo da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs), de 1983 a 1988, onde fundou a Revista Brasileira de Ciências Sociais, em 1986, e o de diretor-presidente da Editora da Universidade de São Paulo (Edusp), na década de 1990 e também entre 2022 e 2025.
Miceli deixa os filhos Pedro, Teresa e Joaquim e a mulher, Heloisa Pontes, professora do Departamento de Antropologia da Unicamp, com quem publicou o livro Cultura e sociedade, Brasil e Argentina (Edusp, 2014). l
Formada em letras e direito, Cristina Ayoub Riche ajuda a desenvolver e consolidar ouvidorias no Brasil
Sou neta de sírios e libaneses que chegaram ao Brasil no início do século XX. Meu avô paterno tinha uma loja de armarinhos no bairro carioca da Tijuca, onde nasci. Morreu cedo, mas dele carrego uma frase para a vida toda: “O dinheiro pode acabar, mas a educação ninguém tira de você”.
Outra marca da minha família é a língua árabe, que era falada apenas entre os mais velhos. Eles queriam que os filhos nascidos no Brasil se concentrassem no português para se adaptarem ao Novo Mundo. Meu pai, que assumiu a loja do meu avô, usava o idioma de forma original. A fim de não expor os fregueses que compravam fiado, ele anotava numa caderneta o nome deles e o valor devido em caracteres árabes.

Era uma pessoa sábia, que reconhecia o valor da discrição.
Para aprender essa língua do segredo, fui fazer português-árabe na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro [UFRJ]. Entrei em 1978, com 18 anos, casada e grávida do meu primeiro e único filho. Apesar do temor da minha mãe de que eu interrompesse os estudos por causa da maternidade, isso nunca aconteceu.
Eu me formei em 1982, e no ano seguinte passei no primeiro concurso público para professor no setor de estudos árabes da UFRJ. Era a mais nova do departamento, mas, como havia sido monitora na faculdade na minha época de aluna e conhecia a estrutura acadêmica, meus colegas me elegeram chefe do Departamento de Letras Orientais e Eslavas, composto
por árabe, hebraico, japonês e russo. Ali vi que tinha talento para gerir conflitos.
Em 1988, fui eleita para o Conselho Universitário e passei a conviver com intelectuais que admirava muito, como a socióloga Anna Maria de Castro, primeira mulher a presidir a Fundação Universitária José Bonifácio [FUJB], criada na década de 1970 pela UFRJ. Ela me convidou para trabalhar na fundação, onde atuei como secretária-geral até 1992.
O objetivo da fundação era, e ainda é, promover e subsidiar programas de ensino, pesquisa e extensão na UFRJ. Seu financiamento vem da aplicação de aportes públicos e privados e ela passou por desafios que despertaram minha atenção para o direito. Em 1989, a Lei nº 7.732 questionou a existência das fundações de apoio às universidades federais. Elaboramos um
Riche em seu apartamento, no Rio de Janeiro:

argumento robusto para contestar essa legislação. Já no Plano Collor, de 1990, que bloqueou contas bancárias e aplicações financeiras acima de 50 mil cruzados novos [o equivalente a US$ 1,3 mil pelo câmbio oficial da época], conseguimos escapar da medida ao apresentar a certidão de utilidade pública e social da fundação.
Ingressei em 1995 no curso de direito do Centro Universitário da Cidade [UniverCidade], instituição particular de ensino no Rio de Janeiro. Na época, a faculdade abrigava o 6º Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro [TJ-RJ], em que passei a atuar. Em questões de relações continuadas, como brigas entre vizinhos, consegui 98% de conciliação. Meu trabalho de conclusão de curso em 2000 foi sobre a lei de arbitragem, mecanismo alternativo de solução de conflitos.
Em 2002, o economista Carlos Lessa [1936-2020] se elegeu reitor da UFRJ e me convidou para criar o gabinete de eméritos, um reconhecimento à experiência desses professores. O projeto não foi levado adiante porque, em menos de seis meses, Lessa assumiu a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimen-

to Econômico e Social [BNDES] e em 2003 me chamou para criar a ouvidoria do BNDES, da qual fui a primeira gestora. A experiência me fez ampliar a compreensão sobre políticas públicas, desenvolvimento social e responsabilidade institucional.
Fiquei no banco até 2007, quando Aloísio Teixeira, já no segundo mandato como reitor, me pediu para criar a ouvidoria-geral da UFRJ. A ouvidoria universitária é o canal autônomo e imparcial de comunicação entre a comunidade acadêmica e a sociedade em geral com a administração da universidade. Na mesma época, a UFRJ instituiu o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas e Direitos Humanos, do qual me tornei docente ao me transferir da Faculdade de Letras.
NSAIBA MAIS Rede
“A ouvidoria é um instrumento de garantia de direitos que muitos desconhecem” DEPOIMENTO CONCEDIDO A MÔNICA MANIR
Ibero-americana de Defensorias Universitárias
o regimento da ouvidoria, aprovado em 2009, estabeleceu-se uma condição sine qua non: ela não teria poder administrativo, judicativo ou de gestão, mas teria voz própria. Por isso, insisti que tivesse assento no Conselho Universitário. A ouvidoria é um instrumento de garantia de direitos que muitos desconhecem. Na UFRJ, a ouvidoria propôs, por exemplo, o direito ao uso do nome social. No argumento, usei como base o artigo 1º da nossa Constituição, que trata da dignidade humana, combinado com o 207, da autonomia universitária. A história começou com uma aluna trans que, no ato da matrícula, pediu para ser tratada pelo nome social, mas, no primeiro dia de aula, foi chamada pelo nome civil. Após reclamar com o diretor da unidade, que alegava que nada poderia fazer por falta de legislação, ela pensou em judicializar o caso. Então alguém falou o que já tinha virado um bordão: “Vai na professora Cristina”. Levei uma proposta de resolução ao Conselho Superior de Coordenação Executiva, e a pró-reitora de graduação abraçou a causa. Em 2015, a UFRJ passou a aceitar o nome social de estudantes transgêneros, transexuais e travestis em seus registros acadêmicos.
Paralelamente ao trabalho na ouvidoria, fiz mestrado [2015] e doutorado [2019] no Programa de Pós-graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia [HCTE-UFRJ]. Minha dissertação focou em novas propostas de ouvidoria pública no Brasil. Já a tese abordou a atuação do jurista e abolicionista Luiz Gama [1830-1882]. Alfabetizado aos 17 anos, ele usou o habeas corpus para libertar mais de 500 escravizados, agindo como um ouvidor do século XIX. De 2019 a 2023, fui presidente do Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensorías del Pueblo [ILO]. Criado há 41 anos, ele atua para consolidar a figura do ombudsman na América Latina e Caribe, promovendo a democracia e o respeito aos direitos humanos. Também fui uma das fundadoras da Rede Ibero-americana de Defensorias Universitárias.
Fiquei na ouvidoria da UFRJ até 2021, quando me aposentei. Em 2025, lancei o livro Ouvidoria do SUS: Uma inovação social, caminho para a integridade [Fiocruz/ ENSP], iniciativa da coordenadora nacional do projeto Fortalecimento da Ouvidoria-geral do Sistema Único de Saúde [SUS], Rosa Maria Pinheiro Souza. Na obra, analiso o papel estratégico da ouvidoria no fortalecimento da integridade institucional e da participação social no sistema público de saúde.
Hoje sou consultora na formação de ouvidorias públicas e privadas e na capacitação de pessoal. Ao olhar retrospectivamente, acho que contribuí para a disseminação dessa proposta no país, que busca aproximar o cidadão das instituições. A primeira ouvidoria pública brasileira foi criada em 1986, em Curitiba. Em 2023, o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal [SisOuv] contabilizava mais de 330 unidades de ouvidoria. Há muito o que avançar, mas tenho um orgulho enorme de fazer parte desse trabalho de formiguinha, em que também aprendi a escutar o silêncio. l

Uma vida:
Visões do infinito
Marta Góes e Tato Coutinho
Editora Record
320 páginas
R$ 109,90
Uma das contribuições mais valiosas do campo da história para a educação em ciências e divulgação científica é retratar a ciência como um empreendimento humano. Esse é um dos maiores méritos da biografia escrita pelos jornalistas Marta Góes e Tato Coutinho. Lattes e sua participação na descoberta do méson pi, hoje chamado píon, são o personagem e o caso mais conhecidos na história da física brasileira. Entretanto, como a obra nos revela, não é só talento que faz um grande cientista nem só as descobertas que fazem a ciência.
Em prosa agradável, Góes e Coutinho contam a história de Lattes a partir dos eventos que o tornaram um herói nacional. Já no primeiro capítulo, embarcamos em um navio rumo à Inglaterra do pós-guerra. Entre histórias curiosas e apresentações acessíveis de conceitos físicos, os autores mostram como Lattes desempenhou um papel crucial no desenvolvimento de métodos de detecção de partículas elementares baseados em emulsões fotográficas e na descoberta do píon. A obra consegue uma síntese abrangente e acessível da literatura sobre a física em torno da descoberta dos mésons e dos trabalhos de Lattes e colaboradores no período em que passou na Inglaterra e nos Estados Unidos, além de acrescentar elementos inéditos.
Nessa biografia, experienciamos a ascensão, a queda e a recuperação parcial de um cientista que abriu mão da possibilidade de uma carreira confortável nos Estados Unidos para fazer física e formar físicos no Brasil, bem como contribuir para o processo de institucionalização da ciência brasileira. Conhecemos a família Lattes, de origem italiana, as circunstâncias da imigração, a formação escolar de Cesar, mas também o Brasil na década de 1930, com seu sistema educacional elitizado. Fica claro que genialidade e esforços, por si sós, não explicam como Lattes, aos 23 anos, encontrava-se em um grande laboratório inglês, no momento certo, para participar da descoberta do píon e surfar na onda de prestígio da física do pós-guerra. Influente e bem conectado, Giuseppe Lattes encurtou a trajetória acadêmica de seu filho mais jovem em dois anos e Cesar ingressou na Universidade de São Paulo (USP) aos 16, com vantagens acumuladas. De outro modo, sua história teria sido muito diferente. A própria histó -
ria da ciência brasileira teria tomado um rumo distinto, pois a repercussão da participação de Lattes na detecção do píon catalisou o processo de institucionalização da ciência no país.
No pós-guerra, quando Lattes iniciou sua carreira, a física estava no ápice de seu prestígio no mundo, graças ao seu papel na guerra. No Brasil, além desse fator, a experiência de engajamento do Departamento de Física da USP em pesquisas militares e a grande repercussão midiática dos trabalhos de Lattes precipitaram a articulação entre as elites científicas, econômicas, militares e políticas que resultou na criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), em 1949, no Rio de Janeiro, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em 1951. Como diretor científico do CBPF e membro do Conselho Deliberativo do CNPq desde a fundação desses órgãos, Lattes participou ativamente da construção da infraestrutura necessária à realização de pesquisas de ponta no Brasil. Parecia que o país se tornaria uma das nações líderes em física de partículas quando, em 1955, um escândalo de desvio de recursos no CBPF por um burocrata, destinados pelo CNPq à construção de aceleradores, precipitou a saída de Lattes da diretoria do CBPF e despertou transtornos mentais latentes que marcariam o restante da vida do físico. Esses transtornos mentais servem de moldura para a segunda parte da biografia – “O abismo”. Com sensibilidade e empatia, os autores relatam como Lattes, com o apoio de familiares e amigos, conseguiu reconstruir sua carreira na recém-criada Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), fundada nos anos 1960, e formar pesquisadores que hoje são lideranças em física de partículas. Em síntese, a biografia mostra como privilégios formatam oportunidades, mas também os sacrifícios de Lattes em prol da ciência brasileira em meio a intrigas palacianas e transtornos mentais, e de que forma a resiliência e a solidariedade lhe permitiram ressurgir do que parecia ser um abismo para formar uma comunidade que levou adiante seu legado. Tudo isso faz do personagem e de sua ciência humanos, admiravelmente humanos.
PRESIDENTE
Marco Antonio Zago
VICE-PRESIDENTE
Carmino Antonio de Souza
CONSELHO SUPERIOR
Antonio José de Almeida Meirelles, Carlos Gilberto Carlotti Junior, Felipe Ferreira Guimarães Figueiredo, Franklim Shunjiro Nishimura, Helena Bonciani Nader, Herman Jacobus Cornelis Voorwald, Marcílio Alves, Maria Arminda do Nascimento Arruda, Pedro Wongtschowski, Thelma Krug
CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
DIRETOR-PRESIDENTE
Carlos Frederico de Oliveira Graeff
DIRETOR CIENTÍFICO
Marcio de Castro Silva Filho
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Fernando Menezes de Almeida
COMITÊ CIENTÍFICO
Luiz Roberto Giorgetti de Britto (Presidente), Ana Claudia Latronico, Ana Claudia Torrecilhas, Ana Cristina Gales, Ana Maria Fonseca de Almeida, Carlos Frederico de Oliveira Graeff, Daniel Scherer Moura, Dario Simões Zamboni, Deisy de Souza, Douglas Zampieri, Eduardo Magalhães Rego, Eduardo Zancul, Fabiana Cristina Komesu, Fernando Menezes de Almeida, Flávio Henrique da Silva, Gustavo Dalpian, Helena Lage Ferreira, João Pereira Leite, José Roberto de França Arruda, Lício Augusto Velloso, Liliam Sanchez Carrete, Luiz Nunes de Oliveira, Luiz Vitor de Souza Filho, Marcio de Castro Silva Filho, Marco Antonio Zago, Mariana Cabral de Oliveira, Marta Arretche, Michelle Ratton Sanchez Badin, Nina Stocco Ranieri, Paulo Schor, Richard Charles Garratt, Rodolfo Jardim Azevedo, Sergio Costa Oliveira, Sidney José Lima Ribeiro, Sylvio Canuto, Vilson Rosa de Almeida
COORDENADOR CIENTÍFICO
Luiz Roberto Giorgetti de Britto
DIRETORA DE REDAÇÃO Alexandra Ozorio de Almeida
EDITOR-CHEFE
Neldson Marcolin
EDITORES Fabrício Marques (Política Científica e Tecnológica), Carlos Fioravanti (Ciências da Terra), Marcos Pivetta (Ciências Exatas), Maria Guimarães (Ciências Biológicas), Ricardo Zorzetto (Ciências Biomédicas), Yuri Vasconcelos (Tecnologia), Ana Paula Orlandi (Humanidades) e Christina Queiroz (editora assistente)
REPÓRTER Sarah Schmidt
ARTE Claudia Warrak (Editora), Júlia Cherem Rodrigues e Maria Cecilia Felli (Designers), Alexandre Affonso (Editor de infografia)
FOTÓGRAFO Léo Ramos Chaves
BANCO DE IMAGENS Valter Rodrigues
SITE Yuri Vasconcelos (Coordenador), Jayne Oliveira (Coordenadora de produção), Kézia Stringhini (Redatora on-line)
MÍDIAS DIGITAIS Maria Guimarães (Coordenadora), Renata Oliveira do Prado (Editora de mídias sociais), Vitória do Couto (Designer digital )
VÍDEOS Christina Queiroz (Coordenadora)
RÁDIO Fabrício Marques (Coordenador) e Sarah Caravieri (Produção)
REVISÃO Alexandre Oliveira e Margô Negro
REVISÃO TÉCNICA Ana Maria de Almeida, Angela Krabbe, Célio Haddad, Claudia Plens, Fernando Mantelatto, Gustavo Romero, Isabela Benseñor, José Maurício Barbanti Duarte, José Roberto Arruda, Liliam Sanchez Carrete, Maria de Fátima Morethy Couto, Reinaldo Salomão
COLABORADORES Ana Beatriz Rangel, Ana Carolina Fernandes, Carla Barth, Climério Silva Neto, Enrico Di Gregorio, Giselle Soares, Junia Yasmin Carreira, Mariana Ceci, Mariana Zanetti, Mônica Manir, Suzel Tunes, Teresa Santos, Veridiana Scarpelli
MARKETING E PUBLICIDADE Paula Iliadis
CIRCULAÇÃO Aparecida Fernandes (Coordenadora de Assinaturas)
OPERAÇÕES Andressa Matias
SECRETÁRIA DA REDAÇÃO Ingrid Teodoro
É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE TEXTOS, FOTOS, ILUSTRAÇÕES E INFOGRÁFICOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
TIRAGEM 26.490 exemplares
IMPRESSÃO Plural Indústria Gráfica
DISTRIBUIÇÃO RAC Mídia Editora
GESTÃO ADMINISTRATIVA FUSP – FUNDAÇÃO DE APOIO
À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PESQUISA FAPESP Rua Joaquim Antunes, nº 727, 10º andar, CEP 05415-012, Pinheiros, São Paulo-SP
FAPESP Rua Pio XI, nº 1.500, CEP 05468-901, Alto da Lapa, São Paulo-SP
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO



VÍDEO
Parece um salto gigante no mapeamento do Universo (“Vera Rubin entra em operação com imagens inéditas do Universo”).
João Andrade
Precisaremos de um bocado de pesquisadoras para analisar esses dados com as máquinas.
Nayara Barros de Sousa
Vai ser importante esse mapeamento para realmente conhecermos o nosso Universo próximo e distante.
Hugo Mede
BIOINSUMOS
Superimportante a reportagem “Pequenos seres amigos do campo” (edição 358). Esses, sim, são defensivos benéficos.
Antonielle Cunha
CARTOGRAFIA
Os mapas sempre foram utilizados
ASSINATURAS, RENOVAÇÃO E MUDANÇA DE ENDEREÇO
Envie um e-mail para assinaturaspesquisa@fapesp.br
PARA ANUNCIAR
Contate: Paula Iliadis E-mail: publicidade@fapesp.br
EDIÇÕES ANTERIORES
Preço atual de capa acrescido do custo de postagem. Peça pelo e-mail: assinaturaspesquisa@fapesp.br
LICENCIAMENTO DE CONTEÚDO
Adquira os direitos de reprodução de textos e imagens de Pesquisa FAPESP E-mail: redacao@fapesp.br
para construir disputas. Há relatos desse movimento ainda nos primeiros momentos da colonização do Brasil, mas também em momentos anteriores, na história antiga (“Cartografia ampliada”, edição 357).
Paula Regina
NINA RODRIGUES
Ainda hoje essa ideia ronda a mente de muitos nas instituições e elite brasileiras (“Nina Rodrigues tentou explicar as desigualdades sociais por meio da raça”, edição 357).
Marcela Fernandes
CORREÇÃO
Na legenda da página 15 da reportagem “Pequenos seres amigos do campo” (edição 358), o fungo Beauveria bassiana cobre uma centopeia e não um besouro.
Sua opinião é bem-vinda. As mensagens poderão ser resumidas por motivo de espaço e clareza.
revistapesquisa.fapesp.br redacao@fapesp.br PesquisaFapesp pesquisa_fapesp @pesquisa_fapesp PesquisaFapesp pesquisafapesp cartas@fapesp.br
R. Joaquim Antunes, 727 10º andar
CEP 05415-012
São Paulo, SP
Sua pesquisa rende fotos bonitas? Mande para imagempesquisa@fapesp.br Seu trabalho poderá ser publicado na revista.

Em um intervalo do trabalho de campo na serra fluminense, em uma reserva privada onde funciona o Projeto Araçá, a bióloga Junia Yasmin Carreira saiu com a câmera fotográfica.
Por uma manhã inteira, ficou de tocaia e perseguiu as poucas borboletas que encontrou da espécie Euptychia boulleti. Conseguiu fotografar e, ao enviar ao biólogo André Freitas, coordenador do Laboratório de Ecologia e Sistemática de Borboletas da Universidade Estadual de Campinas (Labbor-Unicamp), teve uma surpresa: ele afirmou não existirem registros fotográficos oficiais do animal vivo, embora a espécie tenha sido descrita há pouco mais de um século. O registro e o contato com pesquisadores na estação de pesquisa permitiram à bióloga encontrar ovos e lagartas da espécie e descrever seu desenvolvimento até a forma adulta.
Imagem enviada por Junia Yasmin Carreira , pesquisadora colaboradora do Labbor-Unicamp


Nesse boletim, a cada mês um jornalista da nossa equipe dá dicas das reportagens de Pesquisa FAPESP de que mais gostou. Fique por dentro da ciência, tecnologia, humanidades e política científica.
SUGESTÕES DA REDAÇÃO pesquisa fapesp

revistapesquisa.fapesp.br

