
ANAIS DO ENCONTRO IMAGEM + POLÍTICA + ESTÉTICA TERRITÓRIOS FLUIDOS DO CONTEMPORÂNEO 2024
LUDIMILLA CARVALHO WANDERLEI
NINA VELASCO E CRUZ (ORGANIZADORAS)
RECIFE - PE 2024
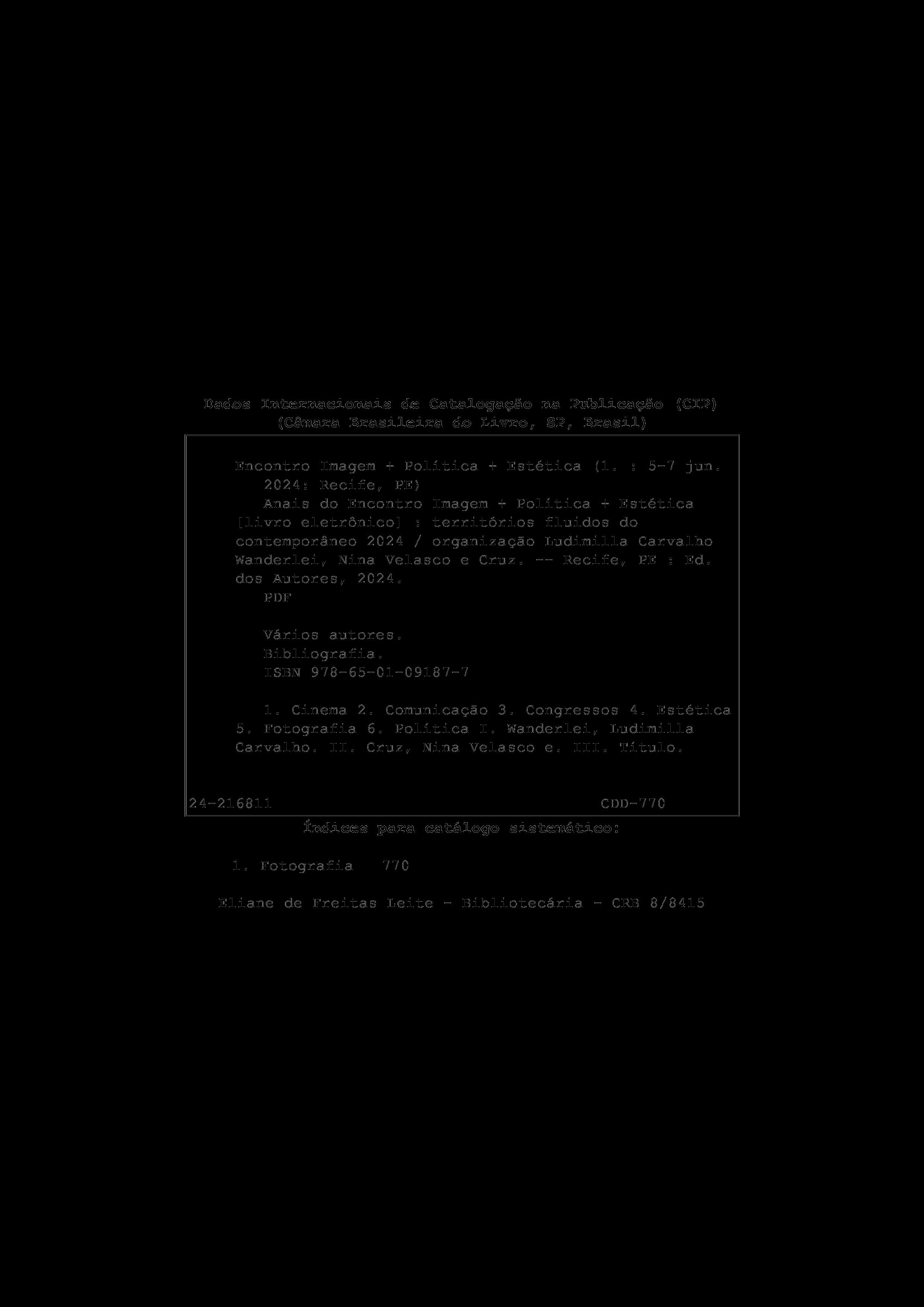


RECIFE - PE 2024
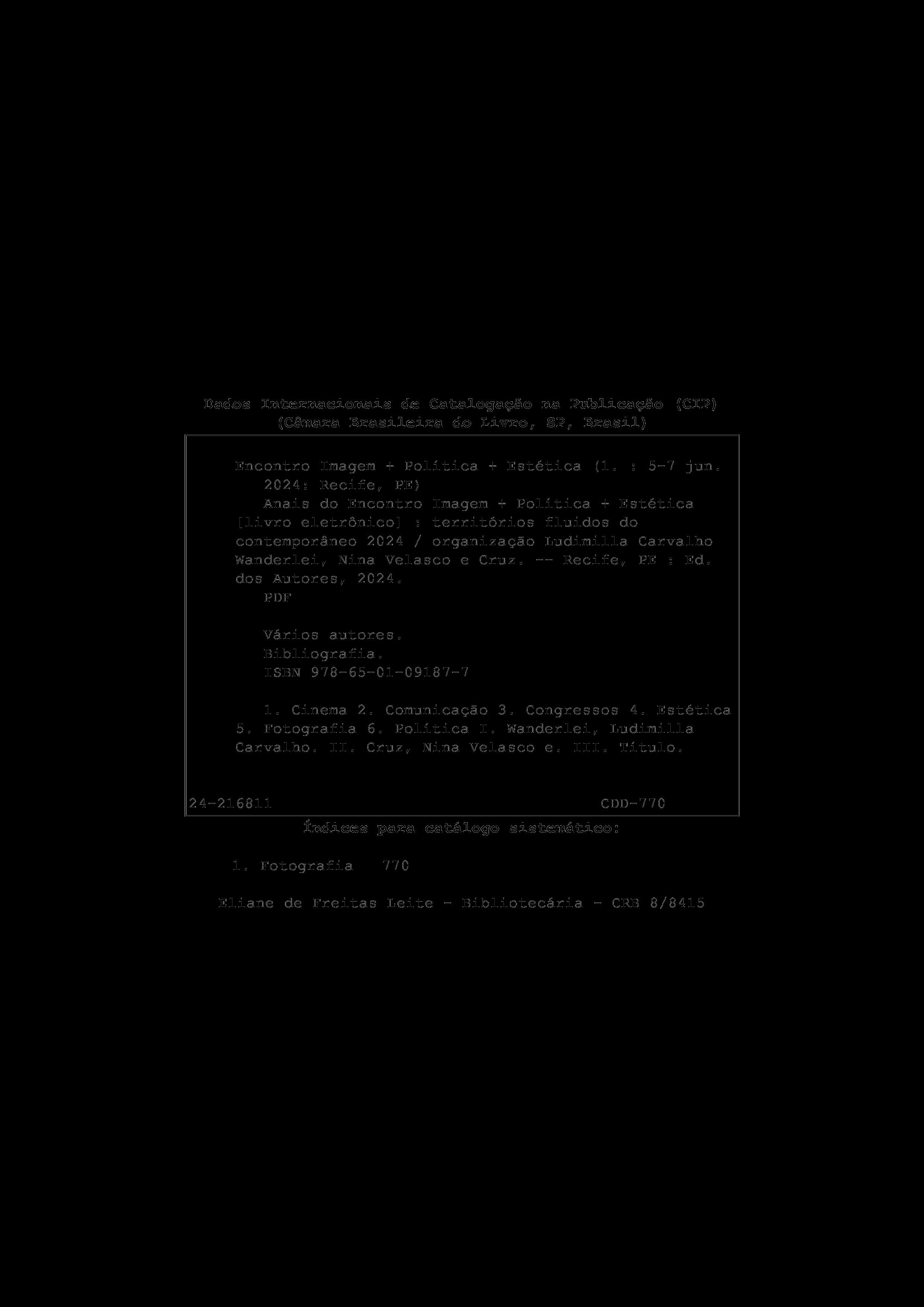
O Encontro Imagem + Política + Estética: territórios fluidos do contemporâneo é um espaço de intercâmbio entre pesquisadores, artistas, estudantes e público em geral interessado no universo da fotografia contemporânea, em suas diferentes formas de apresentação, poéticas, materialidades, temáticas e interlocuções com outras tecnologias da imagem que mobilizam debates clássicos e atuais. A programação, com atividades presenciais e remotas, incluiu: apresentações de trabalhos, minicursos, sessão de lançamento de livros e conferências, que ocorreram na cidade do Recife (PE), nos dias 05, 06 e 07/06/2024. O evento foi realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPE, com apoio Fundação Joaquim Nabuco, UFRJ e UERJ. O incentivo é do Funcultura-PE. Os anais do evento reunirão artigos científicos de diversos autores, apresentados no encontro.
Ludimilla Car valho Wanderlei
Edmund Kesting (1892-1970): um retratista entre arte e documento - Paola Orlovas
Para ver Teresa: Uma experiência de produção de imagens pós-indiciais de sujeitos escravizados descritos em jornais do século XIX - Carolina Dantas de Figueiredo, Íkaro Weslley
Silva de Sousa, Felipe Araujo da Silva e Ivan da Costa Alecrim Neto
A intenção fotográfica - Hermano Callou
Minha mãe esteve lá nos meus sonhos: O prompt no processo de imagens geradas por IA - Taís Monteiro
Fato, Fake ou Arte? Disputas do real nas fotografias ͞Mercado da Fome͟ - Gabriela Medeiros Mendes, Marianna Ferreira Jorge e Paula Sibilia
Falha na fotografia como ativação da especulação: O caso ͞Katespiracy ͟ - Amanda de Moraes Medeiros
Contravisualidade negra-periférica: o olhar negro sobre os corpos negros - Emanuele de Freitas Bazílio
Fotojornalismo antirracista e novas matrizes de visualidade negra - Alice Oliveira de Andrade
A disputa do espaço em Azougue Nazaré - Mayara Moreira Melo
Considerações sobre educação e vigilância dos corpos queer em Close (2022) e Monster (2023) - Catarina Andrade e Eduardo de Andrade Santiago Santos
As estratégias visuais nos relatos de aborto em Por que não? - Maria Cardozo
O informe batailliano na obra O Tango de Satanás de Bela Tarr - Rosa Fernanda Vidal dos Santos
Texturizações visuais no cinema de Pietro Marcello - Bruno Alencar
A imagem que cai: Fricções entre o Informe (Krauss, 1990) e a Queda livre (Steyerl, 2017) em Vertical Roll (1972) e Outer Space (1999) - Myllena Matos Sousa de Jesus
Fotografia, cinema, ensaio: Uma análise de A Festa e os Cães e Rebu - Sabrina Tenório Luna
Resíduos luminosos: a poética da coleção em David Gatten - Lucca Nicoleli Adrião
A fotomontagem como caminho da poética de arquivos históricos - Fabiana Bruce Silva

Edmund Kesting (1892-1970): retratos experimentais de um pintor-fotógrafo1
Edmund Kesting (1892-1970): experimental portraits of a painter-photographer
Paola Pacini Orlovas2
Resumo: O trabalho evidencia retratos fotográficos iniciais do fotógrafo e pintor alemão Edmund Kesting (1892-1970), partindo do catálogo "Edmund Kesting: Ein Maler fotografiert" (Petsch, 1987), ou "Edmund Kesting: Um Pintor fotografa", em português. Examina-se a biografia de Kesting, contextualizando-o para leitores que não têm acesso facilitado ao seu trabalho, e, de maneira exploratória, propõe-se explorar a natureza do retrato, sua configuração e sua relação com as técnicas utilizadas pelo artista A pesquisa promove uma perspectiva panorâmica de obras entre 1926, ano em que adota a fotografia, distanciando-se das artes visuais, e 1937, quando parte de suas pinturas são confiscadas pelo governo alemão. Analisa-se o uso de técnicas experimentais, como exposições múltiplas, fotomontagem, solarização e fotogramas, e sua ligação com o conteúdo das fotografias, que capturam o panorama cultural e social alemão da época, testemunhando artistas, escritores e trabalhadores A análise sugerida parte de Krauss (1990), Buchloh (2000) e Fabris (2004).
Palavras-chave: Alemanha; Edumund Kesting; retrato experimental
Abstract: The paper points out at early photographic portraits by the German photographer and painter Edmund Kesting (1892-1970), based on the catalog " Edmund Kesting: Ein Maler fotografiert" (Petsch, 1987), or "Edmund Kesting: A Painter
1 Trabalho apresentado ao GT 1 - Teorias e histórias da fotografia: revisões, renovações e permanências do Encontro Imagem + Política + Estética: territórios fluidos do contemporâneo, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife - PE, 05 a 07 de junho de 2024
2 Mestranda em História da Arte no Programa de Pós-graduação em História da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Bolsista de Mestrado do CNPq Bacharela em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero (FCL). E-mail: porlovas@gmail.com. Lattes ID: http://lattes cnpq br/7646588159358555 São Paulo, Brasil

photographs", in English Kesting's biography is examined, contextualizing him for readers who do not have easy access to his work, and, in an exploratory manner, it is proposed to explore the nature of the portrait, its configuration and its relationship to the techniques used by the artist. The research provides a panoramic view of his works between 1926, year in which he adopts photography, distancing himself from the visual arts, and 1937, when part of his paintings were confiscated by the German government. The use of experimental techniques, such as multiple exposures, photomontage, solarization and photograms, and their connection with the content of the photographs, which captures the German cultural and social panorama of the time, bearing witness to artists, writers and workers, are analysed The suggested analysis draws on Krauss (1990), Buchloh (2000) and Fabris (2004).
Keywords: Edmund Kesting; Experimental portrait; Germany.
O presente trabalho tem como ponto de partida o catálogo ³Edmund Kesting: Ein Maler fotografiert´ (Petsch, 1987), ou ³Edmund Kesting: Um Pintor fotografa´ , em português Além dele, foi utilizado o artigo ³Experimentelle Fotografie in Der DDR: Edmund Kestings Porträtaufnahmen´ (Fotografia experimental na RDA: os Retratos de Edmund Kesting, Hoffer, 2007). Ambos os textos servem como leituras estruturais para compreender o trabalho de Edmund Kesting (1892-1970), fotógrafo e pintor pouco estudado fora do contexto alemão, mas relevante para pensar-se no contexto da fotografia de vanguarda dentro do país Com o catálogo em mãos, foi possível explorar parte dos registros fotográficos do artista e considerar suas influências dentro deste campo, evidenciadas pelo livro. Sendo assim, surgiu o interesse em examinar parte de sua obra, em especial o recorte temporal entre 1926 e 1937, destacando seu caráter experimental, que a distingue de retratos tradicionais por meio do emprego de técnicas como exposição múltipla, fotomontagem, montagem negativa, solarização e fotogramas
É objetivo do artigo tanto examinar a biografia de Kesting, contextualizando-o para uma série de leitores que não teriam acesso descomplicado ao seu trabalho, quanto,

de maneira exploratória, partir da contemplação inicial das peças para analisar a natureza do retrato, sua configuração e sua relação com as técnicas utilizadas pelo artista Além disso, são feitas considerações sobre a inserção dos trabalhos do fotógrafo e pintor dentro da fotografia artística. Portanto, busca-se, de forma similar à maneira em que a produção do fotógrafo foi tratada dentro da Alemanha, tanto no catálogo quanto no artigo, evidenciar seus trabalhos e vida. Neste sentido, resgata-se Hoffer (2007, p. 311): ³[...] portanto, a história do retrato está intimamente ligada à imagem do homem de uma época específica, e seu desenvolvimento pressupõe que a importância do indivíduo seja reconhecida3´ .
Edmund Kesting, nascido em Dresden, na Saxônia, em julho de 1892, formou-se na Academia de Belas Artes da cidade em 1916. Posteriormente, serviu como soldado durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). A partir de 1919, foi professor na Der Weg: schule für neue kunst (O caminho: escola para nova arte), e começa a experimentar com a fotografia após ser influenciado por figuras ligadas à vanguarda, como László Moholy-Nagy (1895-1946) e El Lissitzky (1890-1941) Integrando a cena artística da Alemanha da época, inicialmente com seus trabalhos em aquarela e guache, passa a exibir o que chamaria de Schnittgraphiken (Gráficos cortados), em 1925 Em 1926, mudou-se para Berlim, cidade em que desenvolveu suas incursões experimentais na fotografia. Registra-se também, entre 1926 e 1937, o declínio de sua produção nas artes visuais Suas obras foram confiscadas para a Exposição de Arte Degenerada em 1937, um ano após ser proibido de pintar e expor, em 1936. Assim, torna-se relevante explorar sua produção fotográfica neste recorte, que permaneceu intacta O fotógrafo e pintor teve pelo menos onze quadros considerados "degenerados" pelo governo alemão em 1937, conforme levantamento do Centro de Pesquisa ³Arte Degenerada´ (Forschungsstelle ³Entartete Kunst´), da Freie Universität Berlin
3 Tradução de ³ und so ist die Geschichte des Bildnisses auf engste verbunden mit dem Menschenbild einer bestimmten Zeit, und ihre Entfaltung setzt voraus, dafi die Bedeutung des Individuums anerkannt wird´; Tradução nossa

A produção fotográfica de Kesting é predominantemente composta por retratos Embora tenha explorado outros formatos, como a fotografia de paisagem, com enfoque particular em Dresden após os bombardeamentos na Segunda Guerra Mundial (19391945), a maior parte de sua obra consiste em registros de artistas, escritores, músicos e políticos alemães Ao analisar os retratos feitos pelo artista durante o período entre 1926 e 1937, podem-se identificar temáticas que também permearam seu trabalho posteriormente. Dentre elas, estão: a representação artística da dança e a captura do movimento, o uso de sombras e a longa exposição de imagens, aludindo às emoções e nuances expressivas, a conexão humana com a natureza e a exploração da nudez como elemento humano, além da representação do trabalhador em seu ofício É relevante notar que, enquanto uma parte dos trabalhos de Kesting como retratista revela uma abordagem exploratória e experimental, outra parte permanece relativamente inalterada. Os retratos nus, assim como aqueles realizados na natureza, se destacam pela redução das intervenções artísticas posteriores pelo fotógrafo, que frequentemente enfoca o corpo nu como elemento central de exploração ou utiliza a flora como tema principal. Embora possam ser abordadas separadamente, é interessante notar que por diversas vezes essas duas temáticas se entrelaçam, fazendo com que o corpo nu, masculino ou feminino, seja retratado em cenários ligados a natureza, como campos ou praias, e não em ambientes urbanos ou domésticos. De maneira semelhante, os registros de trabalhadores adotam uma postura quase documental, na tentativa de capturar o ofício dos personagens e, por extensão, até de um coletivo.
Este esforço do artista ressoa com a estética elaborada pelo também alemão August Sander (1876-1964). Em seu catálogo sobre a obra de Kesting, Petsch (1987, p. 47) coloca: ³Kesting gosta de se ater ao retrato tipológico de August Sander porque desconfia da classificação´ ( Dem Typen-Bildnis von August Sander halt sich Kesting gern, weil er Der Klassifizierung misstraut). Ao discutir seus contemporâneos, é sugerido que o artista era mais favorável a idealização do sujeito proveniente de uma ³tipificação´ , em contraposição à abordagem da Nova Objetividade, que, ainda segundo

Petsch, tendia a desviar o foco da representação individual da pessoa retratada Nota-se, no entanto, que não há consenso claro ao enquadrar Kesting em uma corrente fotográfica específica, tanto em relação às suas influências quanto ao seu estilo e conexões, uma vez que sua obra apresenta uma variedade de elementos que dialogam com diferentes tendências estéticas de sua época

Figura 1 - O jogo de sombras de duas lanternas de estábulo (Das Schattenspiel zweier Stall Laternen), 1934, múltipla exposição Fonte: Edmund Kesting: Ein Maler fotografiert (1987)
Assim, ao abordar as aproximações e distanciamentos de outras correntes na obra do fotógrafo, é pertinente adotar a concepção de Rosalind Krauss (1990) em relação à produção fotográfica artística na França e Alemanha durante as décadas de 1920 e 1930, no texto em que a autora trata do surrealismo Krauss argumenta contra uma categorização homogênea dos trabalhos surrealistas, propondo, em vez disso, a

exploração das diversas possibilidades contidas nestes trabalhos A obra fotográfica no contexto desta vanguarda, para ela (1990, p. 115) deveria deixar a sua ³posição fora do centro e marginal´ ao movimento artístico, para ser pensada justamente a partir de sua heterogeneidade visual - criando espaço tanto para aquelas produções com cunho de testemunho fotográfico e não-manipuladas, quanto para aquelas que sofrem algum tipo de manipulação artística.
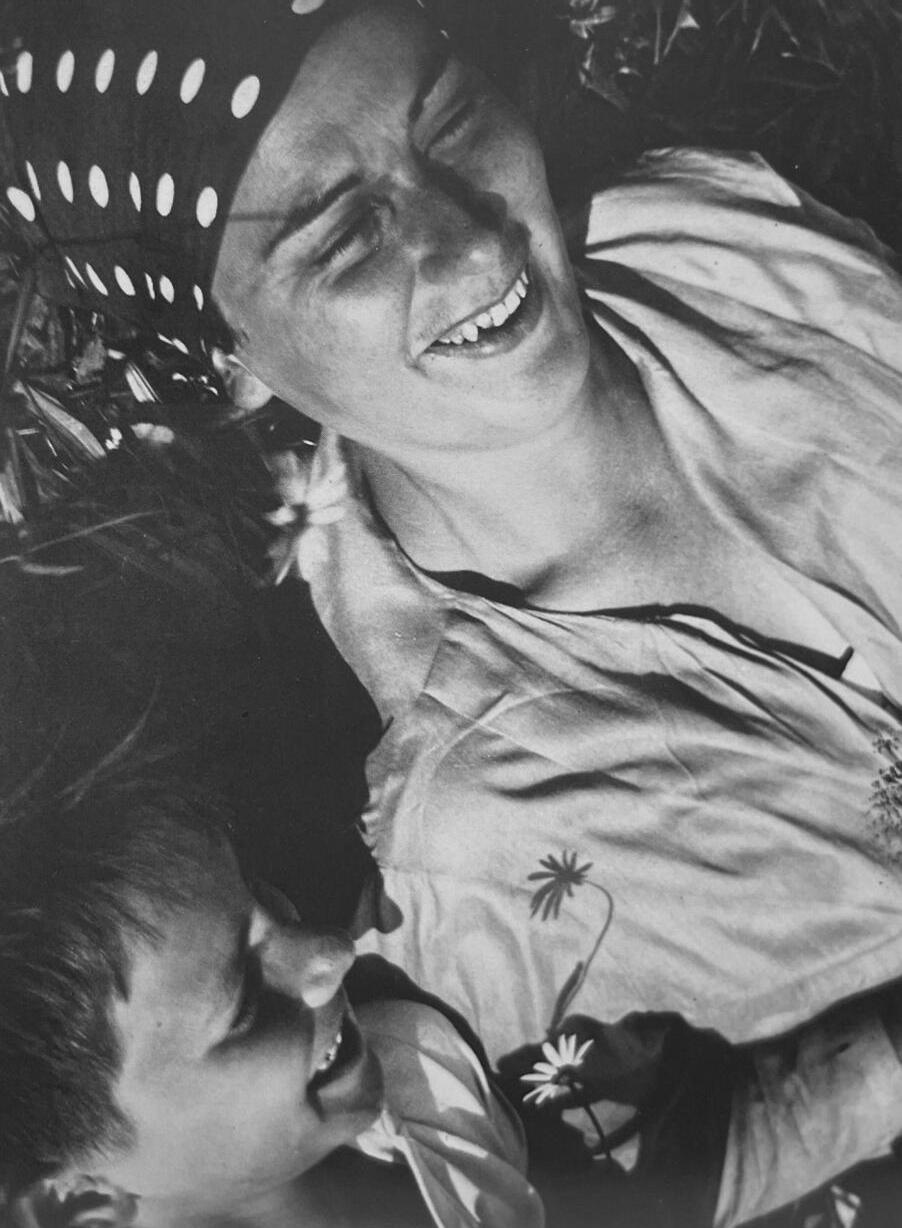
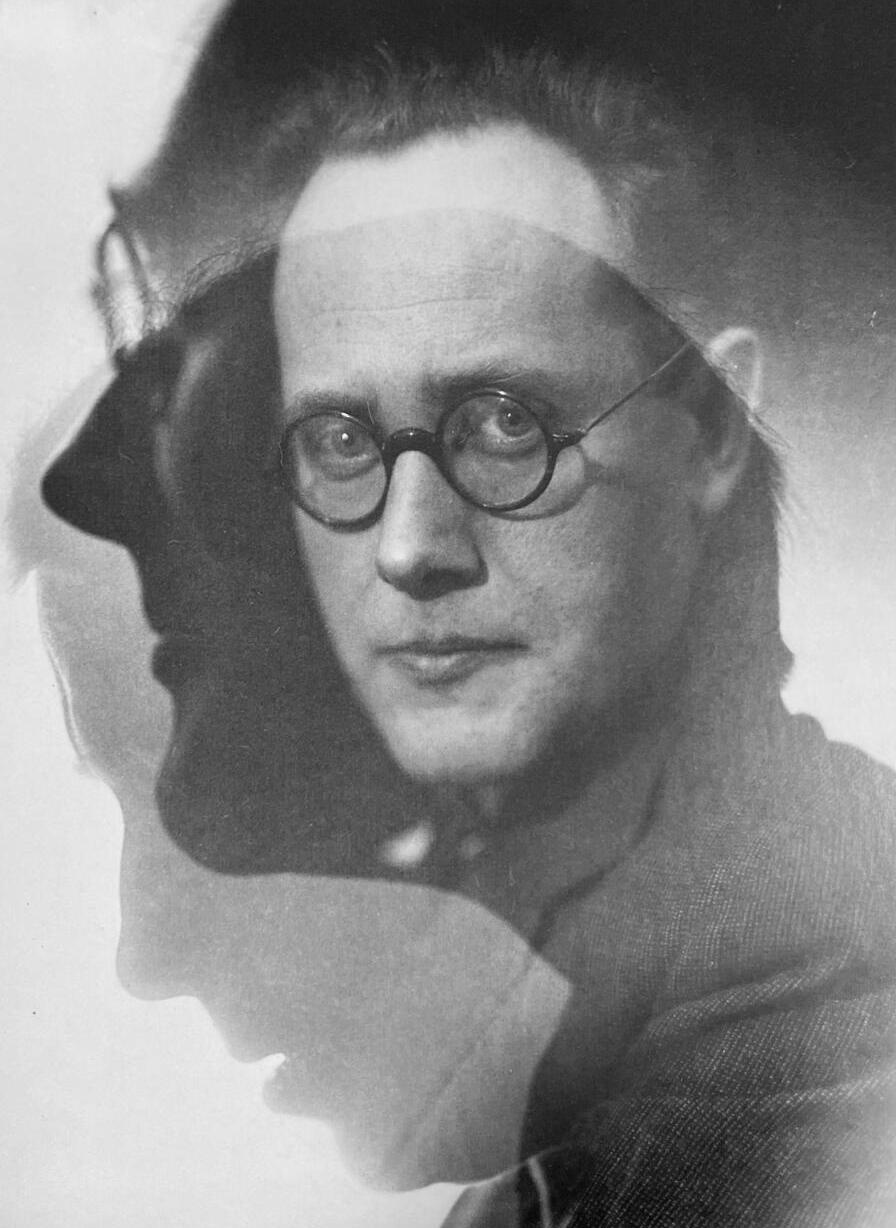
Figuras 2 e 3 - Descanso na borda da floresta (Rast am Waldrand), 1930 (fig 2), e Kurt e Erna Liebmann (Kurt und Erna Liebmann), 1930, exposição múltipla (fig 3) Fonte: Edmund Kesting: Ein Maler fotografiert (1987).
Em seguida, discute-se as formas de manipulação, ou intervenções artísticas, utilizadas pelos surrealistas Dentre as listadas, (1990, p 115), destacam-se as exposições múltiplas que marcaram significativamente a obra de Kesting assim como a solarização e o uso de espelhos. É possível identificar, no uso dessas técnicas, e, também, no emprego da montagem pelo fotógrafo, cadeias de procedimentos

alegóricos, conforme pensados por Benjamin H D Buchloh (2000), que conservam, em meio a justaposição de fragmentos, determinada intenção por trás destas escolhas de representação Em Kesting, essas podem refletir a relação entre indivíduo, arte, sociedade e até política. Seus retratos não se limitam a uma representação física dos retratados, mas capturam simbolicamente as dinâmicas culturais e sociais da República de Weimar, que, entre 1919 e 1933, antecedeu o regime nazista na Alemanha, período que culminaria na classificação e exposição das obras de Kesting como degeneradas em 1937
Observa-se que as intervenções de Kesting adquirem proeminência nos retratos dos artistas, escritores e dançarinos, delineando essa determinada narrativa visual de dinâmicas culturais e sociais. Nos retratos dos dançarinos, a utilização de técnicas como a própria exposição múltipla e as poses excêntricas evocam movimento, fluidez, e, desafiam a imagem estática, usando, também, da encenação Também passa a haver o emprego de sombras nos registros, como forma de enfatizar os movimentos de seus sujeitos Enquanto isso, nos retratos dos demais, as manipulações com as sombras parecem refletir as nuances de suas profissões, como a contemplação e outras expressões subjacentes

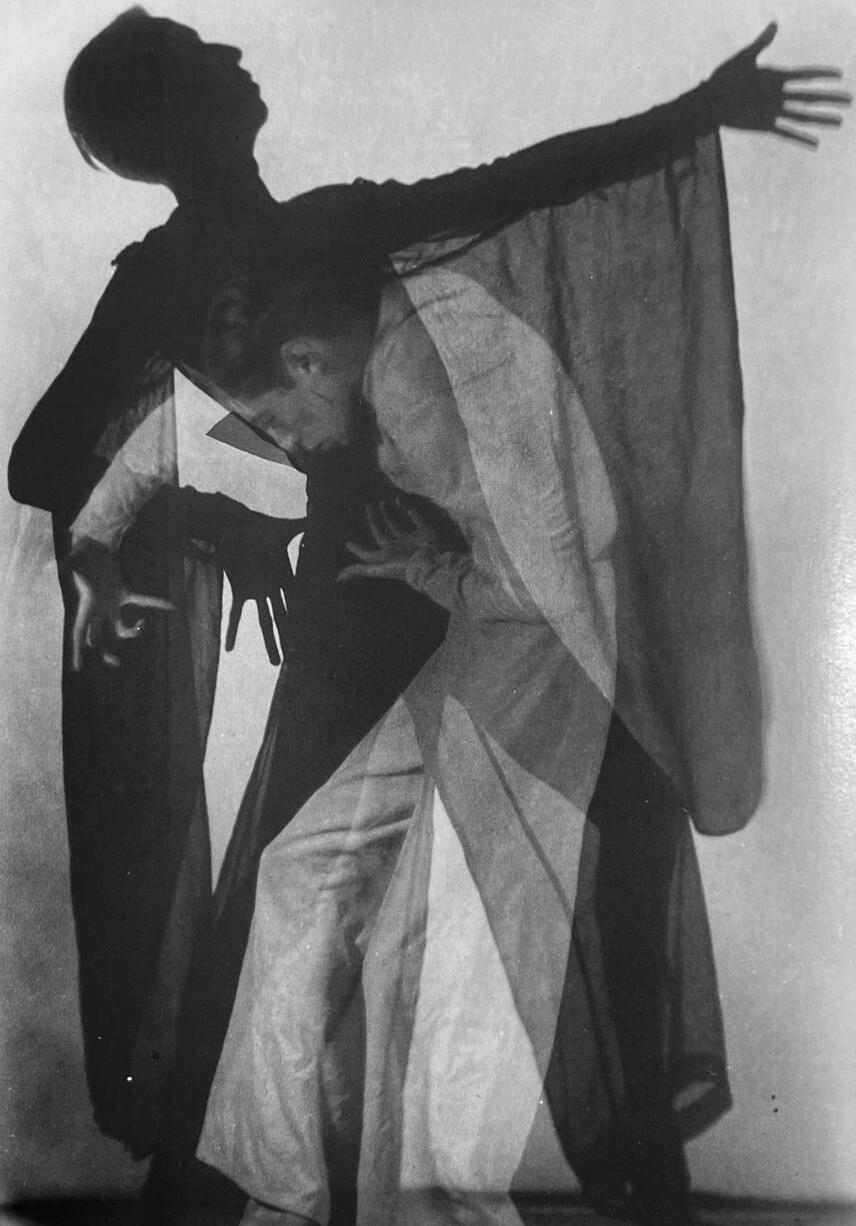
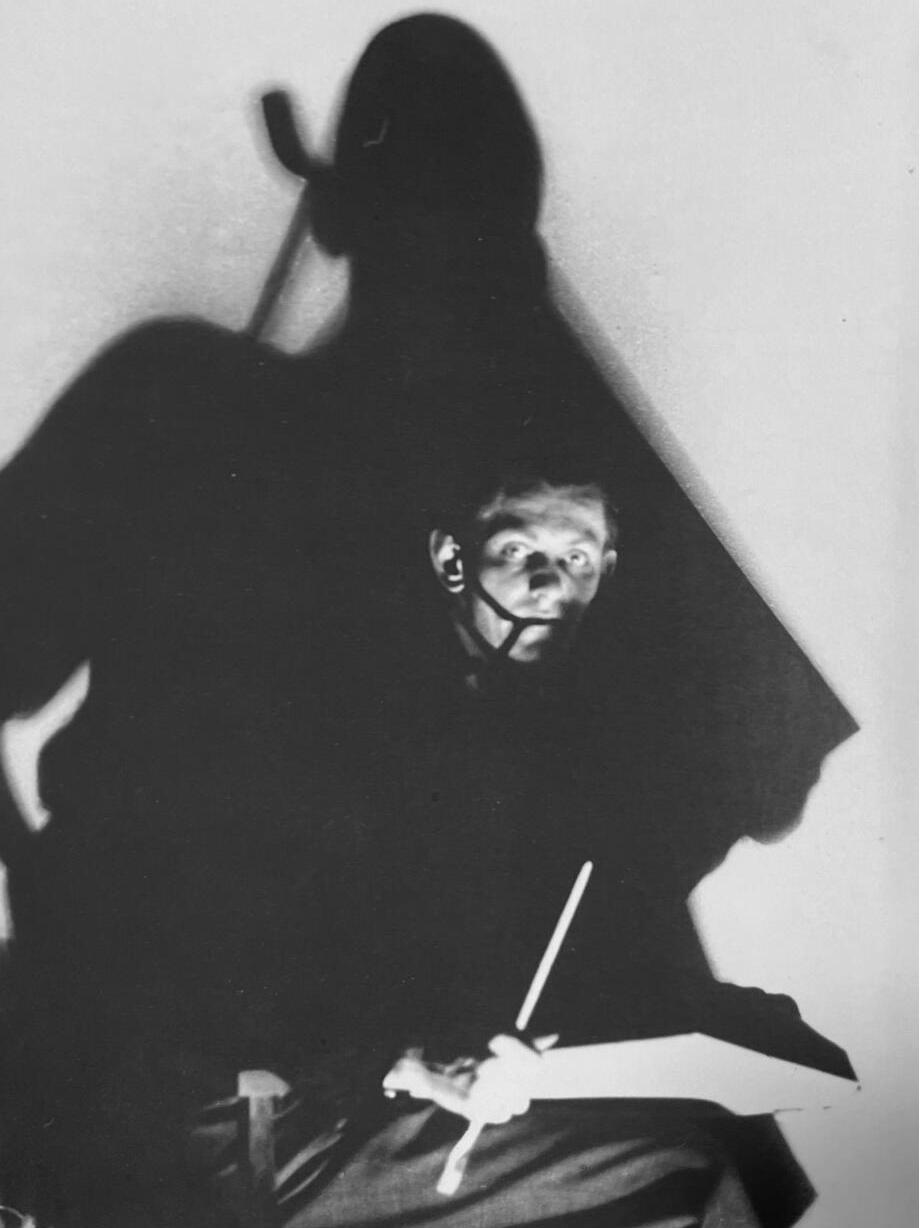
Figuras 4 e 5 - O bailarino Dean Goodelle II (Der Tanzer Dean Goodelle II), 1930, exposição múltipla (fig. 4), e Autorretrato com pincel e quadro de colorir (Selbstporträt mit Pinsel und Maltafel), 1920, exposição múltipla (fig 5) Fonte: Edmund Kesting: Ein Maler fotografiert (1987).
Partindo de Annateresa Fabris, que discute em Identidades virtuais: uma leitura do retrato fotográfico (2004) o retrato como uma construção artificial que abriria espaço para debates sobre identidade e identificação, também é possível pensar que, em Kesting, os sujeitos são elevados por meio dessas intervenções nos retratos, transformando-se em personificações dos elementos por ele explorados: da natureza, do trabalho, e da arte e cultura. São idealizações dos domínios pelos quais o fotógrafo transita, refletindo não apenas as características individuais dos retratados, mas também as nuances mais amplas de outras esferas Embora alterados, os retratos ainda conservam a essência de registros dos sujeitos, mesmo que sob uma perspectiva simbólica do artista, para abordar temáticas de seu interesse Nesse contexto, a fronteira

entre o testemunho fotográfico e a visão do fotógrafo se dissolve, uma vez que, apesar de serem imagens fiéis, são também profundamente idealizadas: Enquanto história, o retrato supõe a tradução fiel, severa e minuciosa do contorno e do relevo do modelo Isso não exclui a possibilidade da idealização, ou seja a escolha da atitude mais característica do indivíduo e a enfatização dos detalhes mais importantes em detrimento dos aspectos insignificantes do conjunto (Fabris, 2004, p 22)
Por um lado, a produção de Kesting se destaca pela exploração de uma variedade de intervenções artísticas de vanguarda de sua época, conferindo maior complexidade ao gênero do retrato, linguagem que adotou de forma singular. Por outro, sua obra possui valor histórico significativo como registro de figuras importantes da cena cultural, tanto durante a República de Weimar quanto, a partir de 1949, no período da República Democrática Alemã (RDA), quando foi selecionado para retratar grandes figuras do regime esquerdista A obra de Kesting como fotógrafo continua sendo um campo fértil para a exploração acadêmica, sobretudo dentro do contexto brasileiro, oferecendo múltiplas camadas de significado para conceber esse capítulo da fotografia alemã. Conforme evidenciado por Hoffer (2007), sua contribuição vai além do testemunho, incorporando uma visão reflexiva que dialoga com as transformações culturais e políticas de seu zeitgeist
BUCHLOH, Benjamin H D Procedimentos alegóricos: apropriação e montagem na arte contemporânea. Revista Arte & Ensaios, v. 7, p. 179-197, 2000. Disponível em: https://revistas ufrj br/index php/ae/article/view/49905 Acesso em 15 jul 2024
FABRIS, Annateresa Identidades virtuais: uma leitura do retrato fotográfico Belo Horizonte: UFMG, 2004.
HOFER, Sigrid. Experimentelle Fotografie in Der DDR: Edmund Kestings Porträtaufnahmen. Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft, v. 34, p. 309-336, 2007.

PETSCH, Ursula Edmund Kesting: Ein Maler fotografiert Leipzig: VEB Fotokinoverlag, 1987
PHILLIPS, Christopher et al. Photography in the modern era: European documents and critical writings, 1913-1940. Nova York: Metropolitan Museum of Art, 1989.
KRAUSS, Rosalind. O fotográfico. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. Original: Le photographique: Pour une Théorie des Écarts, 1990

Para ver Teresa: Uma experiência de produção de imagens pós-indiciais de sujeitos escravizados descritos em jornais do século XIX1
To see Teresa: An experience in producing postindexicaliImages of enslaved subjects as described in 19thcentury newspapers
Carolina Dantas de FIGUEIREDO2
Íkaro Weslley Silva de SOUSA3
Felipe Araujo da SILVA4
Ivan da Costa ALECRIM NETO5
Resumo: A escassez de registros visuais de pessoas negras no século XIX reflete tanto limitações técnicas quanto um apagamento histórico dos sujeitos escravizados. Partindo dessa premissa, utilizando anúncios de jornais do século XIX estudados por Freyre, coletamos dados para a criação de imagens pós-indiciais através de inteligência artificial (IA) de pessoas escravizadas, com objetivo de resgatar suas histórias e dar visibilidade a elas de forma digna e humana. Aqui realizou-se um experimento para retratar Teresa, utilizando-se a plataforma Leonardo AI Palavras-chave: Escravidão; Fotografia; Inteligência artificial.
1 Trabalho apresentado ao GT 1 - Teorias e histórias da fotografia: revisões, renovações e permanências do Encontro Imagem + Política + Estética: territórios fluidos do contemporâneo, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife - PE, 05 a 07 de junho de 2024.
2 Professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco (DCOM/UFPE), e-mail: carolina.figueiredo@ufpe.br
3 Estudante de Graduação 5º Semestre do Curso de Rádio, TV e Internet do DCOM/UFPE, e-mail: ikaro silva@ufpe br
4 Estudante de Graduação 5º. Semestre do Curso de Rádio, TV e Internet do DCOM/UFPE, e-mail: felipe asilva@ufpe br
5 Mestre em Comunicação pelo Programa de Pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco (PPGCOM/UFPE), e-mail: ivan alecim@ufpe br

Abstract: The scarcity of visual records of Black people in the 19th century reflects both technical limitations and a historical erasure of enslaved individuals. Based on this premise, using 19th-century newspaper advertisements studied by Freyre, we collected data to create post-indexical images of enslaved people using artificial intelligence (AI) The aim is to rescue their stories and provide them with visibility in a dignified and humane way. As part of this effort, we conducted an experiment to portray Teresa using the Leonardo.AI platform.
Keywords: Slavery; Photography; Artificial Intelligence
1. Introdução
O período escravagista no Brasil tem recebido ao longo da história diferentes análises e leituras, a partir do que se considera mais atual ou contemporâneo para cada época. Neste momento, é adequado posicionar a escravidão indicando a brutalidade das movimentações populacionais forçadas entre diferentes regiões do continente africano e do Brasil, entendendo-as como uma violação não só a autonomia dos povos que foram forçosamente removidos e escravizados, mas também, uma violência, cuja amplitude não somos capazes de colocar em palavras, aos sujeitos que tiveram corpos, religião, família, língua e memória devassados em processos tanto de dominação física quanto simbólica
Sobre a memória, embora haja múltiplos aspectos a considerar, trazemos aqui a questão da imagem dos sujeitos escravizados como parte dos apagamentos sofridos por essas pessoas ao longo da história. Embora pretenda-se falar neste artigo em particular do século XIX, é óbvio que compreendemos que os recursos de produção de imagens pictóricas ou fotográficas eram limitados e caros nesta época, houve um apagamento ou pelo menos uma sub-representação imagética dos sujeitos escravizados no Brasil, mesmo levando em consideração os custos e as limitações então existentes

É importante notar, que exceto por registros domésticos (como por exemplo as imagens de amas pretas e crianças brancas relativamente abundantes no século XIX), de viajantes (interessados em retratarem a vida cotidiana e os exotismos do país, desde as missões como as de Eckhout e Debret nos séculos XVII e XVIII, respectivamente) ou imagens feitas de pessoas pretas e mestiças que ocupavam posições notáveis ou célebres (é bastante conhecido o retrato do abolicionista José do Patrocínio, por exemplo), há poucos registros fotográticos não só de escravos, mas de pessoas negras como um todo se tomarmos como referência o tamanho desta população no Brasil no período em questão (século XIX), o que aponta não só para as assimetrias sociais e econômicas entre brancos e negros no país (e que perduram até os dias atuais) mas também para o que poderia ser considerado um desejo de apagamento das pessoas negras da história e da vida social brasileira.
Contudo, se nos debruçarmos sobre os documentos que tratam da população escrava negra no Brasil no século XIX, há registros dos sujeitos e de suas características para além da fotografia Freyre (1979) percebe a ausência de fontes historiográficas que descrevam homens e mulheres escravizados e recorre aos anúncios de jornais como fonte privilegiada para buscar características ³de personalidade e de formas de corpo de negros ou mestiços, fugidos ou expostos à venda, como escravos, no Brasil´ A partir do levantamento desses anúncios feito por Freyre, extraímos a descrição de uma mulher identificada como Teresa para prototipar um esquema de produção de imagens pósindiciais através de ferramentas de inteligência artificial no sentido de elaborar representações visuais dos sujeitos descritos por Freyre e eventualmente por outras fontes.
Busca-se aqui trabalhar com o conceito de fotografia pós-indicial ou promptografia elaborado pelo pesquisador Alecrim Neto em sua dissertação (2024), para avançar no uso das inteligências artificiais no campo da historiografia e da comunicação social como forma de construir imagens que deem visualidade às pessoas descritas, rompendo o apagamento que se impôs sobre elas durante séculos. Como

resultado, utilizando a ferramenta Leonardo AI, produzimos uma versão pós-indicial possível da imagem de Teresa conforme descrita em um anúncio de jornal transcrito por Freyre que trata dos nomes mais comuns que pessoas escravizadas tinham Entendemos que a imagem produzida não corresponde à materialidade ou imagem ³real´ há muito perdida do sujeito representado Trata-se aqui de uma provocação, ainda bastante incipiente, sobre os usos das inteligências artificiais na produção de imagens e suas possíveis aplicações e desdobramentos.
2. Imagem, história e memória
Tão antiga quanto a própria humanidade é o desejo de fixar memórias ou, mais especificamente aqui, de representar pessoas ou acontecimentos através de imagens. Quando pensamos em imagens do passado, muito mais do que à fotografia, nosso imaginário recorre às grandiosas pinturas de herois, reis e rainhas do Velho Mundo, com os quais nosso imaginário foi colonizado Essas imagens não representam apenas a fisionomia dos sujeitos retratados, mas sua posição social e eventualmente seus gostos e interesses Tratam-se, e isso é inegável, de instrumentos de exercício de poder
A pintura, enquanto representação indicial, também funcionava como cartão de visita. Relatos dão conta de que Dom Pedro II se encantou pela esposa, a Imperatriz consorte Teresa Cristina, antes mesmo de vê-la pessoalmente, graças às pinturas feitas dela, o que indica a crença depositada em imagens de caráter realista, isto é, que buscavam copiar de forma fidedigna o objeto retratado Com a chegada e posterior popularização da fotografia a relação de crença nas imagens retratadas por um dispositivo sócio-técnico, no caso a câmera, é ampliada e aprofundada.
O próprio D Pedro II chegou a desenvolver certo fascínio pela fotografia enquanto registro do real e depósito da memória. Fotógrafo amador, D. Pedro II produziu abundantes imagens de seus familiares, de paisagens brasileiras e da rotina do

Império e da Primeira República, como as produzidas por Marc Ferrez (1843-1923) e José Ferreira Guimarães (1841-1924).
A partir das imagens produzidas de forma pictórica ou fotográfica, as pessoas podem reconhecer suas características e história, remontando suas origens, as lutas e os rostos que os antecederam, deixando rastros que são aquilo que mais se assemelha para nós à eternidade. Hoje, estas imagens podem ser vistas em museus, coleções de arte e livros escolares e permitem que pessoas e histórias sejam conhecidas e reconhecidas.
Porém, por ser a pintura e depois a fotografia atrelada a privilégios de classe (renda e posição social) a grande maioria das imagens de que dispomos só retrata a vida e história de pessoas consideradas proeminentes em cada época Os sujeitos subalternizados e os corpos abjetos (Kristeva, 1982), aqueles que deveriam ser repelidos e marginalizados, apareciam em imagens como curiosidade, parte de registros médicos policiais ou apenas de forma etnográfica Se tomarmos o século XIX, em face da referência feita a D. Pedro II como ponto de partida, este tipo de registro, que é por definição desumanizante, foi exatamente o que aconteceu com as pessoas escravizadas no Brasil, não só nesta época, mas também em todo o período colonial e no primeiro império, vide as pinturas de Eckhout no período Holandês e de Debret, que veio ao Brasil na Missão Artística Francesa Em ambos os casos os artistas estavam dedicados a retratar as paisagens e exóticos tipos humanos do Brasil. Mais do que isso, as imagens eram mais alegorias do próprio Brasil, selvagem e tropical, do que representações dos sujeitos, esses sempre ou quase sempre anônimos, como vemos na pintura (Figura 1) de Eckhout abaixo:


Fonte: Catálogo do Instituto Ricardo Brennand (reprodução).
Embora revisões recentes (Prado, 2016) apontem para um olhar não só de curiosidade e exotismo, mas também de denúncia na obra de Debret - e aqui há de se considerar que o pintor também é fruto do pensamento iluminista francês que depois iria influenciar a luta abolicionista - as escravas e escravos retratados, o são apenas de forma genérica, mais como tipos do que como indivíduos Assim, não é possível saber quem são aquelas pessoas e mesmo, e note-se que aqui há algo importante para o pensamento que iremos elaborar mais a frente, se são pessoas reais ou se suas faces e

corpos são síntese, em alguma medida do que o autor via - assim como nos parece ser em Eckhout - e do que ele queria representar (Figura 2).
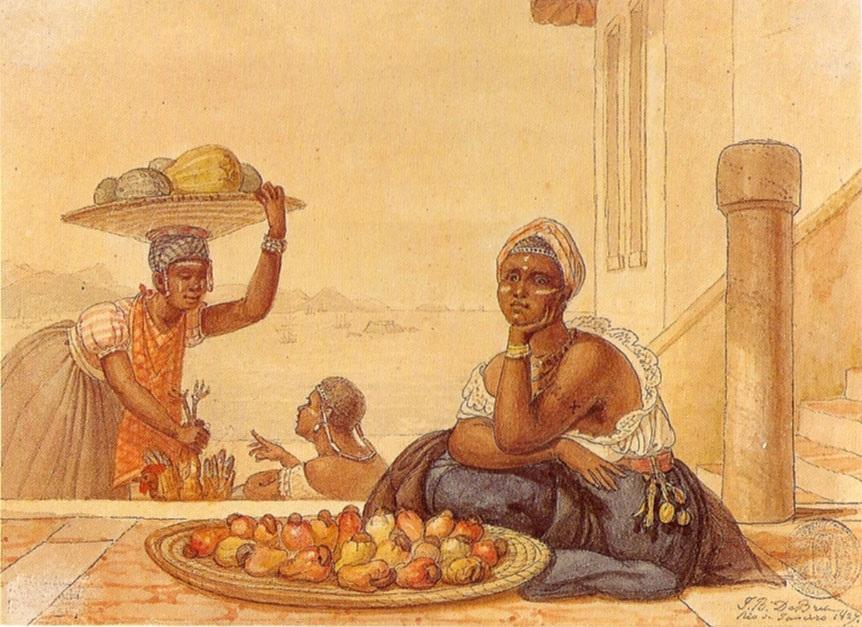
Figura 2 - Pintura de Debret: Negra tatuada vendendo caju
Fonte: Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil (reprodução)
O argumento, bastante delicado em função do qual organizamos a presente pesquisa, é que os sujeitos escravizados, de forma bastante específica, eram retratados de forma objetificada, seja dentro desse viés etnográfico ao qual nos referimos anteriormente, seja como extensão das famílias que detinham sua posse (um exemplo clássico disso são as fotografias de crianças brancas e suas amas de leite ou babás, feitas no século XIX, inclusive como parte de um subgênero específico de fotografia familiar no Brasil império) ou como ³artigos´ a serem anunciados e vendidos. É exemplar o caso da fotografia abaixo (Figura 3) em que embora o nome do menino e sua origem sejam conhecidos, sabemos apenas a função da mulher (ama de leite) e que era escrava.


Figura 3 - Ama de leite com o menino Eugen Keller. Pernambuco, 1874.
Fonte: (reprodução)
O argumento que defendemos aqui é que na época em que a imagens de sujeitos escravizados podiam ter sido feitas diretamente a partir do índice, da presença física, isso não foi feito pois a eles, os escravos negros, não cabia o status de sujeitos, como extensão, suas histórias, rostos e vida foram deliberadamente esquecidas. Isto vale, utilizando-se uma outra lógica para a imagem acima (Figura 3). Mesmo quando houve a produção de uma imagem indicial (fotografia), o nome da mulher retratada não foi preservado. Preservou-se dela a função e a posição de escrava. Ressaltamos também

que no caso das pinturas de Eckhout e Debret não há nenhuma documentação que comprove a existência dessas pessoas. Sabe-se que os pintores produziram a partir de suas experiências no Brasil, o que inclui sim, obviamente o estar diante de pessoas e paisagens, mas há algo nessas imagens que remete muito mais a tipos ideais no sentido weberiano ou alegorias, do que a sujeitos propriamente ditos Assim, de imediato rompemos com o tabu do indicial, que é uma das questões com as quais nos defrontamos quando tratamos de produção de imagens por inteligências artificiais Essas imagens não são fotográficas Embora busquem o hiperrealismo da fotografia, elas não são fotográficas justamente porque a foto pressupõe a presença do índice Isto é, o spectrum, pequeno simulacro que será representado (Barthes, 1980), reflete a luz na direção do aparato tecnológico o qual tem como finalidade decodificar o código luminoso em uma imagem fotográfica. É o estatuto de presencialidade e testemunho Já em seu turno, a imagem pós-indicial é construída através de entradas (imputs) de dados a softwares capazes de produzirem conteúdos por si de modo generativo Segundo Beiguelman (2024):
As inteligências artificiais são sistemas computacionais capazes, a partir de modelos treinados com grandes quantidades de dados - [ ] são milhões de imagens que perfazem esses conjuntos de dados - [ ] de resultar em tecnologias que não só executam tarefas, mas são capazes de tomar decisões diante de dados inéditos6
Neste sentido, nosso papel enquanto pesquisadores é o de buscar entender como poderíamos hoje, com a evolução das inteligências generativas de imagem, produzir imagens de caráter pós-indicial (sem a materialidade imediata daquilo que se registra) para ³ver´ algumas das pessoas que foram escravizadas, respeitando suas características físicas e gostos, habilidades e crenças Assim, partimos do livro de Gilberto Freyre ³O escravo nos anúncios de jornais brasileiros do século XIX´ para buscar descrições dos sujeitos escravizados de modo a coletar subsídios para a produção de imagens pós-
6 Texto adaptado a partir de fala da professora Giselle Beiguelman no programa Café Filosófico da TV Cultura

iniciais que humanizem essas pessoas entendendo, contudo, que as descrições dos anúncios são limitadas e têm o viés dos interesses dos anunciantes e não dos sujeitos descritos
Ele destaca que os escravos eram descritos nos anúncios com base em uma ampla gama de características, tais como origem étnica, sexo, idade, forma do corpo, temperamento e comportamento. Além disso, Freyre chama a atenção para a presença de escravos fugitivos e aqueles com deficiências físicas ou peculiaridades linguísticas e comportamentais Esses anúncios oferecem, portanto, uma visão abrangente das condições e da diversidade da população escravizada no Brasil do século XIX, fornecendo uma base essencial para a compreensão do contexto social e histórico da época.
O racismo se estrutura no sentido de que primeiro há uma carga histórica que se desdobra em estigmatização e, então, no racismo institucional, que é quando o estigma é institucionalizado Nesse sentido, percebe-se na escravidão a carga histórica responsável pela criação do estigma da desumanização das pessoas negras, para garantir o domínio absoluto sobre esses corpos que ninguém reclamava, vidas que não eram humanas, mas de objetos. Merlino (2018). ³Se certas vidas não são qualificadas como vidas ou se, desde o começo, não são concebíveis como vidas de acordo com certos enquadramentos epistemológicos, então essas vidas nunca serão vividas nem perdidas no sentido pleno dessas palavras. (Butler, 2015, p.13)
A desumanização dos corpos negros era amplamente evidenciada nesses anúncios Mesmo para os registros da época, essas pessoas eram consideradas meros objetos cujo único valor residia na sua capacidade de servir Suas vidas eram retratadas de maneira desprovida de humanidade, muitas vezes apenas com descrições textuais que refletiam o olhar do senhor sobre o indivíduo, jamais levando em consideração o ponto de vista do próprio indivíduo ou as condições de trabalho enfrentadas por ele
A proposta de dar rostos àqueles que foram unicamente registrados na situação de servidão representa um compromisso crucial com a humanização de indivíduos cujas vidas foram, por muito tempo, definidas apenas pela narrativa da escravidão. Este

esforço visa não apenas preencher uma lacuna representativa, mas também desafia a tendência histórica de reduzir essas pessoas a meras estatísticas ou registros de propriedade Ao humanizar esses corpos tentamos proporcionar uma visão mais completa das experiências de vida desses indivíduos. A intenção é romper com a ideia de que a história dessas pessoas começa e termina na escravidão, resgatando-as do esquecimento e da invisibilidade que caracterizaram grande parte da documentação histórica a respeito do tema.
Considerando que esse artigo é parte de uma pesquisa mais ampla, traremos aqui a pilotagem de uma dessas representações. Abaixo descreveremos o processo (metodologia) através do qual elaboramos a imagem de Teresa, escrava cujo anúncio aparece reproduzido no livro de Freyre, mais adiante apresentaremos como resultado a imagem gerada.
Para alcançar o objetivo aqui proposto, será realizou-se uma análise de representações artísticas de pessoas do século XIX no Brasil, focando-se nas pessoas negras Em paralelo foi feita uma categorização das características descritas para cada sujeito a partir de Freyre. O terceiro passo foi a aplicação de inteligências generativas de imagem para recriar o rosto de uma das pessoas escravizadas descritas nos anúncios coletados por Freyre, a escrava Teresa. Utilizou-se para isso a plataforma Leonardo.AI, uma ferramenta de inteligência artificial generativa O Leonardo AI, ainda em desenvolvimento, é um poderoso aplicativo focado na criação de imagens e texturas para jogos. Embora seja uma alternativa ao MidJourney e ao DALL-E 2, outras ferramentas, o Leonardo AI se destaca por sua capacidade de processamento de dados e por estar disponível gratuitamente. Esta plataforma permite a criação de imagens e artes visuais por meio de prompts de comandos, o que facilita o trabalho de artistas, designers e desenvolvedores. A amostra que utilizamos foi composta por pinturas, fotografias e

documentos relacionados à escravidão, as principais delas apresentadas anteriormente neste texto. A coleta de dados incluiu também pesquisa bibliográfica e iconográfica, com o levantamento de obras de arte e fontes históricas, a partir dos anúncios de jornais do século XIX, conforme estudado por Gilberto Freyre. Técnicas de aprendizado de máquina foram utilizadas para criar representações digitais realistas das pessoas escravizadas. O estudo dos dados envolveu uma análise qualitativa das pinturas e fotografias selecionadas e uma interpretação dos resultados das representações geradas pela inteligência artificial dos sujeitos descritos nos anúncios Todos os procedimentos foram conduzidos com respeito à dignidade das pessoas envolvidas, seguindo as questões éticas do nosso tempo envolvendo negritude, mas também fotografia e inteligência artificial.
4. Análise e resultados
As contribuições desta pesquisa abrangem diversos aspectos essenciais Em primeiro lugar, destaca-se a importância contínua de se tratar da história e da memória das pessoas escravizadas, proporcionando uma representação digna e humanizada de suas vidas, características e experiências Ao conferir rostos e identidades às pessoas escravizadas por meio das ferramentas de inteligência artificial, esta pesquisa visa tentar proporcionar uma visão decolonial de suas imagens, rompendo com a ideia de que suas histórias começam e terminam na escravidão.
Além disso, a pesquisa visa desconstruir narrativas redutoras que historicamente relegam as pessoas escravizadas a meras estatísticas ou registros de propriedade. Ao ampliar a compreensão sobre suas experiências e desafios, destacando sua humanidade e diversidade, busca-se promover uma visão mais inclusiva e holística da história Neste sentido, produzimos a imagem de Teresa (Figura 4) abaixo.


Figura 4 - Teresa.
Fonte: Criação própria a partir do software XXX
As promptografias geradas por meio da inteligência artificial, imagens pósindiciais (Alecrim Neto, 2024), têm potencial para impactar significativamente a sociedade, promovendo o reconhecimento e a valorização das contribuições e da herança cultural das pessoas escravizadas Este aspecto contribui para uma maior conscientização e compreensão das complexidades da história e das injustiças enfrentadas por esses grupos ao longo do tempo
A pesquisa também articula avanços na tecnologia e pesquisa em comunicação, explorando o potencial das inteligências generativas de imagem para reconstruir as características das pessoas escravizadas descritas nos anúncios Esse avanço não apenas contribui para a área de inteligência artificial aplicada à história e à representação

visual, mas também abre novas perspectivas para a investigação interdisciplinar e o uso responsável da tecnologia na preservação da memória histórica.
Em suma, as contribuições desta pesquisa visam preencher lacunas representativas, desafiar narrativas dominantes e promover uma compreensão mais ampla e inclusiva da história e da humanidade das pessoas escravizadas, contribuindo assim para uma sociedade mais justa e informada.
Este trabalho busca resgatar a humanidade e a individualidade de pessoas escravizadas, cujas vidas e histórias foram muitas vezes esquecidas ou reduzidas a meras estatísticas. Através da análise de anúncios de jornais do século XIX e da aplicação de tecnologias de inteligência generativa de imagem, visamos dar rosto e voz a esses indivíduos, desafiando estereótipos arraigados e proporcionando uma visão mais completa e autêntica de suas experiências de vida
Reconhecemos que este esforço é apenas um passo em direção à reparação das injustiças históricas perpetradas contra essas pessoas No entanto, acreditamos ser um passo importante para a humanização desses indivíduos e para o reconhecimento de suas contribuições para a sociedade.
A escravidão deixou marcas profundas na sociedade brasileira, e o racismo institucional é uma herança direta dessa época. Ao dar rosto e voz aos escravizados, esperamos contribuir para a desconstrução desse estigma e para a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Por fim, este trabalho reforça a importância da interdisciplinaridade na pesquisa histórica, combinando métodos tradicionais de pesquisa com novas tecnologias para obter uma compreensão mais profunda e abrangente do passado. Acreditamos que essa abordagem pode abrir novos caminhos para a pesquisa e a compreensão da história da escravidão no Brasil.

ALKMIM, T (2006) A fala como marca: escravos nos anúncios de Gilberto Freyre Scripta, v 9, n 18, p 221-229, 2006 Disponível em: https://periodicos pucminas br/index php/scripta/article/view/12603 Acesso em 15 jul 2024
ALECRIM NETO, Ivan da Costa Fotografia de atualidades no cenário de plataformização, IA e fotojornalismo pós-indicial: Fotojornalismo e as tensões técnicas, estéticas e deontológicas diante do atual cenário sociotécnico 14 mar 2024
BARTHES, Roland. A Câmara Clara: notas sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.
BEIGUELMAN, Giselle Inteligência Artificial, Memória, Arquivos e apagamentos 20/05/2024 Café Filosófico Programa de televisão Disponível em: https://www instagram com/gbeiguelman/ Acesso em 22 mai 2024
BUTLER, Judith Quadros de guerra: Quando a vida é passível de luto? Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015
DEBRET, Jean Baptiste Viagem pitoresca e histórica ao Brasil Belo Horizonte: Itatiaia 1978, 2v
KRISTEVA, Julia Powers of horror: an essay on abjection New York: Columbia UP, 1982
MERLINO, Tatiana Um Estado que mata pretos, pobres e periféricos Ponto de Debate, São Paulo, v 1, n 19, p 1-16, out 2018 Disponível em: https://rosalux org br/ponto-de-debate-19/ Acesso em 15 jul. 2024.
PRADO, Antônio Carlos. Debret radical. Revista Isto É. 24/06/2016. Disponível em: https://istoe.com.br/debret-radical/. Acesso em 22 mai 2024.
WAILAND DOS SANTOS, J. (2021). A desumanização do corpo negro como pressuposto para a impossibilidade de vitimização e a consequente seletividade racial do sistema penal brasileiro. Revista Avant - ISSN 2526-9879, Florianópolis, v. 5, n. 1, p. 119 132, 2021. Disponível em: https://ojs.sites.ufsc.br/index.php/avant/article/view/6819. Acesso em: 15 jul. 2024.

The photographic intention
Hermano Arraes Callou2
Resumo: Este texto pretende retomar um debate tradicional da teoria da fotografia, que procurou especificar sua natureza a partir de uma reflexão sobre o papel distintivo da agência do fotógrafo no seu processo de feitura, afirmando uma certa irredutibilidade da fotografia às intenções dos seus produtores Reformulando noções teóricas fundamentais no discurso sobre a imagem fotográfica, como intencionalidade e causalidade, o artigo pretende recuperar a intuição inaugural da fotografia como imagem automática, a partir da uma análise da gramática do conceito de fotografia
Palavras-chave: Teoria da fotografia; Agência; Automatismo.
Abstract: This text aims to revisit a traditional debate in the theory of photography, which sought to specify its nature by reflecting on the distinctive role of the photographer's agency in the photographic process, asserting a certain irreducibility of photography to the intentions of its makers. By reformulating fundamental theoretical notions in the discourse on the photographic image, such as intention and causality, this paper tries to regain the inaugural insight of photography as an automatic image, through an analysis of the grammar of the concept of photography.
Keywords: Theory of photography; Agency; Automatism
1 Introdução
1 Trabalho apresentado ao GT 1 Teorias e histórias da fotografia: revisões, renovações e permanências do Encontro Imagem + Política + Estética: territórios fluidos do contemporâneo, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife - PE, 05 a 07 de junho de 2024.
2 Hermano Arraes Callou, UFRJ, hermano.callou@gmail.com, http://lattes.cnpq.br/2661025718263010.

A teoria da fotografia tradicionalmente procurou pensar a natureza da imagem fotográfica a partir da sua gênese. Na cena de origem dessa forma de compreender a fotografia, encontramos a comparação da imagem fotográfica com as formas tradicionais de fabricação de imagens, como a pintura, o desenho e a gravura. O caráter distintivo da fotografia residiria na forma singular de agência envolvida na sua feitura, que teria como consequência uma certa irredutibilidade da imagem fotográfica às intenções do fotógrafo. A teoria da fotografia tem sido, implicitamente, uma teoria da agência fotográfica, procurando pensar a própria ontologia da fotografia a partir da maneira como pensamos o papel distintivo exercido pelo agente humano no processo de sua gênese O que distinguiria a fotografia nesse contexto seria uma forma de agência contrariada, na qual a imagem resultante não poderia ser assimilada facilmente a uma ação intencional da parte do fotógrafo.
As formulações tradicionais da teoria da fotografia despertam hoje um profundo ceticismo. As razões para o ceticismo costumam residir na dependência desse discurso a um primado do momento de captura em relação ao processo de pós-produção da imagem, um privilégio difícil de se sustentar quando sabemos que fotografias sempre contaram com processos ulteriores de manipulação, que se tornaram impossíveis de ignorar com a digitalização A formulação tradicional da agência fotográfica, na verdade, sempre se deparou com grandes dificuldades, uma vez que uma fotografia é, evidentemente, um objeto que interpretamos segundo a suposição de agência, compreendendo sua forma como estruturada pelas intenções do fotógrafo. Uma fotografia pode, evidentemente, ser planejada em seus menores detalhes O que nos levaria então a acreditar que uma certa irredutibilidade às intenções do fotógrafo é uma característica distintiva da fotografia? A nossa tentação hoje é a de dispensar todo discurso a respeito da agência fotográfica como um essencialismo genético, que não apenas ignora a diversidade das práticas fotográficas como se tornou fatalmente anacrônico com a digitalização

Este ensaio pretende revisitar a compreensão tradicional da agência fotográfica, partindo da hipótese que ele guarda uma intuição fundamental a respeito do conceito de fotografia O argumento pretende se desenvolver em duas etapas Em um primeiro momento, apresento duas formas históricas em que a questão foi colocada, esclarecendo em seguida as noções de intencionalidade e causalidade, que se revelaram fundamentais no discurso apresentado. Em um segundo momento, apresento uma formulação renovada das intuições inaugurais discutidas, comentando a diferença da gramática do conceito de fotografia em relação ao conceito de obra No fim do texto, discuto brevemente a fotografia enquanto obra.
2 Duas formas de colocar a questão
Existem, pelo menos, duas formas maiores em que foi colocada a questão da agência fotográfica.
A primeira formulação consiste no mito da fotografia como uma imagem natural, que embalou o discurso dos primeiros fotógrafos no processo de divulgação de seu invento em meados do século XIX O mito da imagem natural afirma que a gênese da imagem fotográfica pode ser explicada a partir de um processo puramente causal, no qual o fotógrafo não participa verdadeiramente enquanto agente. A fotografia seria uma imagem ³impressa pela mão da Natureza´ (Talbot 1844), na formulação célebre de H F Talbot. Na introdução de The Pencil of Nature, Talbot diz que ³as placas deste trabalho foram obtidas apenas pela ação da luz sobre papel sensível´ (idem), que elas ³foram formadas ou retratadas apenas por meios ópticos e químicos, e sem a ajuda de alguém familiarizado com a arte do desenho´ (idem). É desnecessário dizer´ , ele acrescenta, ³que elas diferem em todos os aspectos, e tão amplamente quanto possível, em sua origem, das placas do tipo comum, que devem sua existência à habilidade conjunta do Artista e do Gravador´ (idem) As fotografias exibidas na publicação eram, contudo, imagens cuidadosamente compostas para câmera, que revelavam tanto familiaridade de

Talbot com as formas tradicionais de representação quanto a disponibilidade das imagens a serem interpretadas como uma ação intencional do fotógrafo.
A formulação de Talbot da fotografia como uma imagem natural teria, como sabemos, uma longa história. A ontologia da fotografia de André Bazin publicada um século depois, encontra o caráter distintivo da fotografia justamente em sua característica inteligibilidade causal, no ³rigoroso determinismo´ (Bazin, 2018, p. 32) que preside sua gênese. O ser da fotografia, de acordo com o autor, seria o de uma imagem ³que participa da natureza´ (Bazin, 2018, p 34), que nos interpela como um ³fenômeno natural´ , semelhante a ³uma flor ou um cristal neve cuja beleza é inseparável de sua origem´ (idem, p 32) O que permitia conceber a fotografia como uma imagem natural era sua ³gênese automática´ (idem), que determinava a compreensão da fotografia como resultado de um processo causal independente das intenções do fotógrafo ³Todas as artes se fundam na presença do homem; unicamente na fotografia que fruímos a sua ausência´ (idem).
A segunda forma de colocar a questão da agência fotográfica consiste em identificar o ato do fotógrafo como fundado em uma forma particular de escolha fraca, cujas consequências ele não poderia se responsabilizar A formulação de John Berger captura com precisão a intuição posta em jogo: diferente de outros artistas, o fotógrafo apenas faz, em cada fotografia, ³ uma única escolha constitutiva´ : a escolha do instante a ser fotografado ³A fotografia, comparado com outros meios de comunicação, é portanto, fraca em intencionalidade´ (Berger, 1982).
A ideia de uma intencionalidade fraca se encontra implícita na maioria dos textos fundacionais da teoria moderna da fotografia. A descrição de Walter Benjamin da experiência fotográfica, por exemplo, se encontra amplamente amparada em uma intuição a respeito do caráter fraco da decisão do fotógrafo, que é retomado pelo espectador: o observador diante de uma fotografia sente a necessidade de procurar ³a centelha do acaso´ , com a qual ³a realidade chamuscou a imagem´ , ³apesar da perícia do fotógrafo e de tudo que existe de planejado em seu comportamento´(1996, p. 94).

Uma intuição semelhante encontramos, é claro, em Roland Barthes a respeito do caráter contingente do pormenor na fotografia: o fotógrafo ³não poderia fotografar o objeto parcial ao mesmo tempo que o objeto total´ (2006, p 58), de modo que o pormenor invade a imagem como uma dimensão suplementar, irredutível a composição deliberada do todo fotográfico No ato fotográfico, a agência seria, portanto, constrangida por uma fraqueza constitutiva.
3 Intenções e causas
A teoria da fotografia tradicionalmente sofre de uma compreensão pouco refletida das noções de causas e intenções, que permeia o discurso a respeito da gênese da imagem. O primeiro passo do nosso argumento deve consistir, portanto, de um esclarecimento desses dois conceitos, procurando evitar dois modelos bastante disseminados de entendimento da questão: o psicologismo a respeito das intenções e o naturalismo a respeito das causas Uma primeira entrada ao problema consiste em perceber que ambas as noções exprimem formas diferentes de responder a pergunta porquê? Quando queremos saber a causa de algo, perguntamos porquê tal coisa aconteceu Quando queremos saber a intenção com que alguém fez algo, perguntamos porquê ele tomou a ação que ele tomou. As duas questões, teremos oportunidade de esclarecer, são radicalmente distintas
A consolidação da teoria da fotografia teve lugar, curiosamente, na mesma época em a crítica de arte pretendeu descartar o conceito de intenção O trabalho da crítica, nos acostumamos a pensar, consiste em interpretar as obras de arte elas mesmas, sem procurar justificar nossa leitura nas intenções do artista, que o crítico de todo modo não poderia ter acesso, na medida em que elas residiriam em sua mente O descredenciamento teórico do conceito de intenção foi baseado, contudo, em uma compreensão psicologista da intencionalidade, que concebe as intenções como estados mentais privados, que precedem as ações e atuam como suas causas psíquicas. O

conceito de intencionalidade que preside meu argumento, contudo, é de natureza distinta. O ponto de onde eu parto é o de que intenção é uma noção estruturante do ³discurso da ação´ (Ricouer, 2013), sem a qual teríamos sérias dificuldades de compreender o que distingue uma ação que realmente fazemos de um acontecimento que simplesmente ocorre, em que não nos reconhecemos como agente O que permite distinguir, podemos nos perguntar, fazendo uso de um exemplo conhecido de L. Wittgenstein, o fato do meu braço se levantar do fato de que eu levanto meu braço? O que diferencia as ações que são imputadas a um agente dos meros movimentos involuntários do nosso corpo? A pergunta interroga a respeito da forma lógica da ação: as condições pelas quais algo pode ser inteligível como uma ação
De acordo com a formulação célebre de Elizabeth Anscombe, o que conta como ação são acontecimentos sobre os quais podemos solicitar uma razão. O que conta como ações intencionais são ³ações às quais um certo sentido da pergunta porquê se aplica´ (Anscombe, 2023, p.30). O que queremos saber quando perguntamos porquê alguém fez o que fez é uma justificativa para o agente ter agido como agiu, que oferece um sentido, um propósito para a ação, sem a qual não saberíamos dizer o que ele, de fato, fez. Quando falamos daquilo que fazemos, nos situamos, portanto, no domínio da propositividade, no qual nossos atos podem ser interpretados segundo suas razões As intenções são, justamente, razões para agir.
De acordo com Anscombe, ações são acontecimentos ³intencionais sob certa descrição´ (Anscombe, 2023, p.59). O que reconhecemos tratando ações como acontecimentos intencionais sob certa descrição é que as ações que um agente faz sem intenção podem ainda ser inteligíveis como ações, na medida em que podemos oferecer diferentes descrições de uma mesma ação, na qual uma delas conta como intencional. Quando Thomas, o protagonista de Blow Up, de M Antonioni, aperta o botão de sua câmera, ele está fazendo intencionalmente uma fotografia e fotografando inintencionalmente a cena de um crime A foto do crime é uma ação que pode ser imputada a Thomas, mesmo que seja preciso medir sua responsabilidade pela oferta do

de elaborativos (Austin, 1957), expressões responsáveis por qualificar a ação em sua relação com o agente: Thomas fotografou o assassinato involuntariamente, por acidente, sem querer, inadvertidamente etc A agência, portanto, não implica estritamente intencionalidade, ainda que intencionalidade implique agência3.
A maior parte dos discursos sobre a fraqueza da intencionalidade da fotografia trata de casos dessa natureza, em que o fotógrafo não teve a intenção de produzir esta fotografia em particular, da maneira como ela se apresenta, mesmo que tenha fotografado intencionalmente sob outras descrições Nessa condição, dizemos que a fotografia capturou um acidente, que não pode, portanto, ser explicado pela remissão às intenções do fotógrafo, ainda que, contudo, a ação de apertar o botão da câmera tenha sido voluntária. O crítico diante de uma imagem fotográfica se encontra frequentemente diante do trabalho de identificar sob que descrições uma fotografia conta como intencional e sob que descrições ela não conta O trabalho do crítico consiste em encontrar seu próprio caminho na trama nebulosa de intenção e acidente que constitui uma obra fotográfica A célebre oposição de R Barthes entre punctum e studium pretende justamente capturar esse jogo, fundamental da nossa experiência com fotografias ³Reconhecer o studium é, fatalmente, reconhecer as intenções do fotógrafo, entrar em harmonia com elas´ (Barthes, 1980 p 36) O punctum da fotografia é esse acaso que nela me fere´ (idem, p.35).
A atribuição de intenções permite compreender uma ação, na medida em que uma intenção é uma razão para agir. As intenções, contudo, permitem que interpretemos uma ação somente sob certas descrições Durante seu passeio, Thomas fotografa porque deseja matar seu tédio, razão que não justifica o fato dele ter fotografado a cena do crime. Para explicar o resultado, precisamos recorrer a uma forma de explicação notadamente distinta: a situação nos impele a uma explicação causal, pela qual reconhecemos a causa para a fotografia ter resultado no que resultou: a presença do o corpo da vítima estendido sobre o chão no momento em que a fotografia foi tirada
3 Um esclarecimento cuidadoso desse ponto pode ser encontrado em LOPES, 2012, p.859 - 864.

Devemos evitar aqui toda compreensão naturalista da causalidade, para qual causas são assimiladas a leis necessárias e universais, que valem para todos os casos. A causa é, simplesmente, aquilo do qual deriva o efeito, aquilo no qual nos apoiamos para descrever de quê algo é um resultado.
A capacidade da fotografia acolher o acaso é expressão de uma condição partilhada, na verdade, por todas as nossas ações, que define ao mesmo tempo sua vulnerabilidade e sua transcendência: as ações humanas nunca são intencionais sob todas as descrições, existe sempre uma descrição para qual ela deserda para fora do domínio da propositividade.
O que nos permite, contudo, acreditar que a capacidade de acolher o acaso é uma propriedade, se não distintiva, ao menos característica da fotografia? O caráter receptivo ao acidente da fotografia é um traço definidor, na verdade, de práticas fotográficas particulares, que não teríamos motivo de generalizar para toda e qualquer prática fotográfica (o tema do acaso parece ser pouco relevante, por exemplo, para a fotografia de objetos, encenada em estúdio sob luz artificial) A prática da fotografia pode cotejar a intencionalidade fraca do snapshot, mas ela não é seu destino necessário.
O nosso esclarecimento dos conceitos de causas e intenções parece somente ter resultado no enfraquecimento das intuições tradicionais do caráter distintivo da agência fotográfica. O nosso esforço consiste, contudo, em uma etapa necessária para apresentarmos a parte positiva do nosso argumento
4 A indiferença fotográfica
A hipótese que eu gostaria de defender é a de que podemos compreender melhor o caráter distintivo da agência fotográfica quando constatamos a singularidade do conceito de fotografia, observando o modo distinto como fotografias reivindicam razões
e causas em seu processo de compreensão O que primeiro precisamos constatar é que uma fotografia comporta necessariamente uma forma de explicação causal, que remete a

um ³acontecimento fotográfico´ (Wilson, 2012), definido pela inscrição de luz em um suporte sensível. O que queremos dizer quando nos perguntamos, diante de uma imagem ambígua, ³é isto uma fotografia?´? O que fazemos quando declaramos uma certa imagem como fotográfica é reconhecer que estamos autorizados a compreendê-la segundo um conjunto particular de explicações causais, que remetem ao próprio processo fotográfico. Quando considero uma imagem uma fotografia, posso inferir que o garoto na foto sorri, porque o garoto fotografado sorriu; que a imagem é turva, porque o fotógrafo estava em movimento O reconhecimento de que toda fotografia pode ser interpretada causalmente é uma constatação minimalista, que não nos compromete com a ideia de transparência (a nossa tentativa de explicação causal pode, certamente, fracassar, nada nos garantem que compreenderemos causalmente uma fotografia de maneira correta), nem com a ideia de pureza (uma fotografia pode conter elementos que não são suscetíveis a interpretações desse tipo) A definição é, evidentemente, minimalista o bastante para ser compatível com a existência de fotografias com múltipla exposição, fotografias amplamente editadas em pós-produção, fotografias realizadas sem câmera, fotografias não-figurativas.
A fotografia pode ser sempre interpretada a partir de explicações causais, mas, apenas em casos particulares, podemos interrogar as intenções de uma foto A independência da fotografia diante das explicações intencionais pode ser notada quando observamos o fato trivial de que uma fotografia é algo que sempre podemos fazer acidentalmente. Quando o botão da câmera fotográfica é pressionado por acidente, nós fabricamos uma imagem fotográfica como qualquer outra A imagem fotográfica conserva sua capacidade de representação mesmo em caso de ela ser um mero acidente.
Uma fotografia acidental é ainda como um objeto digno de uma experiência fotográfica. Nos sentimos, diante desse acidente, plenamente aptos a perguntar: o que é isso que vemos na imagem? Quem é essa pessoa? Quando foi isso? Onde é isso? O que aconteceu nessa imagem? O critério pelo qual algo conta como uma fotografia não leva em consideração, portanto, o fato de ela ser expressão de uma intencionalidade, de que

sua existência deve ser imputada à ação de um agente O que fazemos quando afirmamos que uma fotografia é uma coisa que sempre podemos fazer acidentalmente não é constatar o fato meramente empírico da existência de fotografias acidentais, mas reconhecer que a permissão concedida à fotografia a ser um puro acidente é constitutiva da própria inteligibilidade da fotografia enquanto fotografia
A teoria da fotografia procurou o caráter distintivo da imagem fotográfica a partir do modo de agência do fotógrafo, porque suspeitava que a agência era supérflua para o entendimento do que é uma fotografia de uma maneira que a diferenciava das formas tradicionais de produção de imagens. Ela pôde encontrar no automatismo o caráter distintivo da imagem fotográfica, porque assimilava as formas tradicionais de fabricação de imagem à produção de uma obra. O que conta como uma obra é algo que, necessariamente, sob certa descrição, sua fabricação foi intencional.
A consequência das nossas observações anteriores foi a de que, justamente, a fotografia pode ser considerado uma obra somente em casos particulares. As formas tradicionais de produção de imagens tendem, contudo, a ser sempre concebidas como produção de obras, o que percebemos quando observamos que ³fazer uma pintura´ não é uma ação que pode ser realizada de maneira meramente acidental Quando inadvertidamente derramamos tinta sobre a tela, não dizemos que fizemos uma pintura
Não estávamos pintando, no instante que derramamos tinta pela tela. Quando decidimos exibir a tela suja de tinta como uma obra, não estamos afirmando com isso que a pintamos. A dificuldade de conceber uma pintura realizada acidentalmente não é, evidentemente, uma restrição empírica da prática pictórica, mas uma característica do conceito tradicional de pintura.
Uma maneira de estabelecer a dependência do conceito de obra da noção de agência consiste em recorrer a um argumento na forma da distinguibilidade dos indiscerníveis, do tipo do que Arthur Danto consagrou na filosofia da arte. O argumento mostra que a configuração perceptual de uma obra ³subdetermina´ sua identidade

(Danto, 2005, p 39), de modo que somos forçados a reconhecer a diferença entre obras e meros objetos materiais.
Considere duas telas apresentando a mesma configuração sensível: um monocromo pintado por um artista e uma tela monocromática na qual se derramou por toda sua superfície tinta da mesma cor O que podemos dizer diante desses dois objetos perceptualmente indiscerníveis? O que consideramos como obra pode ser interrogado a partir de um conjunto de perguntas que nunca nos sentiríamos tentado a fazer a uma mera superfície coberta de tinta: o que este quadro representa? Sobre o quê é essa pintura? O que essa cor expressa? Porquê essa cor e não outra? etc. As questões acima são questões que nos situam no campo da propositividade, na medida em que elas constatam que a organização da tela que vemos possui, por princípio, um ponto, um sentido, uma razão de ser, pela qual ela pode ser interpretada, por mais obscura, ou arbitrária, que ela seja O que tradicionalmente consideramos como uma experiência pictórica depende da suposição de que a pintura que vemos é um objeto ontologicamente distinto de uma tela dotada de certa configuração material de tinta: a experiência da pintura solicita que imaginemos, na medida que passeamos pelo quadro, as razões com que algo foi pintado do jeito que foi, descobrindo no mundo meramente material das tintas um domínio emergente de significatividade As mesmas questões podem, evidentemente, ser colocadas para uma fotografia, quando esta é uma obra. A diferença é que quando não podemos mais perguntar pelas razões de uma pintura cessamos de considerar o quadro, propriamente, como uma pintura4.
A conclusão de nossas observações é que a fotografia não é, portanto, fraca em intencionalidade; ela é, em certo sentido, indiferente ao conceito de intenção. Esta é intuição que preside o discurso a respeito do automatismo fotográfico. A fotografia é automática por, pelo menos, duas razões, portanto: ela é automática porque é inteligível
4 A história das vanguardas e neovanguardas do século XX é em grande medida uma história das tentativas de destruição do conceito de obra Na vanguarda, artes tradicionais procuram imitar a fotografia, não em sua aparência, mas em seu modo de operar, com demonstrou, insistentemente, Rosalind Krauss (2012), de maneira que, podemos supor, o modo de agência distintivo da fotografia tem, na verdade, se generalizado

como uma fotografia sem que tenhamos que supor ter sido ela feita intencionalmente Ela é automática porque reconhecer uma imagem como uma fotografia é elegê-la como candidata a ser compreendida segundo uma família de explicações causais particular, fundada na presença de um acontecimento fotográfico no seu processo de gênese. O mito da imagem natural captura, portanto, um aspecto decisivo da fotografia, que estamos em condições agora de recuperar. Ele reconhece que a fotografia partilha, essencialmente, a forma lógica de um mero acontecimento do mundo, que se exprime de maneira causal, indiferente aos propósitos humanos
5 A fotografia-enquanto-obra
A fotografia que nos interessa, contudo, é, quase sempre, uma fotografiaenquanto-obra A maior parte das fotografias que vemos não foram produzidas, evidentemente, por acidente. Gostaria de concluir este texto com um conjunto de apontamentos sobre o modo de existência da fotografia como obra, mostrando de que modo o que denominei de indiferença fotográfica participa do entendimento de obras fotográficas particulares, de modo a dispensar a possível suspeita do leitor de que o esforço de esclarecimento conceitual empreendido por este texto pouco pode contribuir a uma verdadeira compreensão das práticas fotográficas.
O ponto que gostaria de sugerir é de que a história da fotografia como arte pode ser interpretada como a história dos modos de lidar com a natureza da agência fotográfica Os discursos históricos que reconheciam a impossibilidade da fotografia ser arte pressentiram inicialmente que havia algo novo numa forma de imagem que poderia significar de maneira indiferente a seus operadores. A história do credenciamento da fotografia como arte precisou, contudo, reivindicar a presença das intenções do fotógrafo para legitimar o meio esteticamente, como podemos constatar, por exemplo, na defesa insistente de Alfred Stieglitz de uma prática fotográfica plenamente controlada pelo artista, capaz de mimetizar a expressividade da pintura (Michaels, 1988,

p 2018-2019) Por outro lado, a validação artística da fotografia em um contexto dominado pela arte moderna na primeira metade do século XX dependeu de uma mímese do fotojornalismo e de sua captura nervosa da vida social, na qual a fotografia declara com franqueza as características do meio que constrangiam a realização da intencionalidade do fotográfo (Wall, 2017) Em The Visit of Cardinal Pacelli (1938), conforme defendeu Carol Armstrong (2012, p.708), H. Cartier-Bresson mimetiza o fotojornalista, que suspende a câmera para alto no meio multidão para poder fotografar um fato histórico Em um golpe de sorte, o fotógrafo registra uma cena reminiscente do motivo do beijo de Judas, conhecido da história da pintura.
A consagração tardia da fotografia no sistema da arte, a partir dos anos 1960 e 1970, dependeu, por sua vez, de experimentos do fotoconceitualismo que dobravam a aposta no caráter anti-arte da fotografia, mimetizando o próprio automatismo fotográfico nos procedimentos de realização Na série Duration, por exemplo, Douglas Huebler documenta um determinado procedimento, que é executado automaticamente pelo artista segundo um sistema anteriormente estabelecido e declarado, internalizando o acaso no curso do processo. Em Duration Piece #7 (1968), vemos uma série de 13 fotografias tiradas a cada intervalo de meia hora de um retângulo de poeira, documentando objetivamente sua perda progressiva e imprevisível de forma Em Throwing Three Ball in the Air to Get a Straight Line (1973), John Baldessari constrói um modelo da fotografia como instante decisivo, mostrando uma tensão constitutiva entre as ideias de sorte e de acidente: o artista submeteu a si mesmo a uma série de tentativas de fotografar três bolas jogadas para o alto em linha reta e exibiu uma série de 36 fotografias contendo os lances mais bem-sucedidos, apresentando um inventário dos modos como uma ação pode fracassar.
A história da fotografia como arte é a história das diferentes maneiras de reconhecer e de evitar reconhecer o estrangeiramento da imagem fotográfica em relação ao domínio da intencionalidade A fotografia contemporânea tem se desenvolvido de maneira distanciada, é claro, de toda preocupação modernista a respeito do caráter

distintivo da fotografia Os problemas da agência fotográfica, contudo, estruturam a prática de grandes artistas fotógrafos contemporâneos, como podemos sentir, por exemplo, no jogo entre intenção e acidente, que encontramos nas obras de Jeff Wall e Thomas Demand5.
A transformação da fotografia em objeto de arte submete, contudo, a imagem fotográfica a uma nova forma de inteligibilidade. O preço que a fotografia precisa pagar quando ela se transforma em obra de arte é a transubstanciação da sua condição de imagem automática Quando a fotografia é declarada uma obra e posta em contexto de exibição, ela se submete necessariamente a uma forma particular de interpretação, na qual as intenções de um agente (o artista, o curador, o museu, a galeria) são constitutivas do seu (novo) modo de existência. O fotógrafo que exibe no campo da arte fotografias acidentais ou acidentes fotografados reintroduz o inintencional em si mesmo no domínio da propositividade A sorte do fotógrafo na captura do momento decisivo, por exemplo, não é apenas um dado empírico da feitura do trabalho de Henri CartierBresson, mas um tema constitutivo de sua obra, no qual nos situamos para interpretar suas ações enquanto artista. As noções que elaboram o caráter inintencional da fotografia - sorte, acidente, acaso, objetividade, indeterminação, etc - retornam, portanto, como problemas estruturantes da fotografia enquanto obra, sendo reinseridos no campo da propositividade como sua negação deliberada.
AUSTIN, J.L. A Plea for Excuses. Proceedings of the Aristotelian Society. Vol. 57, 1957
ANSCOMBE, G. E. M. Intenção. São Paulo: Scientia Studia, 2023.
ARMSTRONG, Carol Automatism and Agency Interwined: A Spectrum of Photographic Intentionality. Critical Inquiry, vol.38, n.4, 2012. BARTHES, Roland. A Câmara Clara: nota sobre a fotografia. Lisboa: Ed. 70, 2006. BAZIN, André O que é o cinema? São Paulo: Ubu, 2018
5 Ver, a esse respeito, em especial, o ensaio de Michael Fried sobre Demand (2006).

BENJAMIN, Walter Obras Escolhidas: Magia e Técnica, Arte e Política São Paulo: Ed Brasiliense
BERGER, John. Another Way of Telling. New York: Vintage Press, 1995.
DANTO, Arthur C A transfiguração do lugar-comum São Paulo: Cosac&Naify, 2005.
FRIED, Michael. Why Photography Matters as Art as Never Before. Yale University Press, 2008
LOPES, Dominic McIver. Afterword: Photography and the ³Picturesque Agent´ . Critical Inquiry, vol 38, n 4, 2012
KRAUSS, Rosalind. O fotográfico. São Paulo: Gustavo Gili, 2012.
MICHAELS, Walter Benn. The Gold Standard and the Logic of Naturalism: American Literature at the Turn of the Century University of California Press, 1988
RICOUER, Paul. O discurso da ação. Lisboa: Ed. 70, 2013.
TALBOT, H F The Pencil of Nature London: Longman, Brown, Green & Longmans, 1944. Disponível em: https://digitalcollections.nypl.org/items/cff7da80-343b-01364130-09d7963bd8b1#/?uuid=a8648f80-9340-0136-1f8c-5537b5a1e2e6. Acesso em: 30/07/2024
WALL, Jeff. Marcas da indiferença. ZUM, v.12, abril, 2017.
WILSON, D M Philosophical Scepticism and the Photographic Event In : LUNDSTRÖM, Jan-Erik; STOLZ, Liv (eds). Thinking photography, using photography. Stockholm: Centrum för Fotografi, 2012.

Minha mãe esteve lá nos meus sonhos:
O prompt no processo de imagens geradas por IA1
My Mother was there in my dreams: The prompt in the process of AI-generated images
Taís Monteiro2
Resumo: O trabalho se debruça sobre a escrita dos prompts, comandos por texto de geração de imagens por IA, que desenvolvem uma relação entre o imaginador (Flusser, 1985) e a geração pela busca e síntese do sistema, no entre regimes de parceria (Beiguelman, 2023), assim como as nuances atualizadas da estreita relação secular entre escrita e imagem imbricadas ao longo dos iconoclasmos ocidentais A partir da imagem ³ My mother was there in my dreams´ (2021) de Gregory Chatonsky, observo o acidente (Morin, 2005) visual que se mostra na imagem por um prompt de descrição de um sonho. Palavras-chave: Imagem algorítmica; Prompt; Escrita e imagem; Estética
Summary: This work focuses on the writing of prompts, text commands for AI-generated images, which develop a relationship between the image maker (Flusser, 1985) and the generation through the search and synthesis of the system, in a regime of partnership (Beiguelman, 2023), as well as the current nuances of the longstanding relationship between writing and image intertwined throughout Western iconoclasms. Starting from the image ³My mother was there in my dreams´ (2021) by Gregory Chatonsky, we observe the visual accident (Morin, 2005) that appears in the image through a prompt describing a dream Keywords: Algorithmic image; Prompt; Writing and image; Aesthetics.
1. A imagem da mãe em sonho
A obra intitulada Memories Center: The Dreaming Machine p.2 (2021) de Gregory Chatonsky resulta de um experimento com um banco de dados de cerca de 20 mil depoimentos de sonhos. O compilado apresenta imagens desenvolvidas a partir da inserção dos depoimentos em software, não identificado por Chatonsky, de geração de
1 Trabalho apresentado ao GT 1 Teorias e histórias da fotografia: revisões, renovações e permanências do Encontro Imagem + Política + Estética: territórios fluidos do contemporâneo, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife - PE, 05 a 07 de junho de 2024 2 Taís Monteiro é doutoranda em Narrativas e Estéticas da Imagem e do Som no PPGCOM - UFPE (20232027), com estudos acerca do imaginário e imagens geradas por Inteligência Artificial Formada em Jornalismo pela UFC e Mestre no Programa de Pós Graduação de Comunicação da UFC (Linha 1 Fotografia e audiovisual); e-mail: tais.monteiro@ufpe.br

imagens. Fruto do projeto que gerou dezenas de imagens compartilhadas em seu site3 na sessão Artificial Imagination, a imagem que parto para pensar a escrita e imagem gerada por IA, contém o seguinte título: My mother was there in my dream Traduzo, livremente, para: minha mãe esteve lá, no meu sonho.
Uma mãe no sonho No passado Um rosto que se apresenta de maneira errática, pois afinal como gerar a imagem onírica da mãe? Nos últimos anos, a escrita de prompt tem se disseminado não só entre desenvolvedores, entre prompts engineers4, mas também entre artistas, curiosos e experimentadores. Afinal, a esmagadora maioria de softwares disponíveis e abertos para a geração de imagens IA funciona a partir do input de texto para imagem, ou de imagem para imagem; neste caso, destaco a ressalva de que, mesmo a partir do input imagem para imagem, as modificações ocorrem por comandos escritos. Em outras palavras, o que se escreve no prompt de saída é como o software busca probabilisticamente correspondentes do comando para gerar uma imagem. O entre-meio de criação se dá pela escolha de palavras
É com e na imagem que desenvolvo o pensamento acerca da escrita de geração imagética. Pergunto, primeiro: o que aparece na superfície desta imagem? Uma massa de símbolos percebíveis, à primeira vista, uma colcha de cama que se mescla a uma textura de nuvens, mas não só isso, a substância mesclada se espalha pelas paredes, do que parece um quarto Na superfície da imagem que se apresenta, todos os elementos se entrecruzam No centro, uma massa de textura de pele, mas que não se completa em um rosto, na qual algo que parece um olho se multiplica, em disformes formatos de olho. Procuro identificar e percebo cinco formas de olhos, dois narizes, uma boca, uma testa com cabelos pretos escorridos. Um redemoinho azul no canto esquerdo superior. Mas não só descrever a imagem nos ajuda a procurar o que nos indica o sintoma5 da experiência estética que divido nestas páginas.


My mother was there in my dream (2021)
O que esse tecido-pele-rosto-olho no centro da imagem oferece de sensação? Há um estranhamento na tentativa de identificação da face que não é uma face? O que alcanço é a sensação de desconforto, torpor de não-identificação de um rosto não possível de ser mapeado justamente por não nos encontrarmos um referente generalista de ³mãe´ . Como gerar um rosto de mãe na polifonia do gigantesco banco de dados cooptado pelas big techs de IA? Por que busco identificar uma face mesmo que o que se
5 Georges Didi-Huberman (2010, 2012) desafia-nos ao olhar a imagem, identificar o que nos impele a ela Para ele, olhar a imagem seria ³tornar-se capaz de discernir o lugar onde arde, o lugar onde sua eventual beleza reserva um espaço a um ³sinal secreto´ , uma crise não apaziguada, um sintoma. ³O lugar onde a cinza não esfriou´ (2012, p 215)

mostra é uma superfície de texturas que nos levam à sensação estética de desconforto e nãoexistência?
Marie-José Mondzain (2015) aponta que a imagem é, ao mesmo tempo, o produto da relação que surge no encontro com o espectador e a operadora deste encontro. Ou seja, é uma força que move ao mesmo passo em que é operada, em um fluxo em contingência Em perspectiva, para Mondzain (2015), não há dissociação entre a imagem e o tempo histórico sobre o qual se derrama o olhar Questionar as operações imaginantes na relação entre nós e as imagens, pede que também se pense de onde ela vem, sua proveniência para, enfim, chegar em sua destinação que é como ela se forma em nós. De forma centrífuga e centrípeta, desenvolvo os pensamentos nas próximas páginas: da imagem, da escrita da imagem e dos sintomas do tempo histórico. Inseparáveis, o vínculo relacional entre nós e a imagem não se dá sem historicidade, muito menos sem a emoção do encontro
As operações imaginantes são inseparáveis dos gestos que produziu os signos que, por essa razão, permitem os processos de identificação e a separação sem as quais não haveria sujeito. A definição da imagem é, portanto, inseparável da definição do sujeito. Então, à questão se há uma ciência da imagem, a resposta é a mesma daquela que pergunta se há uma ciência do sujeito. Sua fundação recíproca nos convida a desconfiar que a imagem não é um objeto e, portanto, que, se ela pode, sob certas referências, ser considerada como um objeto, isso não se dá jamais sem consequência para o sujeito. (Mondzain, 2015, p.39)
Já em A imagem pode matar, Mondzain (2009) articula a ideia do estatuto atribuído à imagem: entre coisas e não-coisas, oscilando em uma irrealidade singular Pensar a imagem segundo a perspectiva de ser uma realidade sensível, entre sonho e materialidade, no entre-mundo, ³permite interrogar o paradoxo da sua insignificância e seus poderes´ (Mondzain, 2009, p.12).
Se formos pelo caminho da interpretação, a imagem apresenta um desvio ou acidente e poderia, novamente, ser reescrita, refundada a partir de um novo prompt, na tentativa e erro, como sugerido em manuais6 e em diversos fóruns online, em busca de
6 Indico três artigos sobre escritas de prompt dos quais a pesquisa se debruçou: Liu, Vivian, and Lydia B Chilton. 2022. Design Guidelines for Prompt Engineering Text-to-Image Generative Models. In

uma imagem mais relacional e menos errática. Dentro de uma perspectiva contrainterpretativa7, aponto para o pensamento de Sontag (2020, p 4), em que não procuro asfixiar a imagem no centro da investigação. Pelo contrário, o gesto que faço se espelha no gesto escolhido por Gregory Chatonsky: há o aceite do acidente8 da imagem como fruição estética e o caminho de possibilidade criativa de imagens que se desenvolve em uma escrita não-ideal de prompt.
Quanto a mim, que olho a imagem, é a maneira como encaro o acidente que transforma a dinâmica. Busco a emoção causada no encontro com o ruído acidental que devolve uma imagem com uma colcha de textura de pele, de seus aparentes olhos disformes, um rosto sem forma, um retrato fluído e, ainda assim, desalinhado de uma mãe em um sonho.
No coração do engenho técnico mais visado dos últimos anos no mundo contemporâneo, nos sistemas de algoritmos e de geração de imagem, surgem acidentes que permitem experiências estéticas de estranhamento Há uma desconcertante inapreensão de uma visualidade universal de ³mãe´ por não existir uma imagem possível de ³mãe universal´ mimética. E é a partir da escrita que se determina, minimamente, o que a imagem pode tornar a ser ³Mãe´ e ³sonho´ não são termos-síntese de uma ação replicável por um banco de dados. Mesmo que gigantesco,
Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI µ22). Association for Computing Machinery, New York, NY, Article 384, 23 pages ; https://weirdwonderfulai art/resources/disco-diffusion-70-plus-artist-studies/ e por fim, um fórum online: https://www reddit com/r/ClaudeAI/comments/18bbmnb/my prompt to generate original undetectable ai/?rdt=39156 acesso em: 18 jun 2024
7 Ser afetado pelo mundo e poder relatar o afeto sem sufocá-lo pelo peso da interpretação. Esse é um desafio metodológico que nos deixa nos limites de um dilema Como aponta Sontag (2020), não é possível recuperar a inocência anterior a toda teoria de pensamento em arte, de movimento entre conteúdo e o que a obra de arte queria dizer
8 Morin (2005) sugere acidente como um termo que escapa da dualidade entre verdade e erro como opostos O acidente contém a possibilidade de criação dentro de si. Morin (2005, p.75), ao mesmo tempo, separa o erro na vida do erro na computação, pois o desenvolvedor pode ser afetado por este ³erro´ , porém o computador, o sistema não o é A estrutura e sistema não entende o suposto ³erro´ como algo oposto à verdade, é uma outra resposta Trata-se do que o sistema alcança dentro da curva de aprendizado no momento em que o comando foi inserido Aos poucos, o sistema vai empreender uma lógica de aprendizagem e readequação a partir de ajustes.

mesmo que em constante alimentação a partir da apropriação, há uma inapreensão que surge justamente das palavras dadas: my mother was there in my dream
2. Comandos de texto para IA - a escrita que germina o visível
Como a escrita, então, germina o que torna visível na imagem desenvolvida por IA? Salvo as diferenças técnicas e de níveis de controle na criação de imagens entre os softwares, como Stable Diffusion, MidJourney ou Dall-e-2 e 3, o processo se dá, de forma simplificada, a partir de uma entrada de texto ou imagem que serve de comando e busca de um banco de dados por mapeamento para, enfim, a geração de uma imagem A entrada de texto aponta para um formato determinado, como estilo, a inclusão de dados técnicos, textura, luz, perspectiva e referências estéticas - de certo, termos fotográficos presentes na gramática visual comum - disseminadas em fóruns disponíveis na internet. Para alcançar o efeito imaginado na imagem que será gerada, há adição de palavras-chave e a síntese da imagem, que é operadora do seu surgimento, se desenvolve a partir de instruções textuais (Oppenlaender, 2023).
Em diversos fóruns online, entusiastas desenvolvem prompts maleáveis e passam a ser chamados de "prompt engineers" (Liu e Chilton, 2022) devido à natureza construtiva de estruturas fixadoras dessa área de pesquisa Desenvolve-se, aos poucos, manuais da área de pesquisa de Interação Humano-Computador (HCI) vinculada a formulações, por escrito, de modelos de interação. Observo, logo, o desenvolvimento ascendente de uma escrita voltada à criação de imagens por IA Formatos e dicas em fóruns se multiplicam, novos cursos de escrita são vendidos nas redes sociais, diversos artistas guardam os prompts que utilizam em segredo O pesquisador finlandês Jonas Oppenlaender apresenta no artigo A taxonomy of prompt modifiers for text-to-image generation (2023) na revista Behaviour & Information Technology um estudo de autoetnografia de três meses em fóruns e redes sociais compartilhando estruturas de prompt entre pares e desenvolvendo mais de 800 imagens. O pesquisador ainda aponta

para uma lacuna entre o entendimento de modificadores de prompt e desenvolve uma taxonomia de modificadores
A curva de aprendizado da engenharia imediata pode ser íngreme. Alguns modificadores de prompt usados na comunidade dos profissionais não são intuitivos e de olhar para um imagem, é impossível saber o prompt de entrada usado para sintetizar a imagem. Nas redes sociais, muitos artistas não compartilham suas instruções completas para suas obras de arte e é muitas vezes não fica claro como essas obras de arte foram criadas. Portanto, engenharia imediata é uma habilidade não intuitiva que é aprendida de extensa experimentação e tentativa e erro (Oppenlaender, 2023, tradução nossa9)
O acidente aparece como exercício proposital para desenvolver a imagem; afinal, é um exaustivo processo de tentativas10. Na primeira tabela desenvolvida na pesquisa auto etnográfica, Oppenlaender (2023) aponta para seis modificadores descritivos centrais: o tema central - o assunto, objeto, personagem; o estilo artístico - termos de estilos sedimentados da tradicional história da arte ou de um pintor ou artista específico; o impulsionador de qualidade11 - onde o comando ativa e estimula a imagem para parecer, por exemplo, hiper realista; a imagem referência - parâmetro de estrutura para a imagem a ser gerada; repetição de termos - a depender do quanto se deseja que um elemento seja destaque na imagem, repete-se o termo algumas vezes e, por fim, o sexto modificador percebido por Oppenlaender (2023): o termo mágico.
9 ³The learning curve of prompt engineering can be steep. Some prompt modifiers used within the community of practitioners are not intuitive and from looking at an image, it is impossible to tell the input prompt used to synthesise the image On social media, many artists do not share their complete prompts for their artworks and it is often not clear how these artworks were created Therefore, prompt engineering is a non-intuitive skill that is learned from extensive experimentation and trial and error ´
10 ³Prompt engineering is learned through iterative experimentation akin to µbrute-force trial and error¶´ (Liu and Chilton, 2022)
11 Termo que, na minha experiência, costuma ser hyperrealistic - ou referência à imagem fotográfica e que, acaba por gerar imagens mais próximas à gramática imagética de realidade, esse assunto ocupa uma centralidade nas discussões sobre imagens geradas por IA no momento Discussões acerca da regulação necessária por leis e regimentos de uso estão em evidência. Sobre esse assunto, indico a leitura dos textos da Profa Dra Teresa Ludemir, docente da UFPE Indico dois artigos: https://www cgi br/noticia/releases/usomais-planejado-estrategico-e-regulado-da-ia-no-brasil-e-consenso -na-ultima-sessao-principal-do-fib14/ (acesso em 22 jun 2024) e http://www abc org br/2023/11/09/abc-lancarecomendacoes-sobre-inteligencia-artificial-no-brasil/ (acesso em 22 jun 2024)

Interessa a esta pesquisa o elemento final da tabela, nomeado como termo mágico. Oppenlaender (2023) define este termo como ³semanticamente diferente do resto do prompt com a intenção de produzir resultados surpreendentes´ . Aqui, cabe sensações, por exemplo. É com os termos mágicos, apontados por Oppenlaender (2023) que a aleatoriedade pode fazer surgir acidentes imagéticos, ou ainda, imagens desvinculadas de escritas estruturadas de comandos determinantes de controle pela pessoa que escreve o prompt. Mais ainda, o que Opperlaender (2023) intitula termo mágico é o momento em que a pessoa que escreve o prompt tem para fluir em camadas de experiência estética, colocar em palavras sensações, emoções, aquilo que é inapreensível.
Os termos mágicos, portanto, introduzem um elemento de imprevisibilidade e surpresa no resultado das imagens, muitas vezes com a intenção de aumentar a variação no resultado Os termos mágicos podem se referir a termos que estão semanticamente distantes do assunto principal da sugestão, ou podem se referir a qualidades não visuais, como o sentido do tato (somatosensorial), o sentido da audição (auditivo), o sentido do olfato (olfatório) e sentido do paladar (gustativo) (por exemplo, 'alimentar a alma' e 'sentir o som') (Oppenlaender, 2023, tradução nossa)
Pode-se refazer a descrição, alterar alguma informação, modificar apenas algo específico na imagem gerada, se for o caso, até que ela gere uma versão mais próxima do que se havia imaginado Entre a imagem imaginada e a imagem gerada há um processo de aprendizado do usuário-autor12 com a interface técnica que permita a compreensão gradativa em ambas as vias, entre o sistema e a pessoa que escreve o prompt As descobertas ocorrem no processo de interação e os relatos se multiplicam. A artista e pesquisadora Giselle Beiguelman (2023), no texto Máquinas Companheiras, descreve a experiência:
Nos últimos dois anos, trabalhei muito com inteligência artificial em meus projetos artísticos Tem sido um enorme aprendizado Como não sou programadora, tive que me dispor a entendê-las Conhecer os seus limites e os meus Não posso dizer que eu e as IAs ficamos
12 Não há um consenso sobre a terminologia da pessoa que desenvolve imagens em conjunto com o software de IA Por enquanto, neste artigo, chamaremos de usuário-autor, em vez de desenvolvedor ou engenheiro de prompt, em uma tentativa de encontrar um termo em que o autor da escrita e da imagem imaginada não seja eclipsado por termos relacionados apenas ao software, mas que funcione em regime de certa parceria

amigas, mas conseguimos estabelecer regimes de parceria e laços provisórios que me reeducaram. Acima de tudo, me desafiando a pensar no machine learning como um exercício pedagógico da atenção, e não como mero treinamento para executar meus objetivos. Até porque as distâncias entre o que eu queria fazer e os resultados a que chegava eram imensas (e via de regra muito mais interessantes, porque me surpreendiam). (Beiguelman, 2023, p.79).
Com os modificadores de prompt e com a diversidade de fóruns online que dividem formatos de escrita, não é necessário ser programador para escrevê-los No próximo tópico, me aproximo da relação da imagem com a escrita do usuário-autor e da relação entre escrita-imagem que demarca secularmente as culturas ocidentalizadas
Por enquanto, é a distância entre o que se imagina, mediada pela escrita, e a imagem gerada que nos interessa. É no desencontro entre a imagem imaginada e a imagem gerada que o espaço de fazer-se entender e a aceitação de acidentes imagéticos provocados pelos ruídos de incomunicabilidade se torna método de criação. A escolha de uma escrita fluída, a partir de sensações, desloca o controle sobre o processo para uma zona de criação de tentativas, invés de reproduzir os marcadores disseminados, mediados por um sistema do qual uma forma de escrita disseminada de prompts estruturais Em vez de uma descrição de um prompt desenvolvido na concatenação de elementos como assunto, estilo e repetição, uma frase que contém dois elementos não passíveis de uma busca no banco de dados homogeneizante como ³mãe´ e ³sonho´ torna em superfície uma imagem que desvela o sintoma de uma irrepresentação por não alcance do sistema atual.
Observo os comandos disseminados em fóruns e em cursos online, assim como os artigos supracitados, como o de Oppenlaender (2023) e Liu e Chilton (2022). Encontro as seguintes orientações em comum: voz ativa, em vez de voz passiva; descrição a partir da perspectiva do espectador e não do criador - o que se vê na superfície da imagem é o que deve ser descrito, frases curtas sintéticas, reorganização para que a escrita seja concisa, estrutural e imperativa Imaginar se torna verbo de ação Os imaginadores (Flusser, 1985, p.43), produtores de tecnoimagens, operam máquinas

que não entendem seu funcionamento, mas que, ao apertar botões, concretizam o abstrato como uma capacidade nova que:
foi apenas com a invenção de aparelhos produtores de tecno-imagens que adquirimos tal capacidade; que as gerações anteriores não podiam sequer imaginar o que o termo imaginar significa; que estamos vivendo em um mundo imaginário, no mundo das fotografias, dos filmes, do vídeo, de hologramas, mundo radicalmente inimaginável para as gerações precedentes; que esta nossa imaginação ao quadrado (µimaginação¶), essa nossa capacidade de olhar o universo pontual de distância superficial a fim de torná-lo concreto, é emergência de nível de consciência novo (Flusser, 1985, p 41-42)
De certo, a capacidade de imaginar está em redemoinho com a capacidade de comunicação e, no caso da imagem que centraliza a discussão nestas páginas, a escrita nãodescritiva, mas sensível de um relato de sonho.
3. Escrita e imagem - o latente iconoclasmo
Quando Marie-José Mondzain (2009, p 15), quando se aproxima da imagem, é importante se voltar para a história da palavra e nos gestos de quem produz palavra. "Pois a imagem não existe senão no fio dos gestos e das palavras, tanto daqueles que a qualificam e a constroem, como daqueles que a desqualificam e a destroem" (Mondzain, 2009, p 16)
Debruçar-se sobre a incontornável dualidade do poder da imagem.
Há mais de dez séculos, a imagem é uma questão passional, filosófica e política A querela da imagem se perpetua ao longo destes séculos por, segundo Machado (2001), quatro identificáveis iconoclasmos, sendo o último ciclo, o que se inaugura no século XXI Como primeiro iconoclasmo, o interdito da imagem na cultura judaico-cristã e na tradição grega. Em suma, Platão considera a imagem como aparência, imitação da superfície, simulacro [eidolon] de onde deriva a palavra ídolo Uma representação falsa, destituída de realidade, "como as visões do sonho e do delírio" (Machado, p.9); a escrita seria, logos, o oposto O segundo iconoclasmo ocorre no Império Bizantino A pesquisadora Marie-José Mondzain se debruça em sua tese de doutorado sobre o iconoclasmo bizantino que culmina no livro Imagem, ícone e

economia (2015). Pela doutrina e pela economia [eikon e oikonomia], as questões se apresentam pelos textos e imagens históricas do período De forma central, os tópicos da mimese, do traço, da imagem como voz imaginal, como transfiguração da forma ³original´ , da imagem natural distinta da imagem artificial (2015, p. 17).
A terceira investida ocorre no século XVI, na reforma protestante, com destruição dos ícones, a perseguição dos adeptos, a desconfiança sobre a imagem, acusada de enganação, de falseamento do divino Arlindo Machado (2001) alerta, ainda, que os três ciclos se ancoram na crença de superioridade e transcendência da palavra, na escrita, como uma espécie de "literolatria". A verdade, para os iconoclastas, se dá na palavra (2001, p.22).
Não me cabe aqui um retorno aos ciclos detalhadamente a fim de revisar pontos específicos de cada um. Destaco os padrões que se perpetuam: a imagem designada como mimese, irrealidade, falseamento, voz imaginal, artifício/artificial; definições que atravessam a história de um mundo ocidentalizado, e de tantos mundos forçadamente ocidentalizados em ciclos de constante colonizações Machado (2001) diz que ³a imagem, tantas vezes acusada de banal, epidérmica, imprecisa e presa à singularidade das coisas, quando não enganadora, ilusionista e diabólica´ (2001.p.24). O autor ainda afirma que a imagem, ao longos dos séculos, ³permanece condenada à epiderme das coisas: ela sempre é a representação das singularidades e nunca pode atingir os níveis de abstração e generalização alcançados pela palavra escrita" (2001 p 12)
O quarto iconoclasmo, descrito por Machado (2001), se desenha na retomada da crítica de simulacro, e no plano filosófico, a crença cega na palavra escrita como fonte substancial da verdade A partir de uma crítica a Frederic Jameson, Jean Baudrillard e Guy Debord, Machado (2001, p.25) discorda da percepção de soberania das imagens: a palavra escrita está presente como jamais esteve
Por fim, ao ponto que destaco por dialogar diretamente com a dinâmica central da pesquisa apresentada nestas páginas, Machado (2001), coloca que a escrita não pode se opor às imagens, pois nasce de dentro delas, no segundo milênio a.C. A primeira forma de escrita é iconográfica, é um recorte de imagens advindo de um impulso conceitual (2001, p.22). Destarte, Machado (2001) se aproxima de Flusser (1985), ao

descrever um ³rasgo das imagens´ que abre visão para os processos invisíveis no interior e assim, desmembra-se em unidades separadas que criam sentidos e conceitos em si mesmo O nascimento da escrita é por sínteses imagéticas e iconográficas. Machado (2001, p.25) destaca características do "rasgamento das imagens" para tornar-se escrita: linhas sequenciais que criam linearidade e o desmembramento de elementos da imagem que criam conceitos13. Assim, a estrutura interna do pensamento por escrita das coisas e dos fenômenos é concatenada em movimentos lineares - começo, meio e fim, de maneira a criar uma consciência da passagem do tempo e da sequencialidade dos acontecimentos - e conceituais - formas de condensar em uma síntese.
Não obstante, teorias da imagem, intercaladas pela história da arte e pela comunicação, nos últimos decênios do século XX, se fazem entre pólos de redenção da imagem Os fluxos de iconoclasmos não se dão sem respostas em defesa da imagem, pelo contrário, a imagem como fluxo passional pulsante não passa ilesa. Cito aqui dois movimentos perceptíveis dentro de um universo polifônico O primeiro parte da virada pictórica de W.T.J. Mitchell14 que aponta o esgotamento de um pensamento linguístico estruturalista para com as imagens, buscando uma mutação no modo de presença delas, ³não mais uma justiça dada pelo observador, mas toda uma vingança exercida pelas novas potências da imagem contra todos aqueles que negaram seus poderes´ (2015, p.194). Quanto a essa corrente, Jacques Rancière, em ³As imagens querem viver?´ nos aponta duas críticas: na primeira delas, devemos ³dar às imagens sua consistência própria justamente lhes dar a consistência de quase-corpo que são mais que ilusões e menos que organismos vivos´ (2015, p 200) e a segunda que torna para um pensamento antropológico, é que nós, fabricantes de imagens que querem fazer alguma coisa, mas talvez eles possam fazer justamente porque as imagens, elas mesmas, não querem nada E se amamos vê-las, é pela capacidade que temos de lhes emprestar ou de lhes subtrair ao mesmo tempo vida e vontade (Ranciere, 2015, p 200)
13 Há um belo exemplo da língua chinesa e seus ideogramas, sobre o ideograma de ³amigo´ que combina o pictograma de cão - fidelidade e o pictograma da mão direita - cumprimento o amigo (2001, p 29)
14 MITCHELL, W. T.J. Picture Theory. Chicago: Chicago University Press, 1994. MITCHELL, W. T.J. What do pictures want? Chicago: CChicago University Press, 2005

O segundo movimento que gostaria de destacar desloca o pensamento sobre imagem do antropocentrismo. Aproximo-me pelo pensamento de Emmanuelle Coccia, dos seres sensíveis, assim como do movimento articulado desde a década de 1990, vinculados à teoria feminista, como Donna Haraway, Rosi Braidotti e Anna Tsing Os iconoclastas não são a única força e forma de lidar com as imagens que estão no mundo.
Aponto esses movimentos como síntese de um dilema que se movimenta e ganha camadas e nuances há séculos e que agora, se refina, com a entrada de dispositivos, outros elementos, na criação das imagens: o software de geração por IA. Não pretendo nessas poucas linhas alcançar significamente todas as relações de afastamento e aproximação da escrita e da imagem ao longo dos dez séculos de iconoclasmos, mas apontar para as críticas repetidas e o retorno fundante do olhar vezes desconfiado sobre a imagem, vezes imputado de características humanizantes, vezes aterrorizado a partir da paixão que dela sente, vezes como seres sensíveis e como parceiras ativas de criação Em outro polo, a escrita, como detentora da verdade que funda parte significante do pensamento ocidentalizado Trago essas questões no intuito de despirmo-nos, juntos, da dualidade e de aproximarmo-nos da imagem como o entre-coisas (Mondzain, 2009, p 11), pensar sua natureza metamórfica, para, então, buscar a distância entre o que se escreve no prompt e o que se mostra como imagem gerada
Após essa breve digressão, volto para a escrita de prompt, pois o desmembramento de elementos, o ³desfiamento das imagens´ , para criar conceitos (Machado, 2001, p.25), resvala nos direcionamentos apontados nos artigos sobre escrita de prompts e também nos fóruns online abertos: ser sintético, encontrar o assunto. Mais que isso: conciso, imperativo e estrutural A síntese é um comando decisivo na escrita da criação da imagem por softwares geradores por IA. Já a linearidade e as frases curtas se aproximam também, mas longe da concatenação de começo, meio e fim Percebo na

escrita de prompt comandos de hierarquia da superfície, da qual se privilegia, por exemplo, a repetição do elemento que se deseja mais presente, em vez de uma estrutura causal ou formalista de sujeito, verbo e particípio. É uma escrita não-narrativa, mas fortemente hierárquica, com destaque para os elementos visuais que se deseja tornar visível.
Ao mesmo tempo que todos os olhares se voltam para as imagens geradas por IA, em sua transparência e opacidade, há perenes olhares voltados para a forma escrita que gera as imagens Sobre escrita e formas de criar imagens, Flusser (1985) teoriza, em O universo das imagens técnicas - Elogio da superficialidade, os imaginadores como seres que trabalham na superfície imagética. Veja, para Flusser (1985), a forma de fazer tecnoimagens não é a transcendência da máquina, mas um gesto que ocorre dentro do aparelho complexo, do qual as intenções visam o aparelho de forma que os imaginadores "provocarão processos inconcebíveis" e "as imagens que imaginaram serão produzidas automaticamente " Quanto à escrita, a ressalva é feita por Flusser (1985) da seguinte maneira:
Ao contrário do escriba, os imaginadores não têm visão profunda daquilo que fazem, e nem precisam de tal visão profunda Foram emancipados de toda profundidade pelos aparelhos, e portanto libertados para a superficialidade O escriba está obrigado a interessar-se por letras, pelas regras que ordenam tais letras, e sua criatividade consiste, em grande parte, no esforço de manejar tais regras ortográficas O imaginador pode desprezar os pontos e as regras que ordenam tais pontos em imagens O aparelho faz tudo isso automaticamente Tudo que o imaginador precisa fazer é imaginar as imagens e obrigar o aparelho a produzi-las (Flusser, 1985, p 43)
No comparativo, as regras de ordenação e de manejo de regras não são mais imperativas, podem ser desprezadas pois há o automatismo. Por conta da opacidade do processo, Flusser (1985, p 44) fala de uma condenação à superficialidade, observável na repetição de termo e também na descrição do visível estruturado, e uma emancipação conjunta ao tornar possível "imagens nunca vistas antes". Quanto à forma de codificar, Chatonsky (2024) recentemente, em março de 2024, publicou em seu site um texto

chamado Confusion, que reflete sobre as discussões acerca da geração de imagens por Inteligência Artificial Um dos pontos levantados por Chatonsky é que:
A consequência mais visível desta reviravolta na ciência da computação, que tem funcionado como hipótese desde o seu início, é a democratização da codificação, uma vez que agora podemos usar a indução estatística para criar dedução computacional, ou seja, código com IA Não precisamos mais ter o conhecimento do cientista da computação que sabia como traduzir um projeto mundial em código Podemos usar códigos anteriores processados estatisticamente para criar novos (Chatonsky, 2024, tradução nossa15)
Entre o vislumbre de Flusser (1985) sobre os imaginadores e os pensamentos compartilhados de Chatonsky (2024), detenho-me a perceber que o código, antes guardião da linguagem de automação, não é imperativo como antes. Divide-se prompts, fórmulas e formas de escrever inputs nos softwares. Já a democratização da escrita dos prompts esbarra na estrutura vigente do capitalismo acelerado: mesmo que haja acesso a comunidades que compartilham em fóruns online e manuais criados por pesquisadores como (Opperlaender, 2023) e Liu e Chilton (2022), o processo criativo de muitos artistas e engenheiros de prompt estão sobre sigilo, quase como uma nova maneira de manter segredos criativos sob uma técnica ainda em desenvolvimento
A primazia da técnica imagética vinculada à benquista criatividade - relembra Santaella (2023, p.8) que a ideia de criatividade pura é originária da autonomia individual consolidada na modernidade, é território também da escrita que se desdobra em primeiro, de um conhecimento de verbetes conceituais sintetizantes seja de uma escola da história da arte, seja sobre a visualidade estética de um artista proeminente Junto aos manuais e fóruns online, desenvolvem-se index ³estéticos´16 para que os usuários encontrem a visualidade superficial desejada do que imaginam e provocam o achatamento em superfície, quase como uma visualidade não-opaca, de regimes
15 ³The most visible consequence of this upheaval in computer science, which has been at work as a hypothesis since its inception, is the democratization of coding, since we can now use statistical induction to create computer deduction, i.e. code with an AI. We no longer need to have the knowledge of the computer scientist who used to know how to translate a world project into code We can use statistically processed past codes to create new ones ´ (Opperlaender, 2023)
16 Como exemplo, aponto o seguinte index: https://cari.institute/aesthetics. Acesso em: 18 jun. 2024

estéticos anteriores. Em segundo, de uma estruturação não-linear mas hierárquica em formatos pré-moldados de escrita que se popularizam e se tornam fórmulas de acesso aos softwares. Entre testes, acidentes e aprendizados para que, se torne visível, na distância entre o que se deseja e como o comando é respondido, na superficialidade translúcida das imagens de IA
4. Possibilidades fruitivas ou considerações finais
No ano de 2023, um dossiê intitulado Inteligência Artificial: questões éticas e estéticas - Parte 1 (2023), pela revista Aurora, da PUC SP, foi publicado com textos de pesquisadores sobre o assunto IAs Generativas: a importância dos comandos para texto e imagem de Anderson Röhe e Lucia Santaella é o artigo que se aproxima das elucubrações que apresento aqui Pelo relato da experiência de usuário entre softwares de entradas por escrita-escrita e escrita-imagem, os pesquisadores observam que "a IA generativa de imagem requer um certo refinamento, bagagem cultural, conhecimento prévio e/ou domínio de certas técnicas para se alcançar o mesmo resultado esperado" (Röhe, Santaella, 2023, p.6). As ponderações críticas do artigo desenvolvem o resultado a partir da pessoa que opera o sistema e sua capacidade criativa até o nível de refinamento, em inúmeras tentativas
Retomo a imagem inicial por conta da ausência de refinamento do processo de Minha mãe esteve lá no meu sonho (2021), gerada por Gregory Chatonsky O não identificável rosto de mãe em um sonho, espaço também não determinável. Tornar a frase Minha mãe esteve lá no meu sonho em uma superfície visível causa um acidente em que se desnovela uma experiência estética de estranhamento, dividida aqui, nas primeiras páginas É a partir do sintoma que busquei as questões sobre escrita de prompt, e é, a partir do sintoma, que encontrei a possibilidade criativa de uma distância, pela escrita, e na qual uma zona de criação fluida pode gerar imagens que interessem o autor-usuário, para Opperlaender (2023) se trata de um termo mágico Dentro desta zona de criação que opera como intencionalidade de produção de imagens que fogem ao

controle hierárquico e sintetizante da escrita de prompts, no exercício de qualidades somatosensoriais e/ou abstratas Ainda, destaco a superficialidade na escolha das visualidades ³estéticas´ na escrita de prompt como sintoma de achatamento de percepções da imagem, assim como uma reorganização de escrita para comunicação pessoa-software. Imagens de IA generativas, ao contrário, são geradas intersemioticamente a partir de comandos verbais que acionam gigantescos bancos de dados de imagens extraídas tanto quanto possível do registro existente da história visual humana Portanto, o resultado obtido traz à tona gêneros, estilos e processos do passado Há aí, portanto, um interessante jogo de passado e presente (Santaella, 2023, p 10)
Há um interessante jogo temporal, a partir de uma não-presentificação verbal que causa acidentes visuais Da frase ³ my mother was there in my dream´ , o tempo do verbo ³ was ´ , estar no passado, para retornar à imagem Escrever no passado ou no futuro, difere do que os manuais de prompt engineers recomendam, de uma voz ativa, no presente - assim como uma escrita não-descritiva dos elementos visíveis, e sim, um relato de sonho condensado em uma pequena frase.
Ao final desse pensamento, articulado em poucas páginas, ressalto que quando um novo formato de criação tecnológico é incorporado a fazeres artísticos, discussões acerca de criatividade e autoria se intensificam17. Variações de posições sobre o assunto levam à intensificação de estudos sobre os estatutos que rodeiam as imagens geradas por IA; não faltam ângulos, percepções, adoradores, negacionistas, realistas. Aqui, me detive a refletir sobre como a escrita e a imagem imbricam entre si, pois a imagem gerada por software de IA está vinculada a uma forma de escrever. No momento em que estamos, uma escrita fluída e desviante das regras de prompt desencadeia imagens
17 Se me detenho a citar uma ocorrência anterior, marcada nos estudos de imagem, destaco o texto de Charles Baudelaire contra a fotografia. Em O público moderno e a fotografia, Carta ao Sr. Diretor da Revue Française sobre o Salão de 1859, traduzido por Ronaldo Entler, em: http://www.faap.br/revista faap/revista facom/facom 17/entler.pdf (acesso em 22 jun. 2024). Baudelaire discorre que "Se for permitido à fotografia substituir a arte em qualquer uma de suas funções, ela logo será totalmente suplantada e corrompida, graças à aliança natural que encontrará na tolice da multidão "

acidentais. Santaella (2023, p.11) aponta que deve-se considerar as imagens de IA como arte de traduções intersemióticas, pois estão sob o jugo dos resultados obtidos pelo autorusuário.
Sobretudo, trata-se de traduções intersemióticas do verbo para a imagem que dependem da paciência e insistência do artista até que seu desejo de criação seja cumprido O fato de ser uma máquina responsiva ao desejo, ela não rouba, ao contrário, obedece ao desejo criador cuja autonomia pertence tão só e apenas ao artista. (Santaella, 2023, p.11)
De certo, é na distância entre o que se imagina e o que se torna visível na superfície que o processo ocorre, permeado também pela escrita, além das limitações impostas pelas empresas de big tech que controlam, limitam e determinam o processo de aprendizagem dos softwares disponíveis ao público. Nos aceites de acidentes, superfícies visualmente desconfortáveis podem adquirir espaço de visualização e de invenção É nos deslocamentos de escolha do que compartilhar, já que quem escreve o prompt escolhe o que escreve, escolhe-se também abrir espaços para uma imagem imaginada antes nunca vista
ALLOA, Emmanuel (Org ) Pensar a imagem Belo Horizonte: Autêntica, 2015
BEIGUELMAN, Giselle Máquinas companheiras Morel , n 7, p 76-86, 2023Tradução . . Acesso em: 11 jun. 2024.
CHONTANSKY, Gregory. MEMORIES Center : The Dreaming Machine v.2. [S. l.], 1 jun. 2021. Disponível em: http://chatonsky.net/dreaming-2/. Acesso em: 11 jun. 2024.
CHONTANSKY, Gregory Confusion de l¶IA / AI confusion França, 1 mar 2024
Disponível em: http://chatonsky net/confusion/ Acesso em: 11 jun 2024
DIDI-HUBERMAN, Georges O que vemos e o que nos olha São Paulo: Editora 34, 2002
. Povo em Lágrimas, Povo em armas. São Paulo: N-1.
2021 KLEIN, Alberto. Destruindo imagens: configurações midiáticas do iconoclasmo. E-compós, Brasília, v 12, n 2, mai/ago 2009 Disponível em
<http://www e-compos org br>
FLUSSER, Vilém Elogio da Superficialidade: O universo da imagens técnicas São Paulo: Annablume, 1985
MACHADO, Arlindo. O quarto iconoclasmo e outros ensaios hereges. Rio de Janeiro: Rios Ambiciosos, 2001.
Liu, Vivian, and Lydia B Chilton. 2022. Design Guidelines for Prompt Engineering Textto-Image Generative Models In Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human

Factors in Computing Systems (CHI µ22). Association for Computing Machinery, New York, NY, Article 384, 23 pages https://doi org/10 1145/3491102 3501825
MANOVICH, Lev AI-aesthetics and the Anthropocentric Myth of Creativity 2022 Disponível em: <http://manovich.net/index.php/projects/ai-aesthetics-and-the-anthropocentric-myth-ofcreativity > .
MONDZAIN, Marie-José A imagem pode matar? Lisboa: Vega Passagens, 2009 Imagem, ícone, economia: as fontes bizantinas do imaginário contemporâneo Rio de Janeiro: Contraponto/ Museu de Arte do Rio, 2013 . Homo spectator: ver fazer ver. Lisboa: Orfeu Negro, 2015.
MORIN, Edgar. O cinema ou o homem imaginário: Ensaio de antropologia. Lisboa: Moraes Editores, 1970.
Ciência com consciência Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 8 ed, 2005 Oppenlaender, J (2023) A taxonomy of prompt modifiers for text-to-image generation Behaviour & Information Technology, 1 14. https://doi.org/10.1080/0144929X.2023.2286532
Qiao, Han, Vivian Liu, and Lydia Chilton. 2022. ³Initial Images: Using Image Prompts to Improve Subject Representation in Multimodal AI Generated Art ´ In Creativity and Cognition (C&C µ22), 15 28 New York, NY: Association for Computing Machinery https://doi org/10 1145/3527927 3532792
SANTAELLA, Lucia. Pensar a Inteligência Artificial: Cultura de plataforma e desafios à criatividade. RIBEIRO, Daniel Melo; ALZAMORA, Geane (Orgs.) Belo Horizonte: Pensar a Inteligência Artificial: Cultura de plataforma e desafios à criatividade. Selo PPGCOM UFMG, 2023 em: <https://seloppgcomufmg com br/publicacao/pensar-ainteligencia-artificial-cultura-de-plataforma-e-desafios-a-criatividade/ >

SANTAELLA, Lúcia; RÖHE, Anderson. IAs Generativas: a importância dos comandos para texto e imagem. V. 16 n. 47 (2023): Dossiê Inteligência Artificial: questões éticas e estéticas - Parte 1, [s l ], 16 out 2023
SONTAG, Susan Contra a Interpretação e outros ensaios São Paulo: Cia das Letras, 2020a

Fato ou Fake: A obra ³Mercado da Fome´ e suas Disputas de Realidade1
Fact or Fake: The Work "Hunger Market" and Its Reality
Marianna Ferreira JORGE2
Resumo: Este trabalho explora o estatuto do ³real´ e do ³verdadeiro´ na atualidade, a partir do ensaio fotográfico ³Mercado da Fome´ , de Flávio Costa, bem como das repercussões da sua publicação numa rede social em outubro de 2021. O episódio é sintomático de certas transformações que estão afetando o ³solo moral´ das sociedades ocidentais, em plena expansão das ³guerras culturais´ , ³polarizações ideológicas´ , negacionismos científicos, ³pós-verdade´ e fakes news que circulam pelas ³bolhas´ da internet
Palavras-chave: Fome; Solo moral; Pós-verdade
Abstract: This work questions the status of the "real" and the "true" in contemporary times, based on the photo essay "Hunger Market" by Flávio Costa, as well as the repercussions of its publication on a social network in October 2021. The episode is symptomatic of certain transformations that are affecting the "moral ground" of Western societies, amidst the expansion of "culture wars," "ideological polarizations," scientific denialism, "post-truth," and fake news circulating through internet "bubbles."
Keywords: Hunger; Moral ground; Post-truth
1 Trabalho apresentado ao GT "Tecnologia, Fotografia e Pensamento" do Encontro Imagem + Política + Estética: territórios fluidos do contemporâneo, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), RecifePE, 05 a 07 de junho de 2024
2 Marianna Ferreira Jorge é professora da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ECO/UFRJ). Mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense (PPGCOM-UFF) Email: marianna ferreira@eco ufrj br, Lattes: http://lattes.cnpq.br/8197950877532504.

Introdução
³A dor da fome´ . Foi assim que o jornal Extra, do Rio de Janeiro, intitulou a matéria em 28 de setembro de 2021, trazendo uma imagem chocante em sua capa Na fotografia, três homens negros estão coletando ossos que, posteriormente, lhes serviriam de refeição
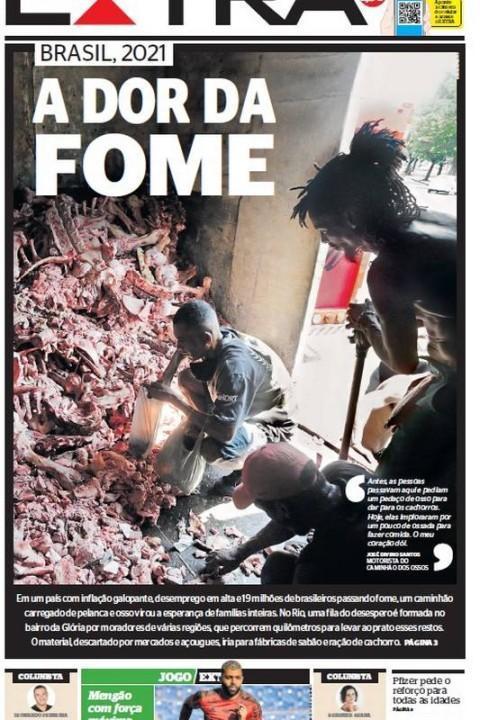
Capa do Jornal Extra no dia 28 de setembro de 2021 por Domingos Peixoto
A fotografia é acompanhada da seguinte chamada:
Em um país com inflação galopante, desemprego em alta e 19 milhões de brasileiros passando fome, um caminhão carregado de pelanca e osso virou a esperança de famílias inteiras No Rio, uma fila do desespero é formada no bairro da Glória por moradores de várias regiões, que percorrem quilômetros para levar ao prato esses restos. O

material, descartado por mercados e açougues, iria para as fábricas de sabão e ração para cachorro
Dois anos após ter saído do Mapa da Fome da ONU3, em 2014, a insegurança alimentar voltou a ser uma questão crítica no Brasil. Com o desmonte das políticas públicas após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 2016, o país reacendeu o alerta da fome que assolava parte da população Segundo levantamento realizado pelo IBGE entre 2017 e 2018, 10,3 milhões de brasileiros enfrentavam condições alimentares precárias O problema se agravou ainda mais durante a pandemia de Covid-19 em 2020, como constatado no relatório do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, divulgado em junho de 2021. O documento revelou que dezenove milhões de brasileiros estavam em estado de insegurança alimentar grave naquele ano.
Contudo, embora a crise sanitária tenha intensificado a situação, a expansão da pobreza não pode ser atribuída apenas a ela. Em Geografia da Fome, de 1946, o cientista social Josué de Castro já constatava que a escassez alimentar não se restringe a catástrofes naturais ou ambientais, mas está intrinsecamente ligada a questões políticas e, especialmente, à desigualdade social. Apesar dos dados alarmantes acima citados e do evidente abismo social e econômico no Brasil, o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, insistia em negar a existência da fome no país. Em setembro de 2019, durante uma coletiva de imprensa internacional, ele declarou o seguinte:
Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira Passa-se mal, não come bem Aí eu concordo Agora passar fome, não Você não vê gente pobre pelas ruas com físico esquelético como a gente vê em alguns outros países por aí pelo mundo 4
3 Segundo a FAO - Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, um país entra no Mapa da Fome quando mais de 2,5% de sua população enfrentam falta crônica de alimentos.
4 Em agosto de 2022, após os dois inquéritos divulgados e diversas pesquisas, Bolsonaro reforçou o argumento em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan.

As afirmações também se estenderam a membros do seu governo, num cinismo que remonta à famosa frase atribuída à rainha Maria Antonieta: ³Se não têm pão, que comam brioches!´ Em junho de 2021, o Ministro da Fazenda Paulo Guedes, defendeu que os restos de alimentos da classe média deveriam ser disponibilizados aos famintos.
Logo após essa polêmica declaração e a divulgação da manchete ³A dor da fome´ pelo jornal Extra, outra reportagem ganhou destaque na mídia. A matéria denunciava que supermercados estavam vendendo ossos em vez de disponibilizá-los gratuitamente Embora a venda de ossos seja permitida por lei, a prática é incomum, sobretudo por se tratar de itens que seriam descartados. Com o alto preço das proteínas animais, os resíduos ósseos passaram a compor a dieta de muitas famílias brasileiras e logo foram explorados mercadologicamente. Uma reportagem veiculada no jornal Folha de S Paulo, naquele mesmo ano, mostrou um supermercado de Fortaleza, no Ceará, com a oferta de ³ossos de primeira´ e ³ossos de segunda´ , diferenciando seus valores de acordo com a menor ou maior presença de restos de carne neles.
Os exemplos são diversos e o que se pode constatar é que a circulação dessas reportagens sobre a fome criam uma ³visibilidade do mundo´ , e do próprio Brasil, por meio das imagens (Mauad, 2018) Folha de S Paulo, O Globo, Fantástico, entre outros dos maiores portais de notícia nacionais, denunciavam os preocupantes índices de insegurança alimentar e exibiam imagens comoventes da população brasileira que se via forçada a recorrer aos restos descartados, sendo deixada à própria sorte na luta por alimentos. Esses acontecimentos repercutiram nas redes sociais da internet, que se tornaram palco de denúncias e acusações de todos os tipos, circulando entre milhares (e até milhões) de indivíduos, ³liberando muitas vozes outrora amordaçadas´ (Sibilia, 2023, p. 328). Opiniões variadas começaram a surgir, desde indignação e tristeza até desconfiança quanto à veracidade do que estava sendo retratado
Não por acaso, naquele mesmo ano, em outubro de 2021, o Twitter (atualmente X) registrou um novo pico de compartilhamento de imagens relacionadas à fome As fotos mostravam restos de alimentos embalados em bandejas de supermercado, com

preços que beiravam R$2 As etiquetas incluíam descrições como ³sobra de hamburg´ , ³carcaça de galeto na brasa´ , ³restos de melancia s sement´ e ³meia fatia de pizza´ , indicando a validade e a origem dos produtos, que já haviam sido consumidos




³Mercado da Fome´ , Flávio Costa, 2021
As imagens, capturadas pelo fotógrafo Flávio Costa, foram inicialmente publicadas sem legenda. Minutos após se tornarem virais, ele adicionou o seguinte comentário abaixo da foto: ³Depois que vi ossos e carcaças de peixe sendo vendidos ao invés de serem doados, resolvi criar uma série de fotografias sobre o assunto Essa é a primeira delas. O absurdo é tanto que, sem legenda, a imagem é crível´ . Ao divulgar as fotos isoladas, sem texto algum que ancorasse seu sentido, a intenção do autor foi chocar e pregar uma armadilha. Essas imagens remetiam a outras recentemente veiculadas na mídia, que retratavam pessoas revirando lixo em busca de comida, ou adquirindo ossos e carcaças em açougues
Em poucas horas, a postagem do artista acumulou mais de um milhão de visualizações Muitos acreditaram que as suas fotos também eram factuais e se

indignaram, perguntando pelo supermercado responsável por um ato tão cínico, enquanto lamentavam o agravamento da fome no Brasil. Outros, porém, perceberam que se tratava de montagens com fins artísticos e louvaram a exatidão com que a obra retratava a real situação do país. Um comentário exemplificou essa confusão: ³Sorry! Não sabia que era uma peça publicitária! vou deletar! HAHAHA´
À medida que as imagens começaram a circular por outras redes sociais, acompanhadas por uma variedade de comentários e interpretações, os jornais intervieram para esclarecer que se tratavam de ³fake´: isto é, não eram registros de alimentos vendidos em lojas, mas sim obras artísticas. Um exemplo é a chamada no Jornal O Globo (2021): ³É #FAKE que foto mostre carcaça de galeto assado à venda por R$ 1,90 em supermercado´ . A revelação suscitou todo um leque de novas reações: da revolta pela fraude que o autor teria cometido ao publicar as imagens sem esclarecer sua condição fictícia, ao alívio por não se tratar de fotografias documentais, passando por elogios e críticas à qualidade da obra. Essa situação ilustra como a arte também foi reduzida à dicotomia ³fato´ ou ³fake´ na contemporaneidade, sendo julgada sob o prisma da ³verdade factual´ e das ³fake news´ . A associação direta entre arte e publicidade, como revelado no comentário citado, nos dá pistas de como o valor da arte pode ser facilmente desvalorizado pela suspeita de ficção ou mercantilização
A partir do grupo de quatro imagens do ³Mercado da Fome´ e das reações que elas causaram, este artigo analisa a demanda pela ³realidade´ (Sibillia, 2016; Jaguaribe, 2009) contida nesta obra que, apesar de ser ficcional, problematiza o aumento da fome no Brasil em plena pandemia Portanto, o estudo deste caso pode ser fértil para investigar o estatuto do real (e do falso) na contemporaneidade. A ânsia por constatar se as fotografias eram ³fato ou fake´ se insere no contexto de fortes mudanças nos valores e crenças vigentes; e, sobretudo, na crise dos critérios que costumavam ser consensuais para avaliar tanto a veracidade das informações como o papel da arte. Essas transformações históricas possibilitam a emergência deste tipo de dilema, embora a complexidade do quadro ainda precise ser compreendida. Afinal, por que submeter a

arte ao mesmo crivo das reportagens ou das informações que circulam na internet? Ou, ainda, por que classificar como fake ou falsa uma interpretação artística da realidade? O que está em jogo nessa busca pela verdade?
1 A obra ³Mercado da Fome´ e as disputas de construção da realidade
O maior destaque das fotografias do ³Mercado da Fome´ é sua ambiguidade com a realidade Elas evocam cenas de pessoas coletando ossos, como visto no Jornal Extra, e dos supermercados que passaram a vendê-los, mas também ressaltam a dura realidade de muitos brasileiros que não têm acesso à alimentação adequada, suscitando uma gama de afetos. Essas imagens, sejam elas ficcionais ou não, remetem aos corpos desnutridos não apenas como um recorte do mundo visível, mas como uma poderosa representação da fome Funcionam como rastros que apontam para lacunas e sintomas cruciais na tentativa de diagnosticar o contemporâneo (Huberman, 2012).
Para compreender mais a fundo essa potência de personificar e evocar a realidade que as fotos provocam, podemos recorrer às "estéticas do realismo". Em O Choque do Real, Beatriz Jaguaribe descreve esse conceito como o desejo de ³captar as maneiras cotidianas pelas quais os indivíduos expressam seus dilemas existenciais por meio de experiências subjetivas e sociais que estão em circulação nas montagens da realidade social´ (2007, p 15) A autora também invoca o conceito de ³efeito do real´ de Roland Barthes, que analisa a persuasão da arte realista do século XIX. Ela destaca que o ³efeito do real´ não deve ser acionado somente como mimesis, mas também como um modo de mascarar os próprios processos de ficcionalização, estimulando o leitorespectador a realizar uma imersão no mundo da representação (Jaguaribe, 2007). Ao aplicar essa proposta à contemporaneidade, Jaguaribe (2007) interpreta a fotografia como a principal ferramenta do ³efeito do real´ . Quando incorporada pelos meios de comunicação e pelas redes sociais da internet, a fotografia se integra ao cotidiano de

milhares de pessoas, transformando-se em código interpretativo do mundo e auxiliando na construção de narrativas pessoais (Jaguaribe, 2007).
Dessa forma, ao divulgar as imagens do ³Mercado da Fome´ , o fotógrafo tensionou as fronteiras entre real e ficção. No entanto, ao ler os comentários sobre a dramaticidade das cenas, que poderiam ser reais, é perceptível uma busca pela autenticidade e pela experiência vivida, não encenada, bem como pela espetacularização dessa experiência (Sibillia, 2008). Quando os usuários do Twitter descobrem que é uma obra artística e não uma fotografia de um supermercado, parecem expressar certa decepção. O texto que acompanha a imagem, explicando que é um ensaio, perde sua força e não recebe destaque O que realmente ganha repercussão e é amplamente compartilhado no Twitter ou em outras redes sociais são apenas as imagens, desprovidas de contexto ou explicação.
Esta demanda pelo ³verdadeiramente real´ e o excesso de espetacularização da realidade é algo muito particular do momento histórico que estamos vivendo, com a vida cotidiana mediada por recursos midiáticos e as subjetividades cada vez mais compatíveis com as tecnologias digitais, que propõem e estimulam determinados modos de viver (Sibillia, 2016) Assim, o realismo se desenvolve no contemporâneo e ganha novos formatos que imperam em nossa sociedade, tornando a exigência pela realidade uma demanda crescente na cultura global mediada pelos meios de comunicação.
Diante desse cenário, surge a necessidade de compreender o contexto dessas imagens, questionando se elas refletem uma experiência vivida que autentique o problema da fome no Brasil Sem essa confirmação, seu impacto tende a se enfraquecer Embora seja importante esclarecer que se trata de um ensaio fotográfico ficcional, rotulá-las como ³fake´ pode minar sua eficácia como denúncia de uma realidade inquietante, esvaziando o papel da arte como uma ferramenta crítica capaz de provocar mudanças profundas, como veremos a seguir.
2 A "Vontade de Verdade" e as reações hipócritas e cínicas na mídia

No final do século XIX, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche denunciou as armadilhas da ³vontade de verdade´ que dominava o mundo moderno, pautado pela supremacia da ciência, com seus universalismos fabricados e sua busca incessante por certezas A filosofia nietzschiana visava a realizar uma crítica radical do próprio ideal de verdade e da superioridade da verdade sobre a falsidade.
Nietzsche argumentava que todo significado é construído e que os fatos não possuem valor intrínseco, sendo eles criados e carregados de interpretações morais Em vez de buscar o ³estatuto da verdade´ na ciência, na razão, na moral ou na crença metafísica, o movimento genealógico proposto pelo filósofo nos incita a questionar (e avaliar) o ³valor da verdade´ (e da mentira) e a força do seu conhecimento, sempre tendo a vida como critério central. Com efeito, em cada gesto, discurso ou criação incluindo a criação artística , não devemos buscar por uma essência verdadeira, mas sim avaliar a sua capacidade de afirmar ou negar a vida, de acionar afetos ativos ou reativos, de mobilizar mudanças, futuro e expansão ou de promover miséria, conservação e continuidade. Em tudo, e em cada coisa, portanto, devemos nos questionar o seguinte: a serviço de que tipo de vida (e de relação com o mundo) essa ³verdade´ está vinculada? ³A vida é o critério último de julgamento tanto do conhecimento quanto da moral´ , enfatizava Roberto Machado, à luz de Nietzsche (2017, p 77) O valor da verdade ou do conhecimento não pode ser avaliado isoladamente, tampouco por si mesmo, mas sempre em relação a outros valores morais e, sobretudo, com os estilos de vida que ele visa a promover ou asfixiar Na contemporaneidade, como se percebe, essa insidiosa ³vontade de verdade´ pautada na crença de que nada importa mais do que a verdade, sendo ela superior a todo o resto persiste, porém em uma reviravolta ainda mais ameaçadora à vida Em meio à desvalorização dos valores morais que alicerçam o projeto civilizador moderno como a democracia, a justiça, a igualdade, a razão e a solidariedade , a própria concepção de verdade, assim como a força da ciência e do conhecimento, foram trivializados,

corrompidos e instrumentalizados pelo neoliberalismo (Brown, 2019) Esses pilares, outrora fonte de mobilização política, foram enfraquecidos, tendo a sua capacidade de transformação comprometida Até mesmo a arte, compreendida por Gilles Deleuze como aquilo que ³resiste à morte, à servidão, à infâmia, à vergonha´ (Deleuze, 1992, p. 219), parece ter sido cooptada e interpretada pela lógica do mercado, perdendo seu potencial de ativar experiências sensíveis transformadoras, capazes de provocar desassossegos, de combater as opressões, de abrir possíveis e promover mudanças sociais
Diante da transformações históricas marcadas pela emergência do neoliberalismo, pela ascensão do individualismo e pelo declínio do bem comum, a força da consciência foi aliviada, fazendo com que os sujeitos se vissem mais libertos da coação e da culpa e, portanto, ³despidos de preocupação com os outros, com o mundo e com o futuro´ , como analisou Wendy Brown em Nas ruínas do neoliberalismo (2019) ³A consciência não relaxa somente em relação à conduta do próprio sujeito, mas também aos males e enfermidades sociais, que não são mais registrados como tais´ , acrescentava a autora, antes de concluir: ³em uma sociedade individualista e não emancipada, [isso] significa menos consideração ética e política em geral´ (2019, p 203)
Portanto, não é surpreendente que a incessante busca por validar a veracidade das imagens prevaleça sobre a crítica política e social que elas deveriam suscitar Nesse contexto, a denúncia da situação precária dos brasileiros tem pouca força, pois o foco na ³verdade´ torna-se mais importante do que o problema em si O debate sobre se as imagens são ³fato ou fake´ acaba ofuscando a realidade da fome e reduzindo o impacto da denúncia. Em vez de suscitar um engajamento com as questões de desigualdade social e mercantilização do cotidiano, essas fotografias revelaram uma preocupante apatia social. Embora tenham fomentado debates nas redes sociais, essas discussões frequentemente não se converteram em ações concretas ou propostas efetivas para enfrentar a situação. Em vez disso, as imagens alimentaram as guerras culturais em

curso, caracterizadas por polarizações políticas, desinformação e negacionismo científico (Teixeira; Vaz, 2022).
Não é por acaso que, poucos dias após a publicação da série ³Mercado da Fome´ , Flávio Costa fez outra postagem em sua conta do X, de uma bandeja de pés de galinha vendidos em um supermercado no interior da Bahia, acompanhada da seguinte legenda: ³Não, isso não é uma foto do meu ensaio Mercado da Fome. Trata-se de uma foto real, em Paulo Afonso (BA)´ . Embora essa fotografia retrate uma realidade vivida naquele território e não seja uma montagem artística, ela também provocou reações que contestavam a ³verdade´ das imagens.
Mesmo com o retrato explícito da ³realidade´ , os comentários continuavam na mesma linha dos anteriores: ³Fala com o teu governador que trancou tudo´ , referindo-se ao lockdown durante a pandemia de Covid-19, e ³não ponha na conta do Bolsonaro´ , vindo dos apoiadores do então presidente de extrema-direita Outros comentários ironizavam: ³a economia deixa pra depois, o depois chegou´ , uma crítica aos discursos mais associados à esquerda, que priorizavam políticas públicas voltadas para a preservação da vida, da saúde pública e do bem comum. Além disso, havia comentários como: ³militantes descobrindo que vende pé de galinha nos mercados há anos´ Como argumentado anteriormente, a questão não se trata de um debate sobre preferências culinárias ou sobre quem compra pé de galinha ou não, mas sim de um ³desencantamento´ da crítica social
Outro exemplo desse desencantamento, entre tantos possíveis, foi a veiculação de matérias sobre a fome no território Yanomami, em 2021, com imagens drásticas de crianças desnutridas. Prontamente, surgiram fake news informando que aquela situação era vivida na Venezuela, e não no Brasil. Em 2022, a disputa eleitoral entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL) trouxe à tona a questão da fome no Brasil como uma das principais pautas. Pesquisas, como o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, do Instituto Pensan, revelaram que 33 milhões de brasileiros estavam em situação de insegurança alimentar, levando diversas

reportagens a tratarem o tema como ³prioridade máxima´ Em resposta, surgiram disputas acirradas sobre a ³verdade´ desses dados, com canais de extrema direita acusando a esquerda de disseminar fake news
Neste cenário mediado pelas plataformas digitais, os diversos campos de denúncia e discussão social muitas vezes são absorvidos pela lógica dos meios de comunicação que buscam validar ³a verdade´ . Como resultado, essas discussões são rapidamente substituídas por novas demandas de contestação da realidade. Assim, a busca pela ³verdade´ tende a se tornar superficial, pois seu valor e sua conexão com os estilos de vida que deveria promover vão sendo esvaziados. Isso faz com que o foco da discussão acabe mudando, desviando-se das questões realmente relevantes
Considerações finais
Nas atuais guerras culturais, não importa quais políticas estão sendo discutidas; o que se destaca é o negacionismo científico ou a desinformação acompanhado da tentativa de atribuir ao outro a culpa pela situação, enquanto se exime de qualquer responsabilidade ou ação Inclusive, o próprio sistema neoliberal torna-se imune a qualquer crítica, especialmente por parte da extrema direita (Chamayou, 2020) Assim, a discussão se reduz a uma mera acusação do outro, em vez de um debate mais coletivo, complexo e construtivo sobre o problema
Toda essa dinâmica é bastante sintomática para compreendermos as engrenagens morais contemporâneas Paula Sibilia (2023), por sua vez, nos fornece pistas complementares acerca desta paradoxal busca pela ³verdade´ e demanda de ³realismo´ .
Segundo a autora, estamos passando por alterações nos valores e crenças em vigor, que evidenciam um deslocamento no ³solo moral´ Dessa forma, a ³hipocrisia burguesa´ , que norteou o regime disciplinar moderno (Foucault, 1999), estaria em declínio. Em seus escombros, certos ³cinismos´ estariam germinando no regime de controle (Deleuze, 1992), alinhado à racionalidade neoliberal e às tendências autoritárias, que

rechaçam a democracia representativa, defendem a liberdade individual chancelada pelo mercado e legitimam posicionamentos (e até violências) que antes costumavam ser repreendidos
Assim, a fome, que outrora era considerada um sofrimento contingente e, portanto, digno de solidariedade e atenção social, agora enfrenta um novo paradigma Em uma sociedade regida pelo mercado, a competitividade e a desigualdade social são pilares fundamentais para a manutenção do neoliberalismo. Nesse contexto, a fome e a pobreza, em vez de serem encaradas como problemas a serem resolvidos, passam a ser percebidas como sofrimentos inevitáveis, intrínsecos à estrutura social, e legitimados pela lógica da meritocracia Esse fenômeno revela um conflito moral subjacente: a busca por ³descobrir´ a verdade da informação ganha destaque que ofusca a própria problemática denunciada. Em uma sociedade que naturaliza a fome como parte de sua dinâmica, a validação da veracidade das imagens se torna mais importante do que o problema que elas deveriam denunciar. O que está em jogo é a disputa pela construção da realidade, mais do que as mazelas sociais vividas
Com esse veredicto, a própria denúncia da fome através da arte perde força e é substituída por uma estéril ³vontade de verdade´ (Machado, 2002) Assim, a crítica social e política, objetivo central da obra, é esvaziada, invisibilizada ou mesmo deslegitimada por sua relação ³falsa´ com o real. Já ao artista parece restar apenas certo oportunismo neoliberal, sob a acusação de se promover à custa da miséria alheia Na esteira das fake news, um novo tipo de fake art?
BROWN, Wendy. In the ruins of neoliberalism: The rise of antidemocratic politics in the West New York: Columbia University Press, 2019

CAMARGO, Alexandre de Paiva Rio; MOTTA, Eugênia de Souza Mello Guimarães; MOURÃO, Victor Luiz Alves Números emergentes: temporalidade, métrica e estética da pandemia de Covid-19. Mediações-Revista de Ciências Sociais, 2021.
CHAMAYOU, G A sociedade ingovernável: uma genealogia do liberalismo autoritário. São. Paulo: Ubu, 2020.
DE CASTRO, Josué; BRANCO, J. Carvalho. Geografia da fome. Rio de Janeiro: Casa do Estudante do Brasil, 1952
DIDI-HUBERMAN, Georges Quando as imagens tocam o real PÓS: Revista do Programa de Pós-graduação em Artes da EBA/UFMG, 2012.
FOOD and Agriculture Organization of the United Nations The state of food and agriculture: Food systems for better nutrition (Report No. I4030E). FAO, 2013. Disponível em: http://www.fao.org/3/i4030e/i4030e.pdf
JAGUARIBE, Beatriz O choque do real: estética, mídia e cultura Rio de Janeiro: Rocco, 2007.
MACHADO, Roberto (Ed.). Nietzsche e a polêmica sobre o nascimento da tragédia. Rio de Janeiro: Zahar, 2005
Mauad, Ana Maria Imagens em fuga: considerações sobre espaço público visual no tempo presente. Florianópolis: Revista Tempo e Argumento, 2018.
OLHE Para a Fome (n d ) Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, 2022. Disponível em: https://olheparaafome.com.br/#inquerito
SIBILIA, Paula "Da hipocrisia aos cinismos: deslocamentos do ³solo moral´ Rio de Janeiro: Revista Eco-Pós, 2023.
. O show do eu. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 2008.
TAVARES, F Ossos de primeira e de segunda são vendidos em Fortaleza Folha de S.Paulo, 2021 https://www1 folha uol com br/mercado/2021/11/ossos-de-primeira-ede-segunda-sao-vendidos-em-fortaleza.shtml
TEIXEIRA, Cristina; VAZ, Paulo ³Guerras culturais: conceito e trajetória´ Revista Eco-Pós, v. 24, 2021; p. 1-40.

Falha na fotografia como ativação da especulação:
O caso µKatespiracy¶1
Failure in photography as an activation of speculation:
The µKatespiracy¶ case
Amanda de Moraes Medeiros2
Resumo: A partir de uma falha de consistência na fotografia de Kate Middleton com seus três filhos, divulgada pelo perfil oficial do Kensington Palace no Dia das Mães do Reino Unido em 2024, ativou-se uma rede de especulação sobre a vida da Princesa de Gales Middleton emergiu narrativamente como um ativo dentro de um ecossistema especulativo (Soares, 2023), espaços compreendidos por seu caráter dialético e internacional no digital, conciliando prazer e convivência, mas também controle e punição
Palavras-chave: Celebridades; Especulação; Plataformas digitais.
Abstract: Following a lack of consistency in the photograph of Kate Middleton with her three children, published by Kensington Palace's official profile on Mother's Day in the United Kingdom in 2024, a network of speculation about the life of the Princess of Wales was activated. Middleton narratively emerged as an asset within a speculative ecosystem (Soares, 2023), spaces understood by their dialectical and international character in the digital, involving pleasure and coexistence, but also control and punishment
Keywords: Celebrities; Speculation; Digital Platforms.
1 Trabalho apresentado ao GT 2 Tecnologia, fotografia e pensamento do Encontro Imagem + Política + Estética: territórios fluidos do contemporâneo, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, 05 a 07 de junho de 2024
2 Amanda de Moraes Medeiros, UFPE, amanda mmedeiros@ufpe br; currículo lattes: http://lattes cnpq br/0293215528794616

No dia 10 de março de 2024, data em que se comemorou o dia das mães no Reino Unido, o perfil oficial do Kensington Palace postou uma fotografia de Kate
Middleton, µPrincesa de Gales¶ , com seus três filhos. A legenda da publicação era: "Obrigada pelo carinho e pelo apoio contínuo ao longo dos últimos dois meses. Desejo a todos um feliz Dia das Mães" (tradução livre). Os ³dois meses´ na legenda eram referentes ao afastamento de Kate da mídia devido a uma cirurgia abdominal realizada no dia 16 de janeiro de 2024, também divulgada - sem muitos detalhes - pelas redes oficiais do Kensington Palace


Descritivamente, a fotografia da postagem consiste na princesa, sorridente, centralizada no meio, vestida com tons sóbrios e uma calça jeans; do seu lado esquerdo vem o seu filho mais novo, de verde, sorrindo e sendo abraçado pela mãe; na parte central da imagem, se projeta o filho mais velho, de azul, abraçando a mãe com os dois braços e também sorrindo; por fim, na parte direita da fotografia, está a filha do meio, de vermelho e de saia xadrez, também sorrindo e sendo abraçada pela mãe - sendo esse último o lado que nos interessa Dando um zoom no lado direito da imagem, percebese uma inconsistência no alinhamento da mão esquerda que abraça Charlotte, a filha do meio - trazendo à tona um possível sinal de manipulação da imagem.
Ao menos cinco agências de imagens (Associated Press, Reuters, AFP, Getty Images e PA media) identificaram a ³falha´ na imagem, retirando-a de suas plataformas e pedindo esclarecimentos à Coroa juntamente com a divulgação da imagem original A irregularidade na fotografia, no dia seguinte à postagem (11), foi assumida e reparada por uma nota da própria Kate Middleton nos perfis oficiais da coroa inglesa ³Como muitos outros fotógrafos amadores, eu experimento editar as fotos de vez em quando. Queria expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a foto de família que compartilhamos ontem causou. Espero que todo mundo tenha passado um feliz Dia das Mães´ (tradução livre). Mesmo após a reparação, a divulgação da fotografia original, solicitada pelas agências, foi negada pela assessoria da família real Depois da fotografia e da nota, um terceiro elemento entra em cena: Kate Middleton publica um vídeo anunciando que estava enfrentando um câncer e desejava privacidade. A falha na imagem fotográfica da µPrincesa de Gales¶ , seguida de uma retratação da própria personagem e uma posterior revelação de um câncer formam um roteiro performático (Soares, 2021) de uma celebridade em escala global, ativando um conjunto de desconfianças por parte de admiradores da Família Real em ambientes digitais - contextos de alta visibilidade Desconfianças que se intensificaram a partir do

desdobramento das imagens gerando um espectro especulativo (Soares, 2023) que logo evoluiu para um quadro conspiratório, nomeado midiaticamente de ³Katespiracy´3
A trama sobre a ³Conspiração da Kate´ ganha como palco principal - desde sua gênese - as redes sociais; ecossistemas difusos onde narrativas nascem, se amplificam e ganham novos tons A partir das interações entre os usuários e uma arquitetura operacional das plataformas, espaços favoráveis a repercussão simultânea de múltiplas narrativas sobre um mesmo tema se hipertrofiam. A esses espaços daremos o nome de ecossistemas especulativos (Soares, 2023)
Esses ecossistemas se estabelecem como espaços onde dimensões fabulatórias e de performance se fortalecem com mais contundência, podendo ser definidos como plataformas e ambientes de redes sociais digitais que propiciam as práticas de especulação e são amigáveis a fabulações acerca de conjecturas midiáticas (acontecimentos da vida da celebridade). No contexto contemporâneo, os ecossistemas dialéticos e interacionais não se tornam apenas ambientes de debate entre usuários, mas também estão associados à vigilância, um sentimento que acaba se intensificando em contextos de alta visibilidade e de hiper compartilhamentos, como é o caso da repercussão da fotografia de Kate
A revista estadunidense ³The Atlantic´ , especializada em ensaios, abordagens mais densas do que o caráter meramente noticioso, trouxe, entre 29 de fevereiro e 22 de março de 2024, seis textos que detalharam a reação pública em relação à µfalha na imagem¶ e mais um que relata o ³sumiço de Kate´ - anterior à fotografia, no caso µKatespiracy¶ Na verdade, Kate Middleton é uma personagem central na publicaçãocom mais de 220 textos dentro do acervo da revista, desde o começo da sua vida pública no ano de 2012, com o casamento real
3 ³A conspiração de Kate´

Em meados de 2012, quando a figura ³Middleton´ estava em ascensão como protagonista de um ³conto de fadas moderno", a sua persona passou a ser a imagem a ser consumida pelo público e decodificada pela mídia - vide imagens 2 e 3. Com isso, entende-se que a revista se posiciona como um veículo jornalístico interessado na reflexão ensaística a partir de celebridades há mais de uma década - principalmente no que tange a ³personagem´ de Kate. Tendo isso em vista, observo o percurso midiático que envolveu a Princesa de Gales, do período de 10 de março de 2024 ao dia 22 de março de 2024, também por essas lentes.

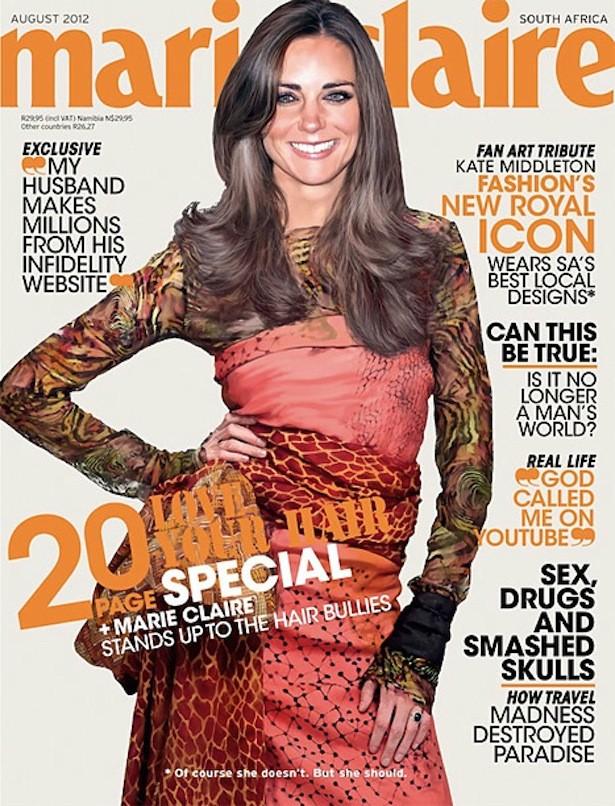
[2] ³Kate Middleton disse não para sua capa? Não tem problema, tem photoshop!´ (tradução livre); Fonte: The Atlantic, 2012.
[3] Capa feita a partir de tributo de fã (Photoshop) Fonte: Marie Claire África do Sul, 2012
³Onde está Kate Middleton?´ . É assim que começa o artigo jornalístico escrito por Charlie Warzel - premiado jornalista norte-americano que cobre temas referentes à

tecnologia, mídia e política - no dia 29 de fevereiro de 2024. O texto em questão se chama ³Fazendo perguntas sobre Kate Middleton´4 (tradução livre), e busca dimensionalizar para o público - com um olhar crítico através do públicoacontecimentos anteriores à fotografia de Kate, elementos vitais para se debater sobre os desdobramentos do caso É importante salientar que o jornalista não tenta impor uma investigação sobre a ³verdade´ ou sobre o que estaria de fato acontecendo dentro do palácio, mas ele procura suscitar questionamentos acerca do comportamento da sociedade dentro de ecossistemas que favorecem a especulação.
As pessoas que ³precisam de saber tudo´ comentam o seu interesse genuíno pelas notícias, ao mesmo tempo que observam que, sim, a especulação é um pouco desequilibrada e que a Internet muitas vezes empurra as pessoas para extremos paranóicos Apropriar-se da linguagem das teorias da conspiração e das ³tocas do coelho´ é, portanto, uma maneira atrevida de falar sobre algo e ao mesmo tempo reconhecer essas estranhas dinâmicas online, que são ao mesmo tempo desanimadoras e unificadoras (Warzel, 2024a, tradução livre)
Warzel convida o leitor a observar o percurso performático e midiático vivido por Kate Middleton, que se iniciou no dia 16 de janeiro de 2024, quando o perfil oficial do Kensington Palace publicou que a Princesa de Gales passaria por uma cirurgia abdominal simples, sem entrar em maiores especificações sobre. Entretanto, a trama começa a se estreitar quando se passa tempo suficiente sem aparições da Princesa de Gales.
A extensa recuperação de Kate levantou suspeitas, especialmente nos tabloides britânicos Mas ainda não era uma suspeita de fato até essa semana - quando o príncipe William, citando razões pessoais, inesperadamente anunciou que ele não iria ao memorial do seu padrinho - logo, a especulação sobre o estado da princesa ganhou um tom mais conspirativo (Warzel, 2024a, tradução livre)
4 Original: Just asking questions about Kate Middleton

Levando em conta o início do roteiro performático (Soares, 2021) de Middleton, na medida em que teve sua narrativa midiática exteriorizada, com imagens e notas sucintas, os espaços especulativos de exibição se fortaleceram. Articulou-se prazer e convivência - a partir de memes e interações engraçadas - mas também vigilância, controle e punição - através do compartilhamento de teorias sombrias e desrespeitosas, como em um panóptico (Bruno, 2008).
Performances midiáticas são acionamentos corporais de sujeitos em ambientes de mídia envolvendo a formação de uma ³vida cênica´ em contextos de alta visibilidade e a construção de redes de sentido do biográfico, ou seja, o vivido e o relatado, em dinâmicas cotidianas Performances midiáticas, na medida em que se projetam para o Outro, formam espaços especulativos de exibição, articulando prazer e convivência, mas também vigilância, controle e punição´ (Soares, 2021)
A partir da ³falha´ na fotografia de uma celebridade, abriu-se um vórtex de interpretações - e especulações - acerca da vida de Kate Middleton e de sua família, ocasionando em uma prática das conversações online e das dinâmicas de sociabilidade em um contexto profundamente midiatizado, que marca profundamente o contemporâneo Formou-se, então, um solo fértil para cultura de especulação, que implica em reconhecer os ambientes midiáticos que propiciam ações desta natureza No caso da ³Conspiração de Kate´ a especulação é ativada por uma descrença no estatuto contemporâneo do mundo-imagem e nas instituições que antes eram detentoras de autoridade, uma crise que não se limita apenas às celebridades mas a toda uma noção de ³verdade´
Os cristãos admiravam os mártires porque eles eram testemunhas da verdade (Berlin, 2022, p. 33). A verdade sempre foi considerada um princípio fundante da virtude, ora por meio da narração de anedóticas experiências que fortaleciam as comunidades na Antiguidade, ora por meio de uma busca pela tradução perfeita da forma através da arte Quanto mais retrocedermos na história, menos nítida será a distinção entre imagens e coisas reais; nas sociedades primitivas, a coisa e sua imagem

eram apenas duas manifestações diferentes, ou seja, fisicamente distintas, da mesma energia do espírito (Sontag, 2022, p 171)
Em ³Kate Middleton e o fim da realidade partilhada´5 (tradução livre), artigo publicado no dia 11 de março de 2024, Charlie Warzel repercute a alteração na imagem e explicita a existência de uma crise que não debate apenas as novas tecnologias que emergem, mas da noção de ³confiança´ como um todo. Um ethos de desconfiança que se institucionaliza no contemporâneo como um modus operandi padrão no consumo de imagens.
O desastre da fotografia da realeza britânica é apenas um microcosmo do nosso momento atual, onde a confiança tanto nas instituições governamentais como nas organizações de gestão, como a grande imprensa é baixa Esta sensação vem crescendo há algum tempo e foi exacerbada pelas corrosivas mentiras políticas da era Trump (Warzel, 2024b, tradução livre)
Muito se trata sobre problemas envolvendo o surgimento de novas ferramentas de alteração e correção de imagem, entretanto, o problema com a imagem de Kate Middleton é outro. Com uma foto modificada apenas com uma ferramenta ³simples´ como o photoshop, se esboça a existência não meramente da ideia pós-apocalíptica de máquinas que tomaram o controle, mas sim a emergência de um ethos especulativo favorável ao avanço de teorias da conspiração, principalmente em contextos de crises institucionais, políticas e de mudanças sociais (Boym, 1999, p 98), ainda que sem a utilização de máquinas poderosas.
O ³vácuo de confiança´ , criado por uma crise da verdade, associado ao crescimento das novas tecnologias da imagem, gera excelentes condições para o crescimento da especulação, assim como da conspiração. Se é ensejado o terror por um produto que, paradoxalmente, se engessa na intenção humana (aquilo que é demandado) ao mesmo tempo que tira do homem o controle sob a própria imagem (que se forma por
5 Original: Kate Middleton and the end of shared reality

meio de uma obscuridade algorítmica). Um aparelho que escapou da intenção humana e agora realiza todas as suas virtualidades automaticamente (Santamaria et al., 2014).
Durante anos, investigadores e jornalistas alertaram que os deepfakes e as ferramentas de Inteligência Artificial generativa podem destruir quaisquer fragmentos remanescentes de realidade partilhada. Os especialistas argumentam que a tecnologia pode tornar-se tão boa a conjurar meios de comunicação sintéticos que se torna difícil para qualquer pessoa acreditar em algo que não tenha testemunhado O desastre do retrato real ilustra que esta era não está próxima. Estamos vivendo isso. A pós-verdade não parece uma ficção científica maluca. Em vez disso, é mundano: As pessoas agora sentem uma desorientação, suspeita e desconfiança generalizada. E, como mostra o fiasco da foto real, a era do deepfake não precisa ser alimentada por IA generativa - um Photoshop apressado servirá. (Warzel, 2024b, tradução livre).
Uma vez que observamos a cultura de celebridades, associada à uma ansiedade generalizada no digital e a espaços especulativos de exibição, o corpo de uma figura como Kate Middleton se torna um ativo especulativo Logo, se é exposta a posição da celebridade como a personificação das duas faces do capitalismo aquela do valor deturpado e do valor estimado da commodity (Marshal, 1997, p. 4).
Entendendo Middleton como um ativo (commodity), é importante situar conceitualmente o termo µcapital especulativo', que surge a partir de dinâmicas em redes sociais Neste caso, com uma imagem, o léxico ³capital´ surge como um elemento multidimensional no contemporâneo, uma substância do sistema neoliberal em que estamos inseridos, como em um ³tempo do dinheiro´ (Adkins, 2018)
A ideia de capital especulativo, longe de ser uma aposta que visa ³mensurar´ influência ou alcance, traz à tona uma espécie de ativo capaz de promover mobilização em rede a partir do caráter emocional de alguns dramas sociais (Soares, 2023)

Corpos comodificados se projetam dentro de uma estrutura de cultura de internet, onde limites éticos - ou morais - para se tratar do Outro são borrados Então, a centralidade do ³Eu´ no contemporâneo, em uma economia neoliberal-especulativa, ganha nova forma, onde a necessidade de ³saber de tudo´ se reflete em um efeito corrosivo Existiria um desejo intenso não só em saber, mas de ser hierarquicamente detentor de verdade, recebendo recompensas ativas através de visualizações, compartilhamentos, comentários e curtidas
Há a conversão de domínios, atividades e sujeitos não econômicos em econômicos, e todas as esferas da vida, produzindo um discurso no qual se converte toda pessoa em capital humano (Brown, 2018)
Em ³O Eterno Escrutínio de Kate Middleton´6 (tradução livre), artigo escrito pela crítica literária e ensaísta Hilary Kelly, publicado no dia 14 de março de 2024, a jornalista se debruça principalmente em como o corpo da Princesa de Gales se projetaria como um capital humano comodificado, principalmente em contextos de alta visibilidade Ou seja, a fotografia surge como um combustível que alimenta um vácuo de confiança (Warzel, 2024b) já instaurado em um ethos economicista-especulativo dentro da conjuntura atual.
Não importa qual fotografia surja a seguir mesmo que a Princesa de Gales seja apresentada sem qualquer ferida, ruga ou carranca à vista, e a proveniência da imagem seja totalmente incontestada será inevitavelmente dissecada Nenhuma imagem no mundo irá satisfazer plenamente o desejo do público de analisar Middleton Eles simplesmente passarão a decodificar outra parte dela (Kelly, 2024, tradução livre)
³Kate Middleton estaria morta?´; ³Kate Middleton estaria passando por uma recuperação de uma BBL7 que deu errado?; ³Kate Middleton estaria passando por um divórcio que nem Diana passou?´ . Inúmeras perguntas são feitas
6 Original: The Eternal Scrutiny of Kate Middleton
7 Cirurgia plástica ³Brazilian Butt Lifting´ comum entre celebridades

nos mais diferentes recônditos virtuais, culminando em um fato: a história de Kate é uma colisão entre duas culturas populares, a teoria da conspiração e a clássica fofoca sobre celebridades (Warzel, 2024a). Repercussões de comentários, ora paranoicos ora irônicos, ganham ainda mais substância através de um clímax de tensões decupadas nas redes sociais entre os dias 10 e 11 de março de 2024 - meio tempo entre a divulgação da foto modificada e a retratação da Princesa de Gales.
O humor, os memes, a especulação desgovernada, a paranoia e as camadas de meta-comentário se tornaram a ³língua franca´ da internet e, por extensão, da cultura popular; onde memes suficientemente inocentes e conspiração se misturam até a distinção entre eles se tornar irrelevante É assim que falamos sobre celebridades agora (Warzel, 2024a, tradução livre)
À medida que somos atravessados pela linguagem e por discursos (Bakhtin, 1997), não conseguimos sair imunes à µmeta-ironia¶ das redes sociais. Os debates que acontecem nesta grande Ágora pós-moderna - especificamente o X (antigo twitter) e o TikTok - são corporificados e, de repente, nem só a ³verdade´ importa, mas sim um desejo obscuro de que a mais fantasiosa - e possivelmente macabra - das especulações se revele verdadeira, como em um thriller ou um episódio de True Crime. Logo, a língua franca da internet passa a ser sinalizadora de uma virtude controversa, a qual se revelaria na busca humana em fazer µo comentário mais sagaz¶ sobre algum ³trending topics´ , seja ele um meme jocoso ou uma catártica µsacada¶ sobre o Outro.
A necessidade de saber tudo é, frequentemente, egoísta, e vem com um custo para os outros Apesar dos memes serem em sua maioria bobos e absurdos, eles também refletem uma relação voyeurística e obscura das pessoas (Warzel, 2024a, tradução livre)
Nesse caso em específico, muitas das pessoas que começaram a acompanhar a ³Katespiracy´ não eram pessoas necessariamente ligadas ou que acompanhavam a família real britânica nas redes sociais.
O interesse obsessivo e desinformado sobre os dramas da família real são uma tradição no Reino Unido Mas esse caso em particular vem intrigando a todos, e todo mundo está falando como um

conspiracionista - até mesmo pessoas que possuem apenas um interesse casual no mistério.(Lewis, 2024, tradução livre)
A µfotografia falha¶ de Kate Middleton pode se estabelecer como mais um meandro da pós-verdade, se projetando dentro do corpo social contemporâneo e se potencializando por um ativo que hipertrofia a cultura celebridades Ainda que a sociedade sempre tenha um interesse muito grande em personalidades como Kate Middleton, a ³Katespiracy´ se projeta e transcende o mero interesse, estabelecendo um novo ethos para o ambiente digital - a cultura da especulação
ADKINS, Lisa. The Time Of Money. Stanford: Stanford University Press, 2018. BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997
BERLIN, Isaiah. As Raízes do Romantismo. Fósforo, 2022.
BROWN, Wendy Nas ruínas do neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no ocidente.São Paulo: Editora Filosófica Politeia, 2019
BRUNO, Fernanda. Monitoramento, classificação e controle nos dispositivos de vigilância digital Revista Famecos, Porto Alegre, v 15, n 36, p 10-16, 2008
BOYM, Svetlana. Conspiracy Theories and Literary Ethics: Umberto Eco, Danilo Kis and the Protocols of Zion. Duke University Press, v. 51, n. 2, p. 97-122, 1999. KELLY, Hillary The Eternal Scrutiny of Kate Middleton. The Atlantic, 14 de março de 2024 Disponível em: https://www.theatlantic.com/culture/archive/2024/03/kate-middletonphoto-celebrity/677756/ Acesso 14 de maio de 2024.
LEWIS, Helen. QAnon for Wine Moms. The Atlantic, 12 de março de 2024. Disponível em: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2024/03/kate-middleton-conspiracies-privacy /677729/. Acesso 14 de maio 2024.
MARSHALL, P D Celebrity and power: fame in contemporary culture Minneapolis: University of Minnesota Press; 1997.
SANTAMARIA, Mario; SELIGMANN-SILVA, Márcio; FLUSSER, Vilém, A Fotografia como Objeto Pós-Industrial (1985). Zum, v. 7. p. 182-189. São Paulo, 2014.
SOARES, Thiago Abordagens Teóricas para Estudo da Teatralidade em Performances Midiáticas: Dramas, roteiros, ações. ALCEU, v. 21, n. 43, p. 210 227, 2021 Disponível em: https://revistaalceu com puc-rio br/alceu/article/view/225 Acesso em: 14 maio. 2024a.
. Performance e capital especulativo na música pop. Logos,, v. 29, n 1, 2023 Disponível em: https://www e-publicacoes uerj br/logos/article/view/70919

Acesso em: 14 maio. 2024. SONTAG, Susan. Sobre Fotografia, Companhia das Letras, 2022.
WARZEL, Charlie Kate Middleton and the End of Shared Reality The Atlantic, 11 de março de 2024a. Disponível em: https://www theatlantic com/technology/archive/2024/03/kate-middleton-mothers-day-p hoto-fake/677718/. Acesso em: 14 de maio. 2024.
. Just asking questions about Kate Middleton. The Atlantic, 29 de fevereiro de 2024b Disponível em: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2024/03/kate-middleton-conspiracies-privacy /677729/ Acesso em: 14 de maio 2024

Contravisualidade negra-periférica: o olhar negro sobre corpos negros1
Black-peripheral countervisuality: the black gaze on black bodies
Emanuele de Freitas Bazílio2
Resumo: Este artigo propõe uma discussão teórico-analítica sobre a contravisualidade negra-periférica. Parte-se da discussão sobre periferias e suas estratégias de autorrepresentação, entendendo o coletivismo e o aquilombamento artístico visual como táticas de resistência e existência social Contribui-se para o entendimento da relação entre as temáticas de representação, periferia, aquilombamento e contravisualidade, como impulsionadoras de uma prática fotográfica contemporânea que propõe um novo regime visual sobre a periferia.
Palavras-chave: Contravisualidade; Periferia; Aquilombamento.
Abstract: This article proposes a theoretical-analytical discussion on black-peripheral countervisuality It starts with the discussion about peripheries and their strategies of self-representation, understanding collectivism and visual artistic quilombomento as tactics of resistance and social existence It contributes to the understanding of the relationship between the themes of representation, periphery, quilombamento and countervisuality, as drivers of a contemporary photographic practice that proposes a new visual regime on the periphery
Keywords: Countervisuality; Periphery; Aquilombament.
1 Trabalho apresentado ao GT 3 - Política, Imagem e Contravisualidades do Encontro Imagem + Política + Estética: territórios fluidos do contemporâneo, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), RecifePE, 05 a 07 de junho de 2024.
2 Professora substituta do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Decom/UFRN) e Doutoranda em Estudos da Mídia (PPgEM/UFRN). Email: manufreitass2@hotmail com Lattes: http://lattes cnpq br/9529811307840106

1 Introdução
O imaginário social da colonialidade e a exploração do povo negro ao longo da história, permitiu que a identidade histórico-cultural negra fosse vítima de sequestros, violência, silenciamentos, rupturas e estereótipos, tem sido colocada às margens em muitos aspectos sociais, culturais e territoriais Dessa forma, a visualidade negra foi sendo construída a partir do olhar do outro, o outro colonizador. Enquanto povo negro, fomos colocados às margens em muitos aspectos Construiu-se uma visualidade baseada em dispositivos sociais narcisistas (Kilomba, 2019), os quais refletem a branquitude e tornam todos as outras representações que se diferem dos padrões dela invisíveis socialmente
Com isso, pessoas negras como eu, crescem rodeadas de imagens que não nos refletem, padrões que não nos representam, frutos de uma visualidade branca, colonial e narcisista. Essa ruptura, essa quebra representacional gera incômodos que nos perseguem visualmente, pois, como diria Grada Kilomba (2019, p. 15), ³as imagens que eu vejo, não refletem a sociedade em que eu vivo´ Essa perturbação visual de imagens que não nos representam, esse lugar-comum-padrão de representação do corpo negro pela sociedade vem sendo desafiado pela visibilidade negra na contemporaneidade que se configura como defende Jota Mombaça (2021, p. 106) ³um aparato sensível que nos permite ver através, pensar desde e existir para além do escuro´ .
E é nesse lugar de criação de estratégias para desafiar o lugar-comum-padrão destinado aos negros e negras que insurge a produção de contravisualidades. Através disso, estamos criando um discurso sobre nós mesmo: ³um discurso do negro sobre o negro´ (Souza, 2021, p. 45). Como estratégia política e de visibilidade, criamos imagens de nós mesmos, apoiadas em uma estética decolonial, que expõe vivências e o amor à negritude através de fotografias Nesse sentido, amar a negritude é nossa principal fonte de resistência política e, ao longo dos anos, tem transformado nossas formas de ver o mundo e nós mesmos e de existir socialmente (hooks, 2019)

Para este artigo, escolho me debruçar teórico-analiticamente sobre a contravisualidade negra-periférica, um recorte dessa produção visual localizado às margens que tem se levantado como forma de resistência às violências físicas, emocionais e visuais que tem sofrido a população negra das periferias brasileiras. É nesse lugar que a população negra-periférica encontra, a partir do resgate e da reafirmação da sua identidade cultural, espaço e oportunidade de combater o racismo a partir da criação de contravisualidades (Mirzoeff, 2011), contranarrativas (Souto, 2020) e de estratégias do aquilombamento (Nascimento, 1985; Souto, 2020; Meirinho, 2021), como é o caso do coletivo de fotógrafos negros-periféricos Favelagrafia3 o qual pode ser entendido como um aquilombamento artístico visual contemporâneo e tem produzido imagens que compõem essa contravisualidade negra-periférica na contemporaneidade.
2 A periferia e suas estratégias de autorrepresentação
Segundo Tiaraju D¶Andrea (2020), no Brasil, a busca por identificação e reconhecimento dos moradores das favelas com o vocábulo periferia aconteceu no início dos anos 2000 com a produção e distribuição do filme Cidade de Deus inspirado no livro de Paulo Lins, que carrega o mesmo título do longa-metragem; roteirizado por Bráulio Mantovani e dirigido por Fernando Meirelles, com co-direção de Kátia Lund Para além dessa obra audiovisual, as músicas do grupo de rap Racionais Mc¶s também contribuíram para construir uma narrativa sobre as periferias brasileiras, as letras são repletas de denúncias e abordam diversas questões vividas pelos moradores (D¶Andrea, 2020).
3 O coletivo µFavelagrafia¶ é composto por nove integrantes negros Anderson Valentim; Elana Paulino; Josiane Santana; Joyce Marques; Magno Neves; Omar Britto; Rafael Gomes e Saulo Nicolai e tem retratado desde 2016 o cotidiano de nove periferias do Rio de Janeiro em que cada um dos integrantes reside, sendo elas: Borel, Morro da Providência, Morro Santa Marta, Morro dos Prazeres, Complexo do Alemão, Rocinha, Morro da Mineira, Morro Cantagalo e Leme/Babilônia. Instagram do coletivo: https://www instagram com/favelagrafia/

As sujeitas e os sujeitos periféricos (D¶Andrea, 2020) são formados a partir: da união de códigos culturais compartilhados, frutos de suas vivências e modos de existir nas favelas; de uma consciência de pertencimento a um lugar (D¶Andrea, 2020; hooks, 2022), que leva a compreensão da posição urbana compartilhada em um determinado território; e do agir político (Bentes, 2012; D¶Andrea, 2020), tornam-se sujeitas e sujeitos políticos no processo de busca de reafirmação dos seus territórios. Dessa forma, ³transitam pela cidade e ascendem à mídia de forma muitas vezes ambígua, podendo assumir esse lugar de um discurso político urgente e de renovação num capitalismo da informação" (Bentes, 2012, p. 54), utilizando como meio de divulgação e destaque na sociedade as redes sociais
No início do anos 2000, o aumento do poder aquisitivo no Brasil e a popularização de recursos tecnológicos como câmeras, computadores e smartphones, foi decisivo para que as populações das periferias pudessem sistematizar suas histórias e vivências através de imagens e das redes sociais (Bentes, 2012; D¶Andrea, 2020). Com acesso a tecnologias e aos meios de comunicação e disseminação de informações, como o Instagram, tornam-se produtores de uma contravisualidade periférica de pertencimento, por meio de sua arte, cultura e fazer político que ultrapassa os estigmas de pobreza e violência conferidos às comunidades periféricas, conforme afirma Ivana Bentes:
A cultura das favelas e periferias também é um contraponto para a visão estereotipada das favelas como fábricas de morte e violência, aspecto recorrente na mídia e no cinema que revela apenas a imagem da favela-inferno, território para a pulsão de morte, sem olhos para a cultura de resistência e vitalidade que vem sendo forjada aí e sua relação com novas formas de trabalho e potência (Bentes, 2012, p 5455)
Diante disso, a periferia que conta com 67% de sua população sendo pessoas negras, segundo pesquisa realizada pelo Data Favela e pela Central Única das Favelas (Cufa) tem mostrado que também é lugar de criação e discussão social, assim, ³essas

vozes da periferia, jovens artistas e agitadores, negros saídos da favela, de ambientes de violência e hostilidade destituem os tradicionais mediadores da cultura passam de ³objetos´ a sujeitos do discurso´ (Bentes, 2012, p 55) Organizados em coletivos, contestam o regime visual padrão e propõem uma contravisualidade (Mirzoeff, 2011) que nasce em seus lugares de existência e de fala, oriundos das ruas, vielas das periferias e de contracondutas que desafiam o lugar do negro-periférico na sociedade.
Ligados pelo desejo de representação a partir de seus próprios olhares, coletivos como o Favelagrafia utilizam a internet (redes sociais e sites) para promover projetos e criar um novo imaginário sobre comunidades periféricas. Através de suas fotografias, direcionam o olhar da sociedade para os talentos que atuam e representam a cultura e a arte das favelas no cenário da música, dança, artes plásticas, moda, esportes, performances, entre outros temas.
Dessa maneira, a formação dos coletivos fotográficos nas periferias é uma importante fonte de representação e visualidade a partir do olhar de seus próprios moradores, que também tornaram-se produtores de imagens Conforme explica Eduardo Queiroga (2022), essa organização em coletivo parte de uma busca por modelos de visibilidade que são fundamentalmente colaborativos, os quais compartilham trocas e sentidos internos com os meios externos, através de uma linguagem compartilhada e de uma prática cooperativa de autorrepresentação.
Essa resistência através das imagens dos coletivos de fotógrafos negros nas periferias não é algo recente, como aponta o site do projeto ZUMVI Arquivo Fotográfico4, idealizado em 1990 por Aldemar Marques, Lázaro Roberto e Raimundo Monteiro três fotógrafos negros moradores de periferias de Salvador. No site do projeto é possível acessar parte do acervo que tem cerca de 30 mil negativos sobre a história, moradia e cultura afro das periferias baianas, como podemos ver na Figura 1 Através do coletivismo, a fotografia negra-periférica tem resistido às violências coloniais e aos apagamentos sofridos pela população negra
4 Acesso ao site do coletivo: https://www zumvi com br/


Figura 1 - Bloco com faixa na Lavagem do Bonfim, Salvador/BA, 2010
Fonte: Lázaro Roberto (Arquivo Zumvi)
Lázaro Roberto, autor da fotografia acima, é um dos fundadores do ZUMVI e o único dos três que continua alimentando o projeto De acordo com a página do projeto, os outros dois fotógrafos, Aldemar Marques e Raimundo Monteiro, deixaram a carreira e seguiram outros caminhos, mas antes entregaram todo acervo ao Lázaro Assim, com a ajuda do sobrinho, José Carlos Ferreira, historiador, ele vem preservando e divulgando a produção fotográfica do coletivo, compondo uma importante iniciativa de preservação da memória e cultura do povo negro no Brasil, especificamente em Salvador/Bahia
3 Coletivismo, aquilombamento e a contravisualidade negra-periférica
Na contemporaneidade, a busca por uma visualidade que nasça do olhar negro sobre os corpos negros é ainda mais fortalecida em sistemas de aquilombamentos

virtuais midiáticos, como defende Alice Andrade (2023) A presença dos coletivos de fotógrafos negros-periféricos no Instagram, por exemplo, pode ser entendida como uma fuga da representação tradicional da população negra das periferias brasieliras Assim, a partir da produção de uma contravisualidade, esses grupos têm proposto novas formas de olhar para os corpos negros, possibilitando ³aos sujeitos negros a produção de narrativas não-subalternizantes sobre o seu povo´ (Andrade, 2023, p. 116).
Esses coletivos, demarcam a atuação, a relevância, a potência e o artivismo da negritude nas comunidades periféricas, fortalecendo a identidade cultural e promovendo novos espaços de representação para os corpos negros na sociedade, construindo e propondo uma contravisualidade negra-periférica Diante disso, essa se apresenta como contraponto à narrativa visual dominante erguida sob a égide do racismo, a qual tem colocado a população negra e periférica num lugar de estereótipos e violências desde a formação das periferias brasileiras
Ao longo dos anos, tomando para si um sentido inverso a representação hegemônica e como forma de resistência às imposições coloniais que atravessam o território periférico e os corpos que nele habitam, a periferia e a negritude constituíram suas próprias identidades ³não a partir de fora mas a partir de dentro da representação´ (Hall, 2006, p 34), a partir do olhar negro sobre os corpos negros O que os coletivos de fotógrafos negros das periferias como o Zumvi e o Favelagrafia vêm fazendo é resistir através da construção de um discurso e contravisualidade próprios de suas emocionalidades e vivências (Souza, 2021) Essa mirada negra sobre os corpos negros é uma poderosa tática de sobrevivência e existência.
Diante disso, os fotografos e fotografas negros e negras que constroem os coletivos nas periferias são a real manifestação do conceito defendido por Ariella Aïsha Azoulay (2021) de fotógrafo preocupado/engajado, que neste caso se afasta do mundo destruído, mas também faz parte dele. Cotidianamente, esses indivíduos estão aprendendo a deixar de lado o ideal colonial impregnado em seus corpos através do exercício da fotografia documental tradicional

Fugindo dessa lógica da fotografia documental colonizadora, que sequestrou e violentou a imagem de pessoas racializadas, os coletivos se configuram em aquilombamentos artísticos visuais como forma de estratégia de resistência e espacialização da cultura periférica, como podemos visualizar na Figura 2, uma estratégia de visibilizar o trabalho e a arte da professora de balé Tuany (representada na imagem), idealizadora do projeto social ³Na ponta dos pés´ que oferece aulas de balé para meninas do Morro do Adeus, Complexo do Alemão (RJ).

Figura 2 - Tuany Nascimento, professora de balé e moradora do Complexo do Alemão (RJ)
Fonte: Portfólio do fotógrafo/artista visual Saulo Nicolai5
5 Disponível em: https://www.favelagrafia.com.br/2019/portfolio/saulo-nicolai/ . Acesso em 25 maio 2024

A fotografia acima integra o Potência das Favelas6, segundo o site do projeto Tuany é moradora de periferia, mulher negra, e já atendeu mais de 250 meninas com sua iniciativa Na fotografia de Saulo Nicolai, artista visual do Favelagrafia, a representação dela vai muito além do quadro fotográfico, ecoa uma narrativa de resistência construída e vivenciada no dia a dia das comunidades brasileiras As imagens do Favelagrafia propõem uma visão da periferia diferente da estabelecida socialmente, trazem a perspectiva de uma contravisualidade que propõe visibilizar as representações artísticas e culturais, promovendo pertencimento e identificação com a negritude (Figura 3 e 4).
6 Projeto criado pelo coletivo Favelagrafia, o qual tem como objetivo direcionar o olhar da sociedade para os talentos que atuam e representam a cultura e a arte das favelas cariocas. As personalidades são apresentadas e retratadas na página do Instagram do Favelagrafia e no site do coletivo através de produções audiovisuais, realizadas pelos fotógrafos e artistas visuais que compõem o coletivo. Site do projeto disponível em: https://www favelagrafia com br/2019/ Acesso em 25 maio 2024


Figuras 3 e 4 - Mc Martina e Vinícius, respectivamente, fotografados no Complexo do Alemão
Fonte: Portfólio da fotógrafa/artista visual Josiane Santana, Favelagrafia7
As fotografias de Josiane Santana, moradora do Complexo do Alemão, jornalista, fotógrafa documental e arte-educadora, insurgem-se como estratégia de representatividade de duas personalidades importantes para a comunidade em que vive Na Figura 3 vemos a Mc Martina, mulher preta, poeta, rapper e produtora que idealizou o Slam Laje, primeira batalha poética do conjunto de favelas do Complexo do Alemão
Em seguida, na Figura 4, temos o bailarino Vinícius Rodrigues, integrante das companhias de dança Suave e Passinho Carioca, é também diretor da cia. AfroBlack. Tanto as imagens de Saulo Nicolai quanto as de Josiane Santa expõem uma estratégia de fortalecimento das práticas culturais de suas comunidades periféricas. Essas fotografias contribuem para uma contravisualidade negra-periférica que tem como
7 Disponível em: https://www.favelagrafia.com.br/2019/portfolio/josiane-santana/ . Acesso em 9 mar. 2024

fundamento o olhar negro sobre os corpos negros e, assim, possibilitam a construção de um discurso da negritude sobre suas potencialidades (Souza, 2021, p. 45).
Na contemporaneidade percebemos a multiplicação de narrativas e temporalidades, insere-se como insurgente os deslocamentos do centro e da periferia, indo de encontro a qualquer pensamento universalizante (Hall, 2003; Souto, 2020) Dessa forma, a periferia tem encontrado espaço de criação e fortalecimento de uma contravisuldade que propõe rupturas no regime visual hegemônico direcionado às populações periféricas Dessa forma, entendemos o momento histórico da atualidade como um ³espaço de significantes abertos, um entre-lugar, onde os efeitos de um passado colonial recente ainda perduram e se desdobram, ao mesmo tempo em que coexistem com formas emergentes de existir no mundo´ (Souto, p. 136).
Levando em consideração esse entre-lugar, citado pela autora, localizamos nas periferias e no projeto Favelagrafia uma forte busca pela afirmação das identidades culturais e a luta por reconhecimento da negritude, como possibilidade de recriar existências dentro do espaço social Desse modo, através da internet, do celular e dessas estratégias, são criados espaços de mediação que desterritorializa a favela abrindo fronteiras espaciais que alcançam diferentes indivíduos Operando a partir de aquilombamentos artísticos contemporâneos (Meirinho, 2021), a contravisualidade negra-periférica vai se fortalecendo como uma tentativa de reorganização visual do imaginário construído sobre pessoas negras-periféricas Na perspectiva de Meirinho (2021, p. 162), "as transformações neste território simbólico são rasuras provocadas por modos distintos de viver o lugar que se habita, e no centro disso tudo opera uma hermenêutica do corpo aglutinado e acolhido no quilombo".
Neste sentido, essa desterritorizalização, proposta também pelo ideal de quilombo como instrumento ideológico, tem provocado rupturas e criado espaços para o fortalecimento de estéticas decoloniais produzidas pelos indivíduos desses grupos subalternizados (Nascimento, 1985; Meirinho, 2021), como é o caso do coletivo estudado neste artigo que pode ser entendido como um aquilombamento artístico visual.

Além disso, a busca por visibilidade é ainda mais fortalecida em sistemas de aquilombamentos virtuais, já que a comunidade, o coletivo, os artistas e dispositivos de captação de imagens estão envolvidos e se unem para representar seus corpos, vivências e olhares próprios na internet, demarcando a atuação, a relevância, a potência e o artivismo da negritude nas comunidades periféricas, fortalecendo a identidade cultural e promovendo novos espaços de representação para os corpos negros periféricos na sociedade. Por isso, a população negra das periferias tem encontrado no aquilombamento artístico, visual e midiático a possibilidade de recriar lugares, imagens e significados. É um modo de vida que se virtualiza como forma de ³(re)existência em um contexto no qual o racismo é elemento social estruturante´ (Veloso e Andrade, 2021).
Dessa forma, a partir dos seus olhares e não do olhar do outro o outro colonizador os artistas visuais do Favelagrafia encontram caminhos de representação, reafirmando a cultura negra-periférica como parte da identidade cultural do povo brasileiro, demonstrando sua pluralidade a partir dos esforços coletivos e individuais em busca de representatividade e da construção e fortalecimento de suas culturas através da visualidade
Considerações finais
Entendo a produção imagética dos fotógrafos negros periféricos como um lugar de construção de novos significados. O olhar negro sobre os corpos negros se localiza neste espaço de manifestação política e estética, desafiando as estruturas de poder e propondo ³uma ruptura na estrutura da visualidade que molda os modos de ver, pensar, sentir e, consequentemente, agir no mundo´ (Torezani; Abreu, 2021, p. 103). É também um espaço de negociações, em que esses indivíduos buscam afirmação das suas identidades culturais e lutam pelo reconhecimento de suas negritudes. Se agarram a isso como uma possibilidade de recriar existências

Percebo que é a partir do surgimento e da organização coletiva de fotógrafos e fotógrafas negras das periferias pensando o coletivo não apenas como uma união institucional mas como uma organização social de pessoas com o objetivo comum de propor um novo regime de representação para os corpos negro , que se fundamenta e se fortalece a contravisualidade negra-periférica proposta conceitualmente neste artigo
Portanto, aquilombar-se em coletivos de fotografia é uma estratégia de representação, proteção, posicionamento político e sobrevivência. É também uma proposição antirracista de transcodificação, de transformação das imagens negativas da população negra em muitas imagens positivas de sua arte, cultura, história e vivência (Hall, 2016; Meirinho, 2021), conferindo um outro sentido a um significado existente, propondo um novo regime visual sobre os corpos negros-periféricos a partir de uma contravisualidade de nasce de dentro das comunidades pelos olhares negros que nela habitam
ANDRADE, Alice Oliveira de. Aquilombamento virtual midiático: uma proposta teórico-metodológica para o estudo das mídias negras Orientador: Maria do Socorro Furtado Veloso 2023 341f Tese (Doutorado em Estudos da Mídia) - Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023
AZOULAY, Ariella Aïsha. Toward the Abolition of Photography¶s Imperial Rigths. In: COLEMAN, Kevin; JAMES, Daniel (org.). Capitalism and the Camera: Essays on Photography and Extraction Verso Books, 2021
BENTES, Ivana. Redes Colaborativas e Precariado Produtivo. Periferia, [S. l.] , v. 1, n. 1, 2012 DOI: 10 12957/periferia 2009 3418 Disponível em: https://www epublicacoes.uerj.br/periferia/article/view/3418. Acesso em: 13 nov. 2023.
D¶ANDREA, Tiaraju. Contribuições para a definição dos conceitos periferia e sujeitas e sujeitos periféricos Novos estudos CEBRAP, v 39, p 19-36, 2020 Disponível em: https://www.scielo.br/j/nec/a/whJqBpqmD6Zx6BY54mMjqXQ/. Acesso em: 10 nov. 2023
FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: Ed. UFBA, 2008. HALL, Stuart. Identidade cultural e diáspora. Comunicação & Cultura, n. 1, p. 21-35, 2006

HALL, Stuart Cultura e representação Rio de Janeiro: PUC-Rio - Apicuri, 2016
hooks, bell Olhares Negros: raça e presentação Trad Stephanie Borges São Paulo: Elefante, 2019.
hooks, bell Pertencimento: uma cultura do lugar Tradução de Renata Balbino São
Paulo-SP: Elefante, 2022
KILOMBA, G Ilusões Vol I Narciso e Eco In: Grada Kilomba: Desobediências
Poéticas São Paulo: Pinacoteca de São Paulo, 2019
MEIRINHO, Daniel. AQUILOMBAMENTOS ARTÍSTICOS CONTEMPORÂNEOS: RETERRITORIALIZAÇÕES SIMBÓLICAS NA FOTOGRAFIA NEGRA
BRASILEIRA. Contemporanea: Revista de Comunicação e Cultura, v. 19, n. 3, 2021.
MOMBAÇA, Jota Não vão nos matar agora Rio de Janeiro: Cobogó, 2021
MIRZOEFF, N. Como ver el mundo: una nueva introducción a la cultura visual.
Barcelona: Paidós, 2011
NASCIMENTO, Beatriz. O conceito de quilombo e a resistência cultural negra. Afrodiáspora, Rio de Janeiro, n. 6/7, 1985.
SOUTO, Stéfane Silva de Souza Aquilombar-se: insurgências negras na gestão cultural contemporânea. Metamorfose, Salvador, v. 4, n. 4, p. 133-144, 2020.
SOUZA, Neusa Santos Torna-se negro ou As vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. 1 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2021.
TOREZANI, J. N.; ABREU, E. R. DE. Contravisualidades a partir da série Olhares
Negros Esferas, n 22, p 98-112, 24 dez 2021
VELOSO, Maria do Socorro Furtado; ANDRADE, Alice de Oliveira. Aquilombamento virtual midiático: Uma estratégia metodológica para o estudo das mídias negras Alceu: Revista de Comunicação, Cultura e Política, v 21, n 44, 2021

Fotojornalismo antirracista e novas matrizes de visualidade
negra1
Antiracist photojournalism and new matrices of black visuality
Alice Oliveira de Andrade2
Resumo:
Se, em uma perspectiva histórica, a fotografia muitas vezes pôs o racismo em relevo, atualmente há um movimento do fotojornalismo contemporâneo em que a narrativa visual é utilizada como uma prática de aquilombamento. Este artigo reflete sobre a relação entre o fotojornalismo, a luta antirracista e seus possív eis enquadramentos na busca de novas matrizes de visibilidade para a fotografia midiática. Reflete-se como os atravessamentos interseccionais fazem com que a imagem jornalística demarque um lugar de identidade, reconhecimento e subjetividade.
Palavras-chave: Fotojornalismo antirracista. Aquilombamento. Visualidade.
Abstract: From a historical perspective, photography often highlighted racism. Currently, however, there is a contemporary photojournalism movement using visual narratives as a practice of "aquilombamento". This article reflects on the connectionbetween photojournalism, the antiracist struggle, and its potential frameworks in the search for new matrices of visibility in media photography. It explores how intersectional perspectives allow journ alistic images to mark spaces of identity, recognition, and subjectivity.
1 Trabalho apresentado ao GT3 - Política, imagem e contravisualidades do Encontro Imagem + Política + Estética: territórios fluidos do contemporâneo, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife - PE, 05 a 07 de junho de 2024
2 Professora substituta dos cursos de Jornalismo e Audiovisual da Universi dade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Doutora e mestra pelo Programa de Pós -graduação em Estudos da Mídia (PPgEM/UFRN). Integrante dos grupos de pesquisa VISU - Laboratório de Práticas e Poéticas V isuais e DESCOM - Insurgências Decoloniais, Comunicação, Artes e Humanidades. E-mail: aliceandrade@live.com Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3140699044086064

Keywords: Antiracist photojournalism. Aquilombamento. Visuality.
1 Introdução
Em um país construído sob as colunas da escravização de pessoas africanas em diáspora e afrobrasileiras, ao longo da história surgiram diversas iniciativas de resistência que visavam reposicionar os corpos negros a uma distância necessária de ideias colonialistas, subalternizantes e racistas (Borges, 2020). Se a prática fotográfica constrói narrativas, o fotojornalismo assume um caráter informativo, histórico, documental, opinativo e social. Assim, desde o seu surgimento, tem sido um espaço para a construção de narrativas e formação de opinião pública (Sousa, 2004; Buitoni, 2011; Boroski, 2020).
No entanto, no sentido latu e strictu, também tem sido historicamente utilizado para perpetuar estereótipos e reforçar estruturas sociais desiguais.
No contexto da história do fotojornalismo, não é possível ignorar o papel das imagens na subalternização de pessoas negras , pois podem, conscientemente ou não, criar, propagar e perpetuar estigmas e preconceitos na sociedade (Chiodetto, 2008) Essas fotografias, muitas vezes produzidas a partir de lógicas colonialistas, refletiam e perpetuavam as hierarquias raciais existentes, apresentando os indivíduos negros de forma desumanizada e subordinada (Koutsoukos, 2013).
No entanto, um novo movimento começou a ganhar força, co m fotojornalistas negros afirmando sua presença e reivindicando uma produção fotográfica que sirva à luta antirracista. Esses profissionais estão desafiando as narrativas tradicionais e buscando criar imagens que refutem estereótipos e ofereçam representações mais autênticas das realidades negras. É um trabalho que visa “romper com o lugar-comum e construir um caminho de reflexão e empoderamento, ao ressignificar a forma como as imagens são produzidas, e a forma como chegam em pessoas brancas e não -brancas” (Anjos; Melo, 2022, p.09).
Fotojornalistas têm se comprometido a trazer à tona histórias que reflete m a diversidade das experiências negras. Eles buscam capturar momentos que humanizam e

dignificam seus sujeitos, promovendo uma compreensão mais profunda e matizada das questões raciais. Nesse contexto, a fotografia se torna uma ferramenta não apenas para documentação, mas também para empoderamento e expressão de subjetividade, revelando as diversas formas de resistência e agência das comunidades negras e trazendo à tona "expansões e potencialidades lúdicas no fotojornalismo contemporâneo" (Meirinho, 2020, p.111).
Neste texto, reflete-se sobre a prática de um fotojornalismo comprometido com a luta antirracista que está reformulando a maneira como vemos e entendemos a vida das pessoas negras. Percebe-se que, ao centrar suas próprias vozes e perspectivas, fotojornalistas negros(as) estão criando um corpo de trabalho que além de desafiar a subalternização histórica, contribui ativamente para a luta contra o racismo. Sob a ótica metodológica do aquilombamento (Nascimento, 2021) e de um fotojornalismo contemporâneo engajado (Meirinho, 2020), examina-se como os atravessamentos interseccionais fazem com que a imagem jornalística demarque um lugar de identidade, reconhecimento e subjetividade, abordando como exemplo o trabalho das fotojornalistas Amanda Tropicana (BA) e Luísa Medeiros (RN).
2 Aquilombamento de saberes ancestrais e estético-corpóreos
Os quilombos se configuraram como espaços de resistência onde se recriavam modos de vida africanos e se estabeleciam sistemas autônomos de governança e subsistência, preservando e adaptando tradições culturais, militares e religiosas (Carneiro, 1947; Moura, 2020; Moura, 2022). O aquilombamento, por sua vez, refere-se ao processo de formação e organização dos quilombos, bem como ao ato de se unir para resistir a opressões sociais, culturais e econômicas. Esse conceito vai além do mero ajuntamento físico; envolve a construção de uma identidade coletiva, partilha e a solidariedade entre seus membros. O aquilombamento é um movimento contínuo de resistência e autoproteção que transcende o período da escravidão, permanecendo relevante na

contemporaneidade como prática de afirmação das identidades negras e de luta contra o racismo (Nascimento, 2021; Nascimento, 2019).
Se do quilombo se fez o verbo, o aquilombamento é u m importante símbolo de resistência na história e cultura afro-brasileira que segue abrindo fissuras na colonialidade ainda hoje É uma prática que demonstra a capacidade de organização e a força coletiva de povos que, mesmo sob condições adversas, conseguiram criar espaços para viver com dignidade, subsistir e preservar suas tradições (Munanga, 1996). Para Nascimento (2008, p.91), os quilombos são uma forma de ação que a ancestralidade negra deixou como herança para seu povo, configurando-se como "um instrumento vigoroso no processo de reconhecimento da identidade negra brasileira para uma maior autoafirmação ética e nacional".
Pensar a perspectiva do aquilombamento neste estudo é um processo teóricometodológico inspirado no movimento do Sankofa (Andrade, 2023) , um pássaro mítico africano que olha para trás enquanto voa para frente. Nesse sentido, ao desdobrar as perspectivas dos povos negros, encontramos uma interconexão entr e o passado, o presente e as possibilidades futuras. O aquilombamento, o quilombo posto em ação, resiste e se reinventa em diferentes momentos históricos.
A prática de um fotojornalismo que se propõe a ser antirracista pode ser vista como uma forma contemporânea de aquilombamento, pois evocam-se, nessa prática, saberes que são concomitantemente ancestrais e estético-corpóreos A fotografia, assim, se torna uma ferramenta poderosa de representação e afirmaçã o da identidade negra. Afinal, “se, para ser contemporâneo, como preconiza Agamben, é preciso entre cruzar passado, presente e futuro, esta também é uma aposta nas possibilidades que a fotografia contemporânea oferece” (Gonçalves, 2020, p.68).
São imagens produzidas na perspectiva da “fabulação do documento” (Gonçalves, 2020) que reinterpreta, reimagina e oferece formas outras e engajamento e compree nsão das fotografias. Para o autor, todo documento fotográfico é, de certa forma, uma

construção que reflete tanto a visão do fotógrafo quanto as complexas realidades sociais e políticas, pois "não se trata de produzir um registro com um fim em si mesmo" (p.71).
Além disso, a contemporaneidade e as ambiências digitais oferecem aos fotojornalistas - desde que não ligados a uma expectativa editorial de veículos comerciais - uma vasta liberdade na utilização de diversas linguagens visuais, permitindo a criação de novas percepções e narrativas que vão além do pra gmatismo visual tradicional. Esse fenômeno é especialmente evidente entre os fotojornalistas de rua independentes, que desafiam as convenções estabelecidas e criam interações lúdicas e dinâmicas com o mundo ao seu redor, conforme Meirinho (2020).
Tais interações lúdicas se relacionam a uma dimensão ancestral do aquilombamento, visto que o caráter documental das imagens põe em foco narrativas ancestrais, honram os antepassados e reconhecem a continuidade histórica das lutas negras. Por meio de imagens que conectam passado, presente e futuro, cria-se uma linhagem visual que mantém viva a memória coletiva e a potência de um povo que, muitas vezes, é representado pela imagem jornalística por um viés de sofrim ento, dor e violência (Sontag, 2003; Bazílio, 2020). Evocar um compromisso com a luta antirracista na prática fotojornalística implica no posicionamento de romper com os silêncios que as fotografias podem impor quando distorcem a memória de um povo, já que as imagens dão forma ao mundo em que vivemos porque "a imagem fotográfica permite a presentificação do passado, como uma mensagem que se processa através do tempo" (Mauad, 2004, p.26).
Para Nilma Lino Gomes (2017, p.84), os "saberes estético-corpóreos" referem-se ao conhecimento que emerge da experiência corporal e estética, valorizando as expressões culturais e identitárias de grupos marginalizados, especialmente de populações negras e indígenas. Esses saberes são intrinsecamente ligados à vivência cotidiana e às práticas culturais, incluindo dança, música, rituais e outras formas de expressão artística. Eles representam uma forma de resistência e afirmação identitári a, desafiando as epistemologias tradicionais que frequentemente marginalizam ou ignoram esses conhecimentos. Tais saberes são abordados pelo fotojornalismo antirracista quando

o corpo é visto como espaço de identidade e insurgência, uma morada de saberes d a cultura negra que se colocam em oposição à monocultura do corpo estético hegemônico e eurocêntrico (Gomes, 2017).
Essa perspectiva implica um esforço consciente para desafiar e desmontar estruturas racistas através da visualidade. Por criar novas matrizes de visualidade negra, aqui o fotojornalismo encoraja uma reavaliação crítica dos padrões tradicionais de representação e promove uma visualidade inclusiva e diversa da complexidade das experiências negras, oferecendo outras possibilidades estéticas para se enxergarem sem a necessidade de colocarem em si máscaras de embranquecimento (Fanon, 2008).
Ademais, esse fotojornalismo se inscreve como um ato de resistência cultural e política. Ao aquilombar saberes estético-corpóreos e ancestrais, cria-se um espaço de empoderamento e solidariedade para sobreviver, criando novos tipos de relações, linguagens e éticas manifestadas nas fotografias (Gomes, 2017) Isso permite que as narrativas negras sejam contadas por pessoas negras em uma escrita imagética que também é inscrita, refletindo uma autenticidade que muitas vezes é negada pelos meios de comunicação convencionais. A resistência, portanto, é intrínseca ao próprio ato de documentar e fotografar, em um contexto de aquilombamento artístico contemporâneo (Meirinho, 2021).
Se Gomes (2017, p.94) pontua que “a identidade se constrói de forma coletiva, por mais que se anuncie individual” , O processo de aquilombamento também se reflete na colaboração e na solidariedade entre fotojornalistas e comunidades negras. O ato de fotografar deixa de ser uma simples observação passiva e se transforma em uma troca ativa, onde as vozes e as histórias dos retratados são valorizadas e respeitadas. Este modelo colaborativo fortalece a relação entre o fotógrafo e a comunidade, promovendo um senso de comunidade ampliado.
Por fim, ao considerar o fotojornalismo comprometido com a luta antirracista, reconhecemos a fotografia documental como uma forma de resistênci a e de afirmação de identidades que aceita o desafio de refundar o pensamento crítico a partir do

reconhecimento de singularidades (Mbembe, 2019, p.245). É uma prática que busca não apenas pensar criticamente a realidade, mas também moldá-la, contribuindo para um mundo onde se respiram outras matrizes de visibilidade que não sejam moldadas pelo racismo sufocante.
Embora seja ancorado em uma linguagem documental (Ledo, 1998), o aspecto central do fotojornalismo antirracista está em desafiar e desconstruir as narrativas racistas estruturantes da sociedade. Uma de suas características é o foco na ancestralidade negra, valorizando e documentando as raízes culturais e históricas desse povo. Esse olhar sobre a ancestralidade resgata a memória coletiva e fortalece a identidade racial, oferecendo uma contraposição às imagens estereotipadas e desumanizantes que historicamente têm sido perpetuadas pela mídia convencional (Gomes, 2017)
O fotojornalismo comprometido com a luta antirracista contribui para a desalienação do negro, nos termos de Fanon (2008), em especial no contexto psíquico, já que as fotografias produzidas nessa lógica rompem com a hegemonia do homem branco como "universal" e oferece à cadeia de visualidades outras possibilidades estéticaspermitindo aos corpos negros a oportunidade de reconhecerem a si mesmos através da sua relação com a imagem fotografada. É um exercício de construção de novas referências para habitarem a si mesmos e ao mundo sem ser por uma ótica racista e estereotipada –até porque, para hooks (2020, p.105), “todos os movimentos por justiça social insistiram no reconhecimento de que o pessoal é político” .
São fotografias pensadas em uma perspectiva interseccional, reconhecendo as múltiplas camadas de opressão e identidade que afetam as experiências das pessoas negras, incluindo gênero, classe, religiosidade e sexualidade, por exemplo, como uma urgência política.
O artista visual ou fotógrafo que se identifica como negro indica seu lugar de fala nas suas imagens e traduz politicamente a urgência de um debate racial no seu tempo e na sua história. É uma tentativa de inscrever seu corpo em um

novo ordenamento e reestruturação de narrativas invisibilizadas e silenciadas (Meirinho, 2021, p.160).
Olhando para trás como nos indica o movimento metodológico do Sankofa (Andrade, 2023), é necessário lembrar de fotógrafos como Walter Firmo e Ari Cândido Fernandes, cujas obras desafiam as noções preconcebidas e convidam o público a ver as pessoas negras sob uma perspectiva subjetiva. Walter Firmo é um dos mais renomados fotojornalistas brasileiros, conhecido por seu trabalho que destaca a cultura e a identidade afro-brasileira. Suas fotografias retratam festas populares e manifestações culturais e do cotidiano das comunidades negras no Brasil. Firmo utiliza uma abordagem estética que questiona as representações estereotipadas e negativas historicamente promovidas pela mídia.
Já Ari Cândido Fernandes é um fotógrafo e cineasta cuja obra também se centra na representação da identidade e da resistência das comunidades negras. Em texto publicado na Revista Zum, Ari Cândido é considerado o primeiro fotojornalista negro de guerra do Brasil3. Seu trabalho fotográfico é marcado por uma forte conexão com o fotodocumentarismo, pois captura a realidade cotidiana das periferias urbanas e rurais do Brasil. Fernandes destaca-se por sua capacidade produzir imagens carregadas de significados culturais e históricos.
O racismo tem estruturas sofisticadas de perpetuação, sendo o apagamento de trajetórias negras uma estratégia significativa. Embora não sejam comumente citados nas ementas curriculares das disciplinas de Fotojornalismo, as produções de ambos resgatam a ancestralidade e a dignidade das pessoas negras, desafiando as representações preconceituosas e estereotipadas.
3 Disponível em: <https://revistazum.com.br/entrevistas/ari-candido/>. Acesso em: 20 jul. 2024.

4
Enegrecer o fotojornalismo: visualidade e subjetividade negra a partir de Amanda Tropicana e Luísa Medeiros
A menina negra de branco reverencia Iemanjá, com uma rosa na mão e pés molhados pelas ondas (imagem 1). A senhora negra de semblante entristecido segura o jornal com a ilustração de Marielle Franco enquanto clama por justiça aos mil dias de sua morte (imagem 2). Para além da ideia de instrumentalistas do aparato técnico fotográfico, fotojornalistas negras passam, cada vez mais, a articular uma inscrita da sua própria subjetividade e interpretação do mundo em suas produções. É um momento em que se recrudesce a urgência por novas formas de representação e a construção de referências que se posicionem pelo compromisso em "realizar esforços de intervir criticamente no mundo das imagens e transformá-lo, conferindo uma posição de destaque em nossos movimentos políticos de libertação e autodefinição" (hooks, 2020, p.36).
Amanda Tropicana4, uma fotojornalista baiana, é conhecida por seu trabalho que aborda a ancestralidade e a cultura afro-brasileira em Salvador. Suas fotografias têm uma perspectiva documental, de rua e capturam a essência das celebrações culturais e religiosas de matriz africana, como o Candomblé, destacando a beleza, singularidades e a profundidade espiritual dessas tradições. Amanda mostra como as práticas ancestrais continuam a influenciar e enriquecer a vida contemporânea das comunidades negras. Sua abordagem respeitosa e imersiva permite que suas imagens transmitam autenticidade e uma forte conexão com seus temas.
4 <https://www.instagram.com/amandatropicana?igsh=b2xmcW9qNGN1aHpv >. Acesso em: 25 jul.2024.


Luísa Medeiros5, uma fotojornalista potiguar, foca seu trabalho nas histórias de resistência e militância das mulheres negras no Nordeste do Brasil. Suas fotografias frequentemente retratam o cotidiano dessas mulheres, destacando suas lutas e conquistas. Luísa combina técnicas de fotodocumentarismo com elementos de artes visuais, criando imagens que são ao mesmo tempo informativas e críticas. Através de suas lentes, ela desafia os estereótipos e reconstrói o olhar sobre mulheres negras a partir de sua própria subjetividade, mostrando-as como agentes ativos de mudança em suas comunidades. Através de sua abordagem poética e politizada, Luísa utiliza a fotografia para questionar e desconstruir os estereótipos de beleza que marginalizam corpos não conformes aos ideais convencionais.
5 Disponível em: < https://www.instagram.com/_luisamedeiross?igsh=MTFobXN1N2Q3YWZ3dQ ==>. Acesso em: 25 jul.2024.

Imagem 2 - MIL dias sem Marielle. 1.000

Foto: Luísa Medeiros
Ambas as fotojornalistas exemplificam as características do fotojornalismo antirracista, utilizando suas habilidades e subjetividades para criar narrativas visuais que valorizam a ancestralidade, a dignidade e a humanidade das pessoas negras. Através do seu trabalho, revitalizam a consciência crítica e reavivam “as sementes do radicalismo militante” (hooks, 2020, p.254). São fotografias que inspiram reflexão e ação, contribuindo para a transformação das percepções sociais e contribuem diretamente com a luta antirracista
Essa prática assume uma dimensão que transcende a mera captura e exposição de imagens. Aqui, o ser-fotojornalista e o ser-negra se imbricam de maneira intrínseca, configurando uma simbiose que transforma a função do fotógrafo para além dos limites tradicionais de sua profissão. Esta integração enriquece a narrativa visual e reinventa a imagem como um locus de resistência e subjetividade, e não de apenas só uma ferramenta jornalística.

Na tradição eurocêntrica e colonial, a imagem muitas vezes é utilizada como um instrumento de objetificação ou exotificação do "outro". No entanto, quando o fotojornalista se identifica e se alinha com a negritude, ele/ela desafia e subverte essa forma de olhar. A identidade do fotojornalista impregna a prática fotográfica com uma intencionalidade crítica e consciente, em que a imagem passa a carregar camadas de significado que vão além da superfície. A fotografia, então, não serve apenas para documentar ou informar; ela se torna um meio de contestação e afirmação identitária. São imagens que nos convocam a olhar esses corpos por um outro viés, tal qual o pensamento de Didi-Huberman (2012, p.216) ao afirmar que “uma imagem bem olhada seria, portanto, uma a imagem que soube desconcertar, depois renovar nossa linguagem, e, portanto, nosso pensamento” .
Este processo pode ser visto como uma prática de autorrepresentação que empodera subjetividades negras. Ao capturar e divulgar imagens que refletem as vivências, tradições e resistências das comunidades negras, Amanda Tropicana e Luísa Medeiros antirracista constroem um espaço visual onde essas narrativas são legitimadas e visibilizadas. A imagem torna-se um território de luta simbólica (Bourdieu, 1989), em que se batalham as representações racistas e se reescrevem histórias através do olhar e da lente engajada.
A prática fotográfica de Amanda e Luísa desafiam os monolitos de poder que historicamente marginalizaram esses corpos e oferece um contra-discurso que se põe à margem das representações estereotipadas (Veloso, 2014). Não é apenas a imagem que é transformada, mas o próprio ato de fotografar é ressignificado como um exercício de resistência, agência e reivindicação identitária. Assim, no fotojornalismo antirracista, a câmera não é mais um mecanismo; é imbuída de vivências, lutas e histórias, parte de "um projeto social, cultural, educacional, político, ético e epistêmico em direção à descolonização e à transformação” (Oliveira; Candau, 2010, p.27). A prática fotográfica, por conseguinte, se consubstancia em um espaço de reencontro consigo mesmo e com o coletivo, em que a imagem não é apenas

vista, mas sentida, reconhecida e valorizada como um artefato de resistência e um documento da luta antirracista.
5 Considerações finais
Uma prática fotojornalística antirracista busca desconstruir as narrativas visuais de imprensa que historicamente retrataram corpos negros de maneira estereotipada, em lógicas de dor e violência ou mesmo desumanizada. Em vez disso, procura-se complexificar a representação de experiências negras, destacando a diversidade de vivências, perspectivas, histórias e perspectivas estéticas que transcendem à dimensão ilustrativa da fotografia jornalística. Nessa abordagem, corpos negros tomam o protagonismo na construção de uma partilha do sensível (Rancière, 2005) e apresentam ao mundo novas formas de existência no tecido visual midiático, dessa vez distantes de lógicas opressoras.
Fotografar, nessa lógica, é depor sobre si e sobre o outro, é trazer à tona as possibilidades que narrativas visuais podem oferecer à luta antirracista e ao documentarismo fotográfico (Ledo, 1998). As produções fotográficas feitas por fotojornalistas negras agem como um contra -discurso à lógica hegemônica, pois operam à revelia e contraponto às lógicas meramente técnico-mercadológicas (Veloso, 2014).
Ao exercitar a ideia de um fotojornalismo antirracista, não se pretende criar um novo conceito ou aderir à prática de cunhar termos novos para perspectivas já existentes.
Em vez disso, o objetivo é pensar na coexistência de dois campos que, quando imbricados, transcendem o caráter meramente informativo. Essa interseção assume uma dimensão crítica, subjetiva, histórica e insurgente, desafiando as narrativas dominantes e promovendo uma compreensão mais profunda e transformadora da realidade social de corpos negros.
As novas matrizes de visualidade oferecidas pelo fotojornalismo antirracista desafiam as normas estéticas convencionais e possibilitam um espaço para a experimentação, a contestação e a reimaginação da identidade negra. Por reconhecer a

importância do contexto histórico, social e político na produção e na recepção das imagens, essa prática busca oferecer à paisagem de produções visuais novas possibilidades narrativas que desafiam as estruturas de poder dominantes e oferece uma visão mais complexa da experiência negra. Assim, busca eliminar as margens de subalternidade através de uma construção visual política, disruptiva, transgressora e libertadora.
ANDRADE, Alice Oliveira de. Aquilombamento virtual midiático: uma proposta teóricometodológica para o estudo das mídias negras. Orientador: Maria do Socorro Furtado Veloso. 2023. 341f. Tese (Doutorado em Estudos da Mídia) - Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023.
ANJOS, Myrlla Raffene dos; MELO, Rostand de Albuquerque. Fotojornalismo e identidade negra: uma análise das fotografias de Amanda Oliveira e Nayara Jinknss. In: V GRÃO FINO: SEMANA DE FOTOGRAFIA, 2022, Campina Grande/PB. Anais. Campina Grande/PB: [s.n.], 2022.
BAZÍLIO, Emanuele de Freitas. Ética e deontologia do fotojornalismo: estudo de caso sobre a prática fotojornalística contemporânea nos conflitos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (AM) e da Penitenciária Estadual de Alcaçuz (RN). 2020. 167f. Dissertação (Mestrado em Estudos da Mídia) - Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2020.
BORGES, Rosane. O papel das mídias negras na implosão de imaginários. In: Mapeamento da mídia negra no Brasil. Fórum Permanente Pela Igualdade Racial (Fopir), 2020. Disponível em: <http://fopir.org.br/wpcontent/uploads/2020/08/ebook_mapeamento_da_midia_negra -1.pdf> Acesso em: 07 jul. 2024.
BOROSKI, Márcia. Fotojornalismo: técnicas e linguagens. 1ª ed. Curitiba: InterSaberes, 2020.
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.
BUITONI, Dulcilia Schroeder. Fotografia e Jornalismo: a informação pela imagem. 1ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011.
CARNEIRO, Edison. O quilombo dos Palmares. São Paulo: Editora Brasiliense, 1947.

CHIODETTO, Eder. Fotojornalismo: realidades construídas e ficções documentais. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde -05072009-232727/. Acesso em: 30 jul. 2024.
DIDI-HUBERMAN, Georges. Quando as imagens tocam o real. Tradução de Patrícia Carmello e Vera Casa Nova. PÓS: Revista do Progr ama de Pós-graduação em Artes da EBA/UFMG, p. 206-219, 30 nov. 2012.
FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008.
GOMES, Nilma Lino. O movimento negro educador: saberes construídos na luta por emancipação. Petrópolis, RJ: vozes, 2017.
GONÇALVES, Fernando do Nascimento. Estéticas e políticas da representação na fotografia contemporânea. Porto Alegre: Sulina, 2020.
hooks, bell. Ensinando pensamento crítico: sabedoria prática; tradução Bhuvi Libanio. São Paulo: Elefante, 2020.
KOUTSOUKOS, Sandra Sofia Machado. Negros no estúdio do fotógrafo. Campinas: Editora Unicamp, 2013.
LEDO, Margarita. Documentalismo fotográfico: êxodos e identidad. Madrid: Ediciones Cátedra, 1998.
MAUAD, Ana Maria. Fotografia e História: possibilidades de análise. In: CIAVATTA, Maria; ALVES, Nilda (orgs.). A leitura de imagens na pesquisa social: história, comunicação e educação. São Paulo: Cortez, 2004, p. 19-36.
MBEMBE, Achille. Sair da Grande Noite: ensaio sobre a África descolonizada. Trad. Fábio Ribeiro. Petrópolis, RJ: Vozes, 2019.
MEIRINHO, Daniel. Práticas contemporâneas no fotojornalismo: o jogo de interações. Revista Temática, ano XVI, n. 06, jun. 2020, p. 109-124. NAMID/UFPB.
MEIRINHO, Daniel. Aquilombamentos artísticos contemporâneos. Revista Contemporânea de Comunicação e Cultura. v. 19, n.03, 2021. p.157-178.
MOURA, Clóvis. Os quilombos e a rebelião negra. Coleção Tudo é História. São Paulo: Editora Dandara, 2022.
MOURA, Clóvis. Quilombos: resistência ao escravismo. São Paulo: Expressão Popular, 2020.

MUNANGA, Kabengele. Origem e histórico do quilombo na África . Revista USP, n. 28, p. 56-63, 1996. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/revusp/ article/view/28364>. Acesso em: 10 mai. 2024.
NASCIMENTO, Abdias. O quilombismo: documentos de uma militância pan-africanista. 3ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2019.
NASCIMENTO, Beatriz. O conceito de quilombo e a resistência afro -brasileira. In: NASCIMENTO, Elisa Larkin. Cultura em movimento: matrizes africanas e ativismo negro no Brasil. p. 71-91. São Paulo: Selo Negro, 2008.
NASCIMENTO, Beatriz. Uma história feita por mãos negras. Org.: Alex Ratts. 1ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2021.
OLIVEIRA, Luis F; CANDAU, Vera, M. F. Pedagogia decolonial e educação antirracista e intercultural no Brasil. Educação em Revista. v.26,n.1, abr/2010, p.15-40.
POIVERT, M. Preface. In: LENOT, M. (Ed.). Jouer contre les appareils: de la photographie experimentale. Éditions Photosynthèses, 2017. p. 9 -14.
RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. Tradução: Mônica Costa Netto. São Paulo: EXO Experimental / Editora 34, 2005.
SARDELICH, Maria Emília. Leitura de imagens, cultura visual e prática educativa. Departamento de Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana - BA, 2006.
SONTAG, Susan. Diante da dor dos outros. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
SOUSA, Jorge Pedro. Fotojornalismo: Uma introdução à história, às técnicas e à linguagem da fotografia na imprensa. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2004.
VELOSO, Maria do Socorro Furtado. Imprensa e contra-hegemonia: 20 anos do Jornal Pessoal (1987-2007). Belém: Paka-Tatu, 2014.

The space dispute in Azougue Nazaré
Mayara Moreira Melo2
Resumo: Visto a assídua disputa pelo espaço entre as igrejas cristãs e os povos tradicionais em Pernambuco, este artigo visa analisar, através do longa Azougue Nazaré, de Tiago Melo, como o cinema pernambucano aborda essa disputa simbólica pelo território. Para isso, foram mapeadas e analisadas cenas que exibem essa desavença, especificamente entre a igreja evangélica e o maracatu Também foram aplicados conceitos como de oralitura de Martins (2021) e desterritorialização de Deleuze e Guattari (1995).
Palavras-chave: Cinema pernambucano; Território; Colonialidade.
Abstract: Seen there is frequent dispute for space among christian churches and traditional people in Pernambuco, this article aims to analyze, through the feature film Azougue Nazaré, by Tiago Melo, how the pernambuco cinema approaches this symbolic dispute over territory For this purpose, scenes that display this disagreement are mapped and analyzed, specifically between the evangelical church and the maracatu. Also concepts such as spiral time were also applied by Martins (2021) and deterritorialization by Deleuze and Guattari (1995) were applied.
Keywords: Pernambuco cinema; Territory; Coloniality
1 Trabalho apresentado ao GT3 - Política, imagem e contravisualidades do Encontro Imagem + Política + Estética: territórios fluidos do contemporâneo, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), RecifePE, 05 a 07 de junho de 2024.
2 Mayara Moreira Melo, UFPE, mayara moreira@ufpe br

1. Introdução
A disputa simbólica pelo espaço entre os povos tradicionais e as igrejas cristãs em Pernambuco ocorre desde o princípio do projeto colonial. Azougue Nazaré (2018), primeiro longa metragem do diretor pernambucano Tiago Melo, tem como mote o sumiço de cortadores de cana que também são caboclos de lança, e trata das relações espaciais que se dão em Nazaré da Mata (PE). Sob um olhar que se centra na resistência e celebração do Maracatu Cambinda Brasileira, o filme aborda como a igreja evangélica, representada pelo pastor Barachinha (Mestre Barachinha), e irmã Darlene (Joana Gatis), culpabiliza a organização do maracatu rural pelo ocorrido, incriminando e perseguindo pai Nani (Ananias de Caldas), pai de santo dos membros do maracatu da cidade
Os confrontos entre crenças e tradições se materializam em exemplos como do pastor Barachinha, ex integrante do maracatu rural que passou a servir as normas da igreja, e do envolvimento de Pai Nani (Ananias de Caldas) na fé que rege o bloco rural Desse modo, o pai de santo é em diversos momentos ameaçado e violentado. Um dos grandes diferenciais de Azougue Nazaré é a presença de integrantes reais do Maracatu Cambinda Brasileira e de outros blocos rurais, como Mestre Barachinha, Valmir do Coco, Mestre José Joaquim, Mestre João Paulo, Mestre Anderson, Dona Biu, madrinha do maracatu, e Zé de Carmo, presidente do maracatu
O longa foi exibido pela primeira vez na mostra Bright Future Award, do Festival Internacional de Cinema de Roterdã em 2018, em que ganhou como melhor filme. No ano de sua exibição, ganhou diversos prêmios e homenagens como o prêmio de Melhor Diretor na Competição internacional e Melhor Filme por Júri Feisal no Festival Internacional de Cine Independente de Buenos Aires (BAFICI), também em 2018 no Lima Independiente Film Festival e no Duhok International Film Festival levou Menção Honrosa na competência ibero-americana, Ostrava Kamera Oko com o Grande Prêmio Câmera, no Festival de Cine La Orquídea Cuenca na categoria melhor ator para

Valmir do Coco, e no Festival do Rio nas categorias Prêmio Especial do Júri, Melhor
Ator e Melhor Montagem, dentre outros
Azougue questiona elementos contínuos da tradição e padrões coloniais como a condenação do cristianismo diante das manifestações culturais afro-brasileiras como o maracatu, conflito central do trabalho de Tiago Melo Além de discutir esse embate, que tem como pano de fundo a racialidade como segregadora desta discussão, ao passo que o conhecimento da igreja vem dos europeus, e a sabedoria do maracatu vem dos africanos.
Por tanto, este artigo pretende analisar a maneira como se dá a disputa simbólica pelo espaço, suas interferências neste território e, principalmente, como esse conflito de interesses se manifesta na vida das pessoas, dando destaque ao pastor Barachinha que é atravessado por ambos os lados Para isso serão analisadas cenas do longa que evidenciam essas questões ao longo de três seções. Respectivamente: espaço, corpo e embate, em que será desenvolvido primeiramente a noção de territorialidade, posteriormente quem são os agentes que estão em disputa e os contextos que os atravessam e por fim os interesses que conduzem a disputa espacial.

2. Análise
2.1 Espaço
O longa Azougue Nazaré (2018) trata da disputa espacial entre a comunidade evangélica e o maracatu rural Cambinda Brasileira, as duas entidades seguem um fluxo de atuação em que ao mesmo tempo que buscam se apropriar cada um de seu próprio espaço, vivem também um processo de disputa e desejo de que o outro se retire Desse modo, diante das concepções de Deleuze e Guattari em Mil Platôs (1995), é possível conceber que estes agentes realizam um processo de territorialização, isto é, o processo de formação do território em que há um movimento de se apropriar de um determinado espaço. Já a desterritorialização corresponde ao oposto, ao abandono/saída do território.
A partir da proposta de Deleuze e Guattari, queremos pensar a territorialização e a desterritorialização como processos concomitantes, fundamentais para compreender as práticas humanas O problema concreto que se coloca é o de como se dá a construção e a destruição ou abandono dos territórios humanos, quais são os seus componentes, seus agenciamentos, suas intensidades (Haesbaert, 2002, p 1)
Essa concomitância reforça a ideia de aplicabilidade da desterritorialização e territorialização em ambas as partes e suas influências para com o outro Em uma das sequências de cenas do filme de Tiago Melo, membros da igreja se organizam em marcha pelo canavial para a casa de pai Nani, na intenção de persegui-lo e culpabilizálo pelo sumiço dos cinco cortadores de cana que atuam como caboclos de lança no maracatu, e destroem parte de sua casa. Esse movimento da comunidade evangélica evidencia parte da disputa do espaço físico e simbólico entre os dois agentes, a igreja e o maracatu.
Na marcha é possível observar planos geral, como na figura 1 em que a escolha de plano em conjunto com a adoção do plongée permite observar o movimento da comunidade evangélica pelo canavial, além de enfatizar a presença da bíblia na mão dessas pessoas, reforçando a simbologia e a crença dessas pessoas. Bem como o plano

geral dos evangélicos chegando na casa de pai Nani leva o telespectador a localizar o ambiente e notar quão numeroso é o grupo.

Figura 1 - Comunidade evangélica em marcha

Figura 2 - Invasão a casa de pai Nani
Deleuze e Guattari tratam do espaço para além da concepção geográfica, isto é, física, mas com a percepção do espaço simbólico, a formulação de território vai além de sua limitação de demarcação, mas alcançando também seu sentido figurado e afetivo. Há momentos em que o maracatu avança na disputa pelo território no sentido físico, assim como a comunidade evangélica, como quando Catita chega com suas vestes na igreja do pastor Barachinha como forma de afirmar seus valores e enfrentar aquela

moral. Na figura 3 com o plano mais aberto é perceptível notar Catita em um extremo do quadro e Barachinha em outro, simbolizando esse confronto, assim como é possível notar que os demais presentes olham em direção à Catita, enquanto Darlene é a única imóvel e que está no centro dos dois personagens.
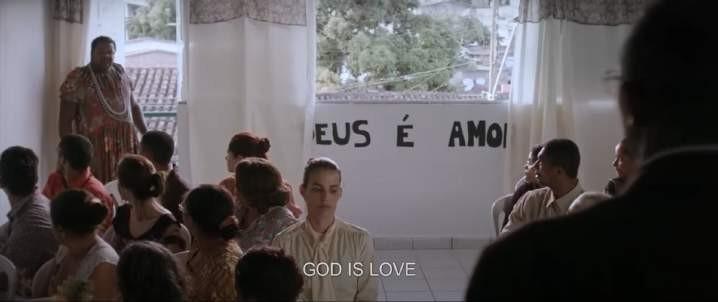
Porém, em outros momentos a disputa pelo espaço em seu sentido simbólico e psicológico fica ainda mais evidente, dando ênfase ao sentido simbólico dessa disputa.
A exemplo de quando os mestres João Paulo e José Joaquim debocham da conversão de Barachinha à igreja evangélica. A sequência se inicia com Barachinha passando pela praça e sendo chamado pelos mestres para conversar, momento em que eles demonstram indignação pela troca de vida de Barachinha, ao ter largado o folguedo e se convertido à igreja, passando a associar o maracatu como algo errado e do ³demônio´ .


Figura 4 - Barachinha e os mestres
Assim como Deleuze e Guattari (1995) refletem uma concepção de território simbólico, para além de seu sentido material, a fusão da identidade do maracatu rural, bem como da comunidade evangélica com o espaço, é cada vez mais evidente ao longo do filme As influências das culturas e do território para além da sua conceituação física afetam e atravessam a vida das pessoas, em Azougue Nazaré (2018) tanto Catita quanto Barachinha vivem em conflito com a vida do maracatu e os princípios da igreja evangélica, mundos que cruzam suas paixões, identidades e pessoas que amam
Enquanto Catita recebe um forte sermão do pastor Barachinha, o personagem de Valmir do Coco entra em uma espécie de transe Em close up, o personagem aparece no meio do canavial trajado com camisa social e blazer. Com o tempo Catita abre os olhos e a câmera começa a se mover ao redor do personagem revelando a bíblia em seu peito e um círculo de evangélicos pregando. Catita se move em círculo olhando aquelas pessoas em uma expressão de desconforto. Nas cenas finais dessa sequência (figura 5) o personagem aparece mais abaixo como se estivesse sentado ou de joelhos em uma articulação mais vulnerável e os evangélicos mais acima, em posição de influência. Por

fim, Barachinha aparece em contra-plongée com vestes formais e uma espécie de capa, em uma atmosfera de superioridade e de julgamento (figura 6)


Figura 6 - Barachinha no canavial
Esta sequência evidencia o conflito vivido pelo personagem interpretado por Valmir do Coco, em que passa boa parte do longa omitindo para sua mulher e para o

pastor da sua participação no maracatu, levando-o constantemente a fazer esforços para se mostrar ³servo de Deus´
Em sonho Barachinha começa uma oração: ³Te agradeço senhor, por mais um dia de paz, vitória e glória nessa tua igreja senhor´ , em seguida ele puxa o apito de mestre para a boca e lhe é colocado o chapéu de mestre de maracatu (figura 7) Depois vê seu filho vestido de caboclo de lança, pai Nani e as vestes dos caboclos no canavial enquanto de fundo Barachinha canta ³Eu peço a Deus, proteção e liberdade´

Em seguida, em close up, é exibido Barachinha acordando e com um plano próximo mostra o pastor sentando na cama, no mesmo momento, observa pela porta do quarto um caboclo de lança passando por sua sala. Barachinha nota a continuidade do movimento do caboclo pelo reflexo da televisão A seguir, a câmera acompanha o movimento do personagem se levantando da cama e, em um plano próximo, seguindo em direção à mesa da sala, Barachinha observa sobre o móvel uma bíblia, em cima dela um apito e uma garrafa de azougue (figura 8), coquetel que contém ervas, bagaço de cana, cachaça e pólvora ingerido pelos caboclos para brincar o carnaval, e ao lado, uma bengala e um chapéu, comumente utilizados pelos mestres de maracatu, em uma variação de plano próximo para close up. A sequência finaliza em uma cena fixada no

rosto do pastor olhando para os objetos de forma reflexiva, em uma mensagem que vaga entre um convite ou uma ameaça a ele

8 - Barachinha sonhando sendo mestre
Os dois personagens que vem do maracatu rural, isto é, de uma tradição de celebração e preservação de identidade de pessoas que foram escravizadas no período colonial no interior do estado de Pernambuco, possuem em suas práticas e vivências saberes antigos que percorrem seu passado, presente e futuro, e assim habitam, como cita Leda Maria Martins (2021), um corpo veículo dessa memória ancestral. ³[...] No âmbito das oralituras, o corpo é um portal que, simultaneamente, inscreve e interpreta, significa e é significado, sendo projetado como continente e conteúdo, local, ambiente e veículo da memória [...] (Martins, 2021, p. 85).
Em suma, ambos os personagens sofrem a influência e a pressão do cristianismo pela demonização aos cultos de matriz afro e indígena, em uma persistência de apagamento e esvaziamento dessas práticas, mas devido às relações, suas histórias, paixão e espiritualidade pelo maracatu, essa cultura não abandona esses corpos. A exemplo de Barachinha que, mesmo assumindo o cargo de pastor, o maracatu não deixou de fazer parte dele, como fica implícito com a mensagem do caboclo de lança no final da sequência (figura 8).

2.1 Embate
A prática do projeto colonial no Brasil conduziu a uma massiva catequização das comunidades indígenas, através do apagamento, esvaziamento e demonização dos valores, crenças e hábitos ancestrais dos povos nativos. Esta organização e projeção teve como suporte a gesticulação da igreja católica no intuito de territorializar aquelas terras, bem como os corpos e a cultura presente naquele espaço.
No presente, a comunidade evangélica vem firmando raízes em todo o país reforçando os valores da moral cristã, mas em uma nova roupagem Há uma continuidade do processo de evangelização, tornando o número de integrantes da igreja cada vez maior Assim como o movimento de aculturação e perseguição de manifestações culturais e espirituais que diferem dos princípios da organização evangélica, a exemplo da repressão para com os blocos de maracatu rural
A continuidade desses valores e práticas corresponde ao processo da colonialidade, que Quijano (2005) relaciona como ³o padrão mundial do poder capitalista´ e que se baseia na categorização racial e étnica, isto é, diz respeito a heranças do colonialismo e assim da continuidade ao projeto colonial.
Essa projeção estimula o abandono e a rejeição das culturas tradicionais, como é o caso de Barachinha, que viveu como mestre de maracatu cultuando os ensaios, sambadas e festejos da tradição, e após entrar na igreja evangélica, assumiu como missão converter os demais companheiros do maracatu para sua igreja
Em determinada sequência, em uma variação de plano próximo e close up, e posteriormente uma transição de foco entre pai e filho, o pastor questiona seu filho por não poder ir para o retiro da igreja durante o carnaval (figura 9). Após Ítalo afirmar que ainda toca no maracatu, Barachinha se revolta e reforça a vergonha que é não ter conseguido levar seu filho à igreja, mesmo depois de converter caboclos, baianas e mestres de maracatu.


Figura 9 - Ítalo e Barachinha conversam
Apesar de Barachinha assumir um lugar de reprodução desses valores, está distante de uma posição violenta, ou mesmo próxima da figura do colonizador O pastor viveu a vida de mestre de maracatu junto dos seus, cultuando suas crenças e tradições, se aproximando muito mais de um agente contra colonizador, que por definição de Nego Bispo (2015), contra colonização corresponde a ³todos os processos de resistência e de luta em defesa dos territórios dos povos contra colonizadores, os símbolos, as significações e os modos de vida praticados nesses territórios ´ (Santos, 2015, p 48)
Dessa forma, contra colonizadores diz respeito às pessoas que desde o período colonial resiste em defesa de seus territórios e identidades, como povos indígenas e quilombolas
3. Conclusão
Este estudo teve por objetivo identificar como o cinema pernambucano aborda a disputa simbólica pelo território, usando o longa Azougue Nazaré (2018) de Tiago Melo como objeto de pesquisa A participação ativa de membros do Cambinda Brasileira na concepção do filme, em elementos como roteiro e preparação de elenco, conduziu a

narrativa do longa-metragem para uma maior aproximação da realidade dessas pessoas, como a relação de igrejas evangélicas com o maracatu rural e a disputa simbólica pelo espaço que atravessa esse relacionamento.
Perceber esse embate sob o território em sua concepção física como também simbólica, permite conceber que a disputa não se limita ao espaço material, mas abrange para a dominação, e assim expulsão, da cultura ancestral da região. Desse modo, compreender a densidade de como se dá essa disputa, permite observar como a conversão à igreja, por exemplo, acontece de modo minucioso, sob grande pressão e que cerca a subjetividade dessas pessoas, e por vezes conduz culturas populares e tradicionais a reduzir suas práticas e assim desaparecer
Nota-se a importância de analisar o debate contemporâneo da interiorização de igrejas evangélicas pelo cinema pernambucano, bem como a complexidade dessas relações. Barachinha é um personagem que mais se aproximaria de representar a figura da comunidade evangélica, porém está, assim como os demais, vivendo sob a influência da moral cristã, refém de um sistema que conduz ao apagamento e abandono das culturas tradicionais.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol. 1. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995 Coleção Trans, 2001
HAESBAERT, Rogério; BRUCE, Glauco. A desterritorialização na obra de Deleuze e Guattari GEOgraphia, v 4, n 7, p 7-22, 2002
MARTINS, Leda Maria. Performances do tempo espiralar, poéticas do corpo-tela. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, Edgardo (Org.) A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Buenos Aires: Clacso, 2005
SANTOS, Antônio B. Colonização, quilombos: modos e significados. Brasília: INCTI/UnB, 2015

Considerações sobre educação e vigilância dos corpos queer em Close (2022) e Monster (2023)1
On education and discipline of queer bodies in Close (2022) and Monster (2023)
Catarina Andrade2
Eduardo Santiago3
Resumo: Dentro de uma perspectiva da vigilância de corpos queer de garotos na adolescência, e tendo em vista o ambiente da escola e sua relação com a família, o presente trabalho traça um paralelo entre os filmes Close (2022, Lukas Dhont) e Monster (2023, Kore-eda Hirokazu). Através dos filmes, tentamos enxergar como os corpos jovens de seus personagens principais são atravessados por constantes tentativas de controle e como isso faz com que eles sejam reprimidos de expressar livremente sua sexualidade.
Palavras-chave: Cinema queer; Cinema e educação; Pedagogias da sexualidade
Abstract: In a perspective of discipline of queer bodies during boyhood and considering the scholar environment and its relationship with families, this paper brings an analysis of the films Close (2022, Lukas Dhont) and Monster (2023, Kore-eda Hirokazu). Through those films, we¶ve tried to analyze how the young bodies of its characters are crossed by constant attempts of controlling and how this causes them to be repressed from freely expressing their sexuality
Keywords: Queer cinema; Cinema and education; Sexuality and pedagogy.
1 Trabalho apresentado ao GT3 - Política, imagem e contravisualidades do Encontro Imagem + Política + Estética: territórios fluidos do contemporâneo, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), RecifePE, 05 a 07 de junho de 2024.
2 Catarina Andrade é Doutora em Comunicação/Cinema (PPGCOM/UFPE) Professora do Departamento de Letras da UFPE Professora e pesquisadora no Programa de Pós-graduação em Comunicação (PPGCOM-UFPE), atuando principalmente nas áreas de Estética do Audiovisual, Cinema e Literatura, Cinema e Educação Lattes: http://lattes cnpq br/9445122899703021
3 Eduardo Santiago é mestrando no PPGCOM - UFPE; email: eduardo.eass@ufpe.br; Lattes: https://lattes cnpq br/6805362204319296

Com a insurgência (e emergência) de pautas referentes à diversidade na sociedade contemporânea, novas formas de se viver e imaginar narrativas são refletidas também no cinema. Nesse sentido, duas produções recentes nos chamam atenção e são objeto para análise que propomos: Close (2022, dirigido por Lukas Dhont) e Monster (2023, dirigido por Kore-eda Hirokazu). Ambos os filmes tiveram suas estreias no Festival de Cannes, com apenas um ano de diferença, sendo Close o vencedor do Grand Prix do júri do festival em 2022 e Monster parte da seleção oficial do festival em 2023
Close também recebeu uma indicação ao Oscar (premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas) de Melhor Filme Estrangeiro em 2023 As duas obras possuem características em comum quanto aos temas que retratam: o comportamento de instituições como a escola e a família para com os corpos queer quando na infância/adolescência Levando isso em consideração, o presente artigo pretende analisar essas obras numa perspectiva envolvendo cinema-educação, pensando as pedagogias da sexualidade nessas obras sob uma lógica ³educativa´ e ³pedagógica´ , dentro dos muros da escola e para além deles. Partimos das considerações sobre pedagogias da sexualidade feitas por Guacira Lopes Louro (2018), pesquisadora que articula questões de gênero, sexualidade e teoria queer com o campo da Educação e da relação entre poder e sexualidade, abordada por Michel Foucault em História da Sexualidade (1988) e de vigilância dos corpos em Vigiar e Punir (1997)
Aproximamos nossas reflexões do campo de uma pedagogia da imagem tendo em vista que "a imagem pensa e faz pensar, e é nesse sentido que ela contém uma pedagogia intrínseca" (Leandro, 2001, p.31). Ainda segundo Leandro, "uma imagem ensina na medida em que ela, tanto do ponto de vista formal quanto de conteúdo, veicula um pensamento, encorajando assim o pensamento do espectador" (Leandro, 2006, p.34). Apesar dessas afirmações aparentarem uma certa clareza sobre o caráter pedagógico da imagem, é inquietante a dificuldade de responder, por exemplo, o que uma imagem ensina e como ela ensina algo. Em um texto intitulado Ver este tiempo.

Las formas do real, a professora e pesquisadora da Faculdade de Ciências Sociais de Buenos Aires, Sandra Carli, propõe pensar uma pedagogia da imagem que inclua os silêncios e que convide o espectador a um encontro com o conhecido e com o desconhecido (Carli, 2006). Para Carli, La construcción de una distancia es también una ética; supone el registro del límite, de lo que es posible conocer-ver (p 93, 2006)
Nesse sentido, aproximamos Carli das reflexões de Jacques Rancière sobre o conceito de cena; sobre as relações do visível e do não-visível na experiência do olhar do espectador Segundo Rancière, há sempre na cena, se assim quisermos, um fora de cena. Mas esse fora de cena funciona para construir a espessura do tecido sensível e inteligível que confere ao quadro sua potência sensível de condensação e não como desvelamento do que a cena poderia estar escondendo. (2022, p.86)
Presença e ausência é um pressuposto de toda imagem e é na relação desses regimes, de visibilidade e de invisibilidade, que a imagem é atravessada para além do estético, ou seja, por questões de ordem política, ética e (porque não?) pedagógica. Também é na relação do visível e do não-visível que o espectador experimenta as imagens. Por isso, Rancière denuncia as "lógicas pedagógicas que querem utilizar a arte como uma forma de instrução" (2021; p 132) e a ordem explicativa (Rancière, 2011; 2012; 2021) tão presente nas escolas quanto no cinema. Segundo Rancière, o esquema explicativo pressupõe hierarquias e promove o embrutecimento. Ele rejeita o dissenso e se opõe ao que o filósofo chama de método da igualdade, no qual nenhuma inteligência estaria subordinada à outra (Rancière, 2011; 2012; 2021). Isso levaria, na ordem do ensino, à emancipação intelectual do aluno e, na ordem da imagem, à emancipação do olhar do espectador. Por isso queremos evocar os aparelhos disciplinares e tentar entender, com esses filmes que propomos analisar, como os corpos em cena são por eles subordinados e como essas imagens os colocam nos regimes de visibilidade e invisibilidade na experiência do espectador.

Em Vigiar e punir, Foucault afirma que, ³na essência de todos os sistemas disciplinares, funciona um pequeno mecanismo penal´ (1997, p.177). Queremos aqui entender como esse mecanismo opera nos filmes e como esses corpos são afetados pelas ³micropenalidades´ (idem, p.177) que exercem função disciplinar sobre eles e sobre os desejos que deles emanam Dentre elas, nos interessa particularmente pensar a ³do corpo (atitudes µincorretas¶ , gestos não conformes, sujeira)´ e a ³da sexualidade (imodéstia, indecência)´ (idem, p.177). Para Foucault, a escola está entre os aparelhos disciplinares e de vigilância da sociedade, configurando-se como um conjunto de regulamentos e de processos para controlar e corrigir operações do corpo (1997, p.117).
Com isso, queremos discutir, na esteira de Lopes Louro, ³o quanto as escolas que, supostamente, devem ser um local para o conhecimento são, no tocante à sexualidade, um local de ocultamento´ (2018, p.37).
Close narra a história de Léo e Remi, que têm uma amizade de anos, convivem constantemente, brincam, frequentam um a casa do outro, e, dentro dessa relação, um afeto físico mostra-se constante Eles se abraçam, dormem juntos, andam de mãos dadas, o que não parece em nenhum momento incomodar as duas famílias, que tratam com naturalidade e até incentivam esse carinho e amizade que eles têm um pelo outro
Quando eles voltam à escola após o período das férias, a relação passa a ser vista de uma forma diferente. Léo e Remi são constantemente questionados pelos seus colegas, que zombam e riem, do vínculo de amizade deles A suspeita de que eles vivem uma relação homoafetiva e se configuram como um casal gay faz com que o controle e a vigilância se intensifiquem, uma vez que essa relação é tratada como um problema Depois dos insistentes desconfortos, Léo acaba se distanciando de Remi, procurando outros amigos e outras atividades, na busca de se afastar da imagem construída pelos colegas e pela escola de que era homossexual Em Monster, a narrativa é dividida em três pontos de vista: o de Saori mãe solteira que tenta cuidar do filho, Minato, quando fica sabendo que possivelmente o menino está sofrendo agressões de um professor ; o do professor e o da criança. É no final do filme que Monster se aproxima de Close, em

termos de perspectiva narrativa, ao assumir o ponto de vista da criança, Minato, e os termos da sua amizade com o colega de sala, Yori. A amizade dos dois funciona sobre uma lógica específica: Por conta de seu jeito afeminado, Yori sofre bullying na escola e em casa. A ele é atribuído o rótulo de ³gay´ aos olhares discriminatórios dos colegas e Minato, tentando fugir das consequências dessa aproximação, depois de procurado pela criança para que tenham uma amizade, aceita ser amigo de Yori, desde que as outras pessoas do entorno não fiquem sabendo.
O que os corpos desses quatro jovens têm em comum é estarem submetidos a um tipo específico de vigilância, aquela que deseja controlar o corpo dissidente, o corpo queer Segundo Lopes Louro, ³ queer pode ser traduzido por estranho, talvez ridículo, excêntrico, raro, extraordinário´ (2004, pg. 38). É um termo que foi criado para tratar de corpos LGBTQIAP+, corpos homossexuais, trans e que, de alguma forma, fujam da heteronormatividade Por dentro da relação existente entre eles, os personagens fugirem do que normalmente se espera de uma relação entre dois homens héterossexuais, é atribuído a eles o ³rótulo´ de queer, mesmo que eles não necessariamente se reconheçam assim. Butler (1993, p.82) chama isso de chamado (call), onde a um corpo é atribuído uma ³certa ordem de existência social´ (idem, tradução nossa) através da repreensão Quando as instituições caracterizam e proíbem esses corpos de existir ou se expressarem da forma com que eles existem, imediatamente se atribui a eles a dissidência, o queer Por mais que, por causa da idade, esses jovens não tenham ainda a homossexualidade como orientação sexual, eles se vêem aprisionados a este rótulo, tendo como primeiro reflexo se afastar deles Remi e Minato se afastam de Leo e Yori publicamente, tentando se afastar da imagem a eles atribuída, a de homossexuais. Lopes Louro diz que ³reconhecer-se numa identidade supõe, pois, responder afirmamente a uma interpelação e estabelecer um sentido de pertencimento a um grupo social de referência´ (2018, p.13). As relações são prejudicadas numa tentativa de não se reconhecer dentro deste grupo social e de fugir de um chamado que rotula, exclui e oprime estes corpos que desejam, como todas os demais apenas uma coisa: existir.

Em Quem Defende a Criança Queer?, Paul B Preciado (2020, pg 62) escreve que a partir do momento em que o corpo de uma criança é classificado como ³homossexual´ pelos que a observam, ela é ³privada de toda energia de resistência e da potência de usar livre e coletivamente o seu corpo´ . Sobre a pedagogização destes corpos, ele continua:
A criança (...) é efeito de um dispositivo pedagógico insidioso, é o lugar de projeção de todos os fantasmas, o álibi que permite que o adulto normatize a norma A biopolítica é vivípara e pedófila O que está em jogo é o futuro da nação heterossexual A criança é um artefato biopolítico que permite normatizar o adulto A polícia de gênero vigia os berços para transformar todos os corpos em crianças heterossexuais Ou você é heterossexual ou a morte o espera A norma faz a ronda ao redor dos recém-nascidos, exige qualidades femininas e masculinas distintas da menina e do menino Modela o corpo e os gestos até desenhar órgãos sexuais complementares (idem)
Em Close, o toque e a afetividade física geram incômodos na instituição em que os jovens estudam, sendo a eles atribuído o rótulo de homossexual A forma com que Leo e Remi se comportam na escola gera olhares e comentários de colegas dos personagens principais, que a todo tempo perguntam a eles se estão namorando. Remi prontamente nega um namoro, mas Leo não responde às perguntas É como se para ele, o rótulo da relação não importasse, o que importa é a forma que eles encontraram de se sentirem felizes e confortáveis na vida um do outro Para o jovem, aquilo nunca foi uma questão, até ser atropelado pelos olhos externos que tentam a todo o tempo o caracterizar e excluir com base em uma caracterização inexistente. Lopes Louro diz que ³as expressões físicas de amizade e de afeto entre homens são controladas, quase impedidas, em muitas situações sociais´ (2018, pg. 33). Segundo Foucault, isso se dá, pois dentro de uma lógica cis-heteronormativa, ao contrário do corpo feminino, em que ³as mulheres têm permissão sobre o corpo da mulher´ , o corpo do homem está ³proibido ao homem´ (Foucault, 1981, pg 38-39) O toque, o acesso e a intimidade são diretamente atribuídos à uma feminilização da relação, ou seja, ligadas ao proibido, e digno de repressão.

Em Monster, o corpo dissidente é centrado no personagem Yori É ele que possui características consideradas afeminadas pelos colegas, pela família (sobretudo na figura do pai) e pela escola, ou seja, um corpo queer sistematicamente submetido aos olhares e às micropenalidades do controle. Isso faz com que sua relação com Minato tenha que acontecer sob uma forma específica, escondida, reprimida, para que Minato não seja visto da mesma forma pelas instituições que os controlam. E a repressão é ainda maior por estes corpos estarem em uma fase de transição, da infância para a adolescência, em que os desejos e os afetos são descobertos tão intensamente Em História da Sexualidade, Foucault, classifica os pais, as famílias, os educadores, etc., como responsáveis por uma ³pedagogização do sexo da criança´ , por enxergarem a expressão de sexualidade nessa idade como responsáveis por ³perigos físicos e morais´ (1988, p.98). Essa pedagogização fica ainda maior quando se trata de crianças queer. As instituições, através dos professores ou dos alunos, que acabam por internalizar essas perspectivas, tentam a todo momento reprimir a expressão de afeto das crianças, o que acaba gerando o sofrimento, a exclusão e até a renúncia do corpo pela parte de Leo Estes são alguns dos efeitos dessa tentativa de ³neutralização´ dos corpos dissidentes. Os corpos podem ser recompensados pelo sistema disciplinar na medida em que desistem mesmo que temporariamente de suas identidades queer para assumir o modelo que a sociedade demanda deles. Foucault afirma em Vigiar e punir que "a disciplina recompensa unicamente pelo jogo das promoções que permitem hierarquias e lugares; pune rebaixando e degradando" (1987, p.179). Nesse sentido, observamos, por exemplo, em Close, como Léo tenta deslocar seu corpo buscando reproduzir o que os outros meninos fazem. Ele busca repetir os movimentos dos colegas, participar de conversas cujos temas a princípio não lhe interessavam. Para se aproximar ao máximo dos outros meninos e se distanciar ao máximo de Rémi, Léo se engaja no rugby e passa a treinar regularmente e ser parte do time. Lopes Louro reflete sobre a competitividade entre meninos (e homens) como como dos "atributos masculinos típicos" e que "o caminho mais óbvio, para muitos, é o esporte (no caso brasileiro, o futebol), usualmente

também agregado como interesse masculino 'obrigatório'" (Lopes Louro, p 27) Desse modo, Léo reprime ao máximo seu desejo de estar perto de Rémi tanto fisicamente quanto afetivamente A câmera de Lukas Dhont opera colocando o rosto de Léo em primeiro plano. Foca seu rosto, silencioso, pensativo, triste. Há várias sequências de primeiros planos do rosto do personagem, ela captura o silêncio, o corpo silenciado pela vigilância e submetido às micropenalidades que dela resultam. Rémi, por sua vez, parece rejeitar esse afastamento e, não submetendo-se ao pressuposto de um corpo e de desejos "típicos masculinos", ele desiste do próprio corpo cometendo suicídio Além do rosto em primeiro plano, percebemos o uso constante de operações de foco e desfoque dos rostos de Rémi e Léo, contrapondo se aproximando na mesma medida suas relações com seus corpos e seus desejos.
Em Monster, a forma com que Minato encontra de se distanciar do rótulo depositado em Yori é propondo que a amizade funcione em condições próprias, fora dos ambientes de vigilância a qual são submetidos. Na escola, eles se ignoram, mas na floresta, onde passam boa parte do tempo, são livres e não existe essa cobrança de corresponder a uma heterossexualidade, eles são amigos, compartilham inseguranças e contam histórias Ali, os corpos se misturam à paisagem, na desordem dos objetos do carro abandonado, na sujeira e na lama causada pela chuva, nos campos Os planos abertos integram as personagem aos ambientes com naturalidade, retratam a natureza com fluidez e contam uma história de não vigilância bell hooks (2019), pensando sobre o trabalho de Foucault, diz que dentro de todas as perspectivas de controle apresentadas pelo filósofo, é apresentada uma possibilidade de resistência Segundo hooks, ³ele convida o pensador crítico a procurar essas margens, brechas e lugares no e através do corpo em que a agência pode ser encontrada´ (2019, pg. 165). Dentro de Monster, a resistência é construída através desse ambiente, longe da vigilância da família e da escola, em que os personagens conseguem se sentir livres e confortáveis para viverem suas vidas sem se preocupar com padrões cis-heteronormativos

Já a escola é mostrada como um dos corpos que habita o filme, uma espécie de corpo-escola, configurando-se como espaço e corpo ao mesmo tempo. Enquanto corpo, a escola é estática, desprovida de identidade, incapaz de comunicar e conviver com os outros corpos. Já como espaço, ela delimita e define os comportamentos dos outros corpos que nele circulam, estudantes, professores, diretores, funcionários Em diversos momentos do filme, é uma câmera fixa, em plano geral, que coloca em cena a escola, evidenciando sua ordem, suas linhas; e, por vezes, um vazio que contrasta com a ideia de um ambiente escolar (onde circulam muitas pessoas), mas que coaduna com a ausência dos afetos e enquanto espaço de controle e vigilância. Quando as cenas são nas salas de aula ou de reunião, os quadros de Kore-eda são preenchidos pelo ambiente, sempre limpos, organizados de forma metódica e dispostos em aparelhos de controle como grades, portas, cercas. Quase sempre em planos abertos, os corpos que passam pelo controle dessa instituição estão sempre sérios, duros e respeitam uma hierarquia entre os personagens, principalmente nos dois primeiros pontos de vista, da mãe e do professor
Considerações finais
A partir dessas breves análises, colocando em comparação as duas obras, percebemos que no momento em que essas crianças e jovens integram um sistema escolar de disciplina e vigilância, o afeto e qualquer relação que elas tenham fora do padrão desejado são constantemente reprimidas e punidas Apesar de suas particularidades estéticas, narrativas, e até culturais, os filmes se assemelham ao colocar em cena esses corpos de jovens garotos na fase de transição da infância para a adolescência
No filme de Lukas Dhont, o foco é nos personagens e no que o controle das instituições faz com eles intimamente Nas relações entre si, nos sentimentos, nas decisões que tomam. Os planos fechados focam no rosto dos personagens enquanto são

submetidos às práticas controladoras daquelas instituições e mostram como eles se comportam em meio a isso. Já em Monster, o foco maior é na relação entre o espaço da escola e da educação O controle não é mostrado apenas nos diálogos ou nas relações entre os personagens, mas também nos ambientes e na relação daqueles corpos com eles
Segundo Guacira Lopes Louro (2018, p. 16), uma das principais formas constituintes dos nossos corpos é a identidade. De acordo com que os corpos funcionam, se relacionam e reagem aos processos que são submetidos, a eles são atribuídos rótulos, deduções e referências. Em Monster e em Close observamos a vivência política de corpos representados em planos que constroem e desconstroem as ideias de controle sobre eles; a lógica da sociedade de vigilância e a regulação desses corpos nos parece servir para elucidar uma grande falência (da escola, da família, da sociedade): a de comunicar com o outro sem querer discipliná-lo
BUTLER, Judith. Gender is burning: Questions of appropriation and subversion. In: Bodies that matter: On the discursive limits of ³sex´ . Routledge: New York, 1993.
CARLI, Sandra Ver este tiempo Las formas de lo real. In: DUSSEL, Inés; GUTIERREZ, Daniela (orgs.) Educar la mirada: Políticas y pedagogías de la imagen Buenos Aires: Manancial, 2006
CLOSE Direção de Lukas Dhont Bélgica: Mubi, 2022
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1987.
FOUCAULT, Michel História da Sexualidade, Vol. 1: A vontade de saber. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1988.
FOUCAULT, Michel. Da amizade como modo de vida. In: Gai Pied nº 25. Paris, 1981
hooks, bell. O olhar opositor: mulhes negras expectadora. In: hooks, bell. Olhares negros: raça e representação São Paulo: Elefante, 2019
LEANDRO, Anita. Da imagem pedagógica à pedagogia da imagem. In: Revista Comunicação e educação N.2. São Paulo, 2001.
LOPES LOURO, Guacira Pedagogias da Sexualidade In: LOPES LOURO, Guacira (org.). O Corpo Educado. Belo Horizonte: Autêntica, 2018.
LOPES LOURO, Guacira Teoria Queer - Uma política pós-identitária para a educação. In: Revista Estudos Feministas V. 9 (pg. 541 - 553). Florianópolis, 2001.

MONSTER Direção de Hirokazu Kore-Eda Japão: Imovision, 2023
PRECIADO, Paul B Quem protege a criança queer? In: Um Apartamento em Urano
São Paulo: Zahar, 2020.
RANCIÈRE, Jacques O método da cena Belo Horizonte: Quixote, 2021
RANCIÈRE, Jacques. O mestre ignorante. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.
RANCIÈRE, Jacques O espectador emancipado São Paulo: Martins Fontes, 2012
XAVIER, Ismail O Discurso Cinematográfico São Paulo: Paz e Terra, 2005

Estratégias visuais nos relatos de aborto em ³Por que não?´ 1
Testimonies about abortion and visual strategies in "Por que não?"
Maria
Cardoso2
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar o curta documental "Por que não?" (1986), produzido pela ONG feminista SOS Corpo em parceria com a TV Viva, enquanto uma produção audiovisual engajada e feminista Nosso intuito é investigar as estratégias visuais utilizadas no vídeo, em especial nos momentos que diferentes mulheres dão relatos sobre suas experiências com abortos, buscando entender como a produção, a partir de sua própria poética, pensa a luta pela autonomia dos corpos Palavras-chave: Feminismo; Audiovisual engajado; Aborto.
Abstract: The work aims to analyze the short documentary "Por que não?" (1986), produced by the feminist NGO SOS Corpo in partnership with TV Viva, as an engaged and feminist audiovisual production. We will investigate the visual strategies used in the video, especially in the moments when different women give testimonies about their abortion experiences, seeking to understand how the production, based on its own poetics, thinks about the struggle for the autonomy of bodies.
Keywords: Feminism; Engaged cinema; Abortion
1 Trabalho apresentado ao GT 03 - Política, imagem e contravisualidades do Encontro Imagem + Política + Estética: territórios fluidos do contemporâneo, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife - PE, 05 a 07 de junho de 2024
2 Doutoranda PPGCOM - UFPE, mariaconceicao.cardoso@ufpe.br, http://lattes cnpq br/1415866943245039

O presente artigo se volta para um vídeo produzido em 1986 pela ONG feminista SOS Corpo em parceria com a TV Viva Para contexto, o SOS Corpo é uma ONG que nasce no Recife em 1981 voltada para a luta pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres aqui ainda numa concepção de mulher cisgênero e que permanece até hoje sendo uma entidade muito relevante para os movmentos feministas em Pernambuco. A TV VIVA foi uma produtora audiovisual pernambucana criada em 1984 que integrou o Programa de Comunicação do Centro de Cultura Luiz Freire (CCLF). O vídeo recebe o título de Por que não?3 e aborda o debate sobre a criminalização do aborto no Brasil e as consequências dessa criminalização na vida das mulheres
Trata-se de uma produção audiovisual que em sua feitura tinha como objetivo intervir no debate público sensibilizando a sociedade para a luta da descriminalização do aborto e seu acesso enquanto um direito no Brasil. Naquele momento, 1986, a constituinte estava em questão e o movimento feminista conseguiu incluir na constituição de 1988 o aborto legal em duas condições: caso de estupro e de risco de vida para a mãe4. Contudo, a existência do aborto legal não garante o acesso ao direito. Ainda hoje, é necessária a sua constante defesa e disputa de narrativa na sociedade em torno da questão haja visto a proposta que ronda o congresso brasileiro, em pleno ano de 2024, de criminalizar os abortos já previstos em lei caso eles ocorram após as vinte e duas semanas de gestação5.
3 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JDFysgPOc6s&t=548s&ab channel=TVVIVA Último acesso: 27 de julho de 2024
4 O aborto em caso de estupro e risco de vida para a gestante já era previsto no Código Civil brasileiro desde 1940
5 Em junho de 2024, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e a bancada do estupro do Congresso Nacional buscaram emplacar um projeto de lei que equipara aborto a homicídio. ³ Projeto que equipara aborto a homicídio tem urgência aprovada´ , matéria publicada pela Agência Brasil em 12/06/2024 Acesso em: https://agenciabrasil ebc com br/politica/noticia/2024-06/projeto-que-equipara-aborto-homicidio-tem-urge ncia-aprovada

Por que não? tem treze minutos e trinta e oito segundos de duração, um curta, e é constituído em sua maior parte por entrevistas no formato fala-povo, investindo numa visão panorâmica da opinião pública sobre o tema e, mais pontualmente, com entrevistas de relatos de experiências de aborto. As imagens do vídeo, de forma geral, operam num regime de visualidade padrão, com uma representação descritiva da realidade, seguindo uma estética também televisiva. Nesse trajeto por entre opiniões divergentes sobre um debate sensível, o vídeo é conduzido por uma narração que pedagogicamente vai trazendo a perspectiva feminista da luta pela autonomia sexual e reprodutiva das mulheres, sustentando a pergunta do título até o final.



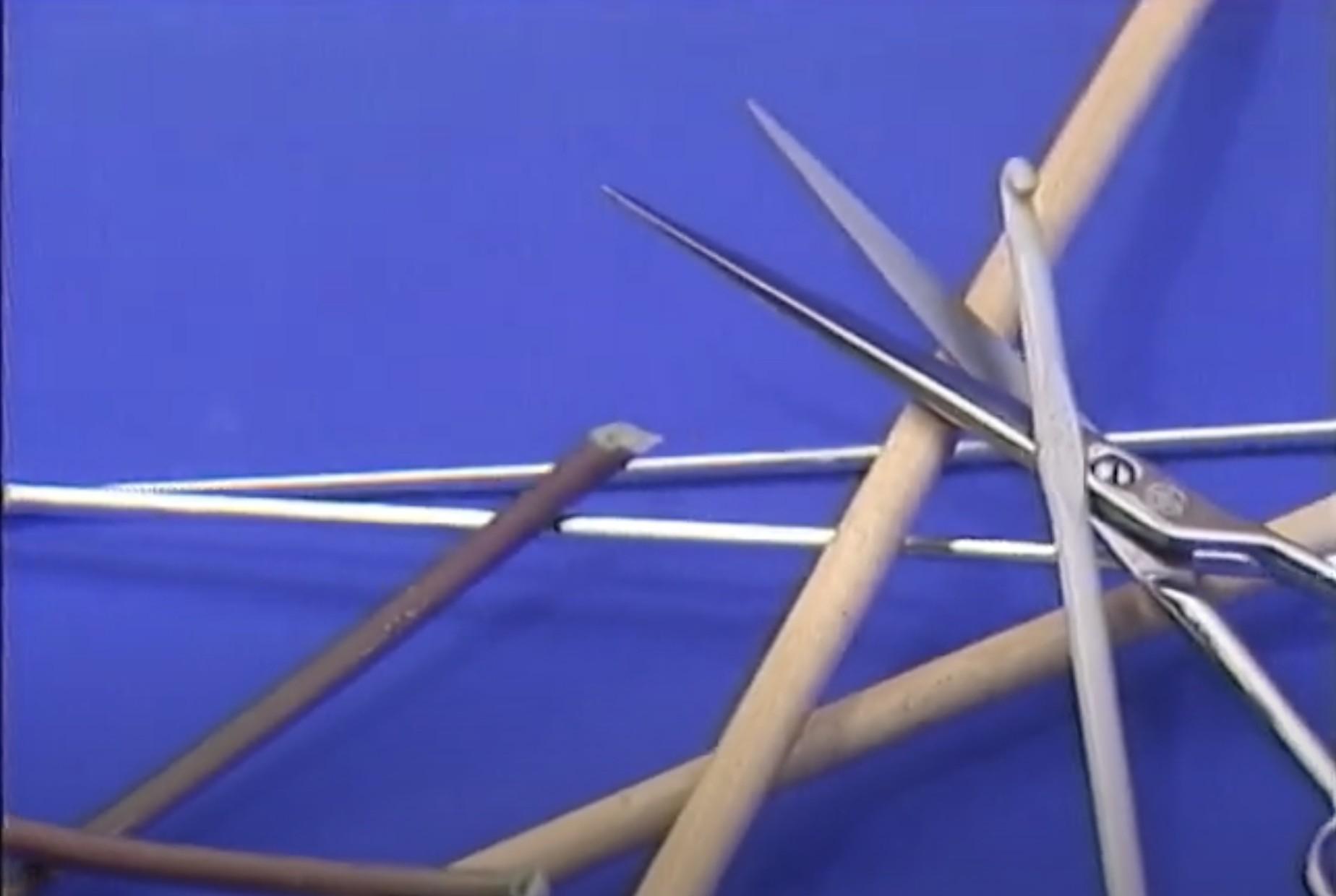
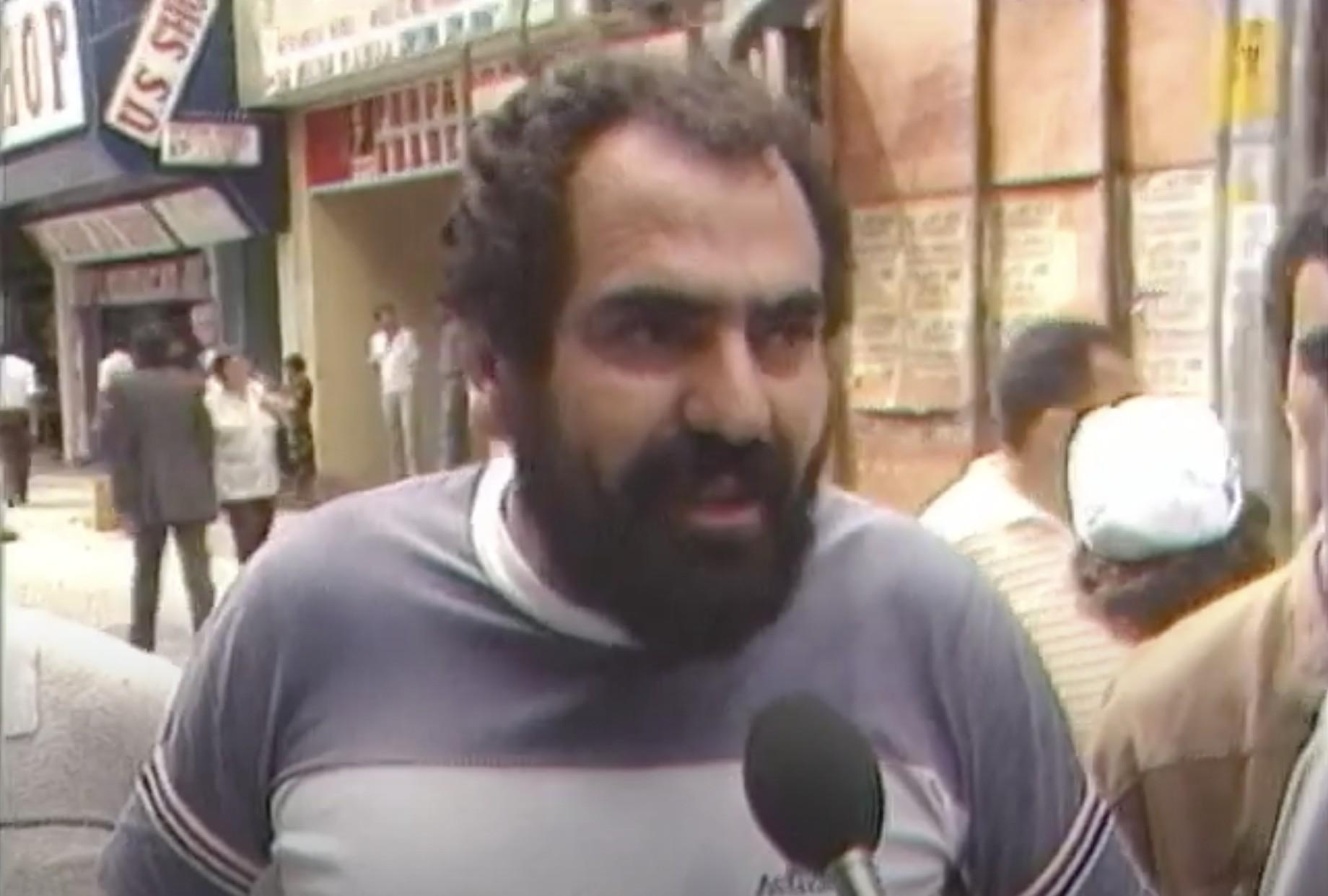

Fonte: Fotogramas do vídeo Por que não?

É uma produção audiovisual feminista engajada que instaura um espaço de debate sobre a criminalização de uma prática que é um direito à autonomia reprodutiva das mulheres. E, por isso mesmo, interessa investigar as suas escolhas estéticas e éticas, ou suas estratégias visuais, uma vez que se costuma associar esse tipo de produção (engajada) a uma ausência de investigação do que pode ser dito como "formal", em detrimento do conteúdo. Algo que a pesquisadora Nicole Brenez diz ser um preconceito recorrente com o cinema engajado, visto que se pressupõe que este não se coloca questionamentos estéticos sobre o que filmar e como filmar. (Brenez, 2011) Então, aqui propomos um olhar mais demorado para algumas estratégias visuais utilizadas no vídeo a título de investigar uma poética própria da produção e como ela traz pensamentos das lutas das mulheres.
Como já pontuado, as imagens do vídeo, de forma geral, operam num regime de visualidade padrão. Mas, nesse composto, as experimentações visuais em alguns relatos de aborto produzem algo que transborda o quadro dentro do vídeo Num olhar apressado, as experimentações visuais dos relatos até podem ser entendidas como meras "imagens de cobertura", num momento no qual a fala dos relatos é o centro gravitacional Sem dúvidas, são relatos fortes, que dizem sobre o medo do julgamento de deus, do padre, do médico, do marido, a culpa, os motivos e escolhas do que fazer com suas vidas Mas retomo as cenas dos relatos em sua completude, atenta também aos transbordamentos das imagens.
De partida, o vídeo em suas propostas estéticas e éticas nos diz sobre a ordem social que ele confronta: uma ordem social onde os relatos de aborto (figuras 7, 8, 9, 10, 11 e 12) se mostram em enquadramentos de corpos, na maioria das vezes, esquivos à identificação Onde, devido ao processo de criminalização da autonomia reprodutiva, os corpos não são mais representados, mas decalcados. Um vestígio de corpo.

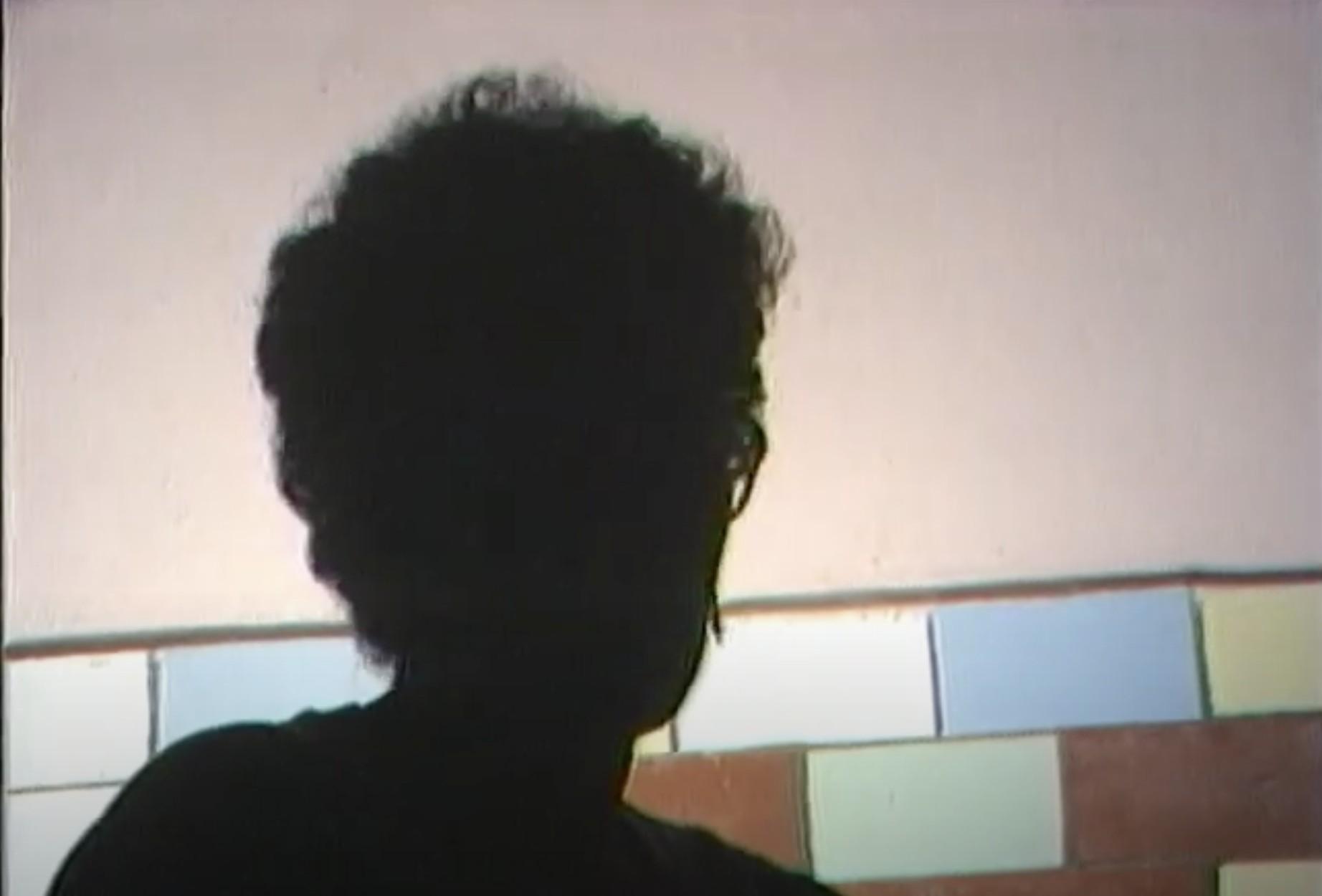

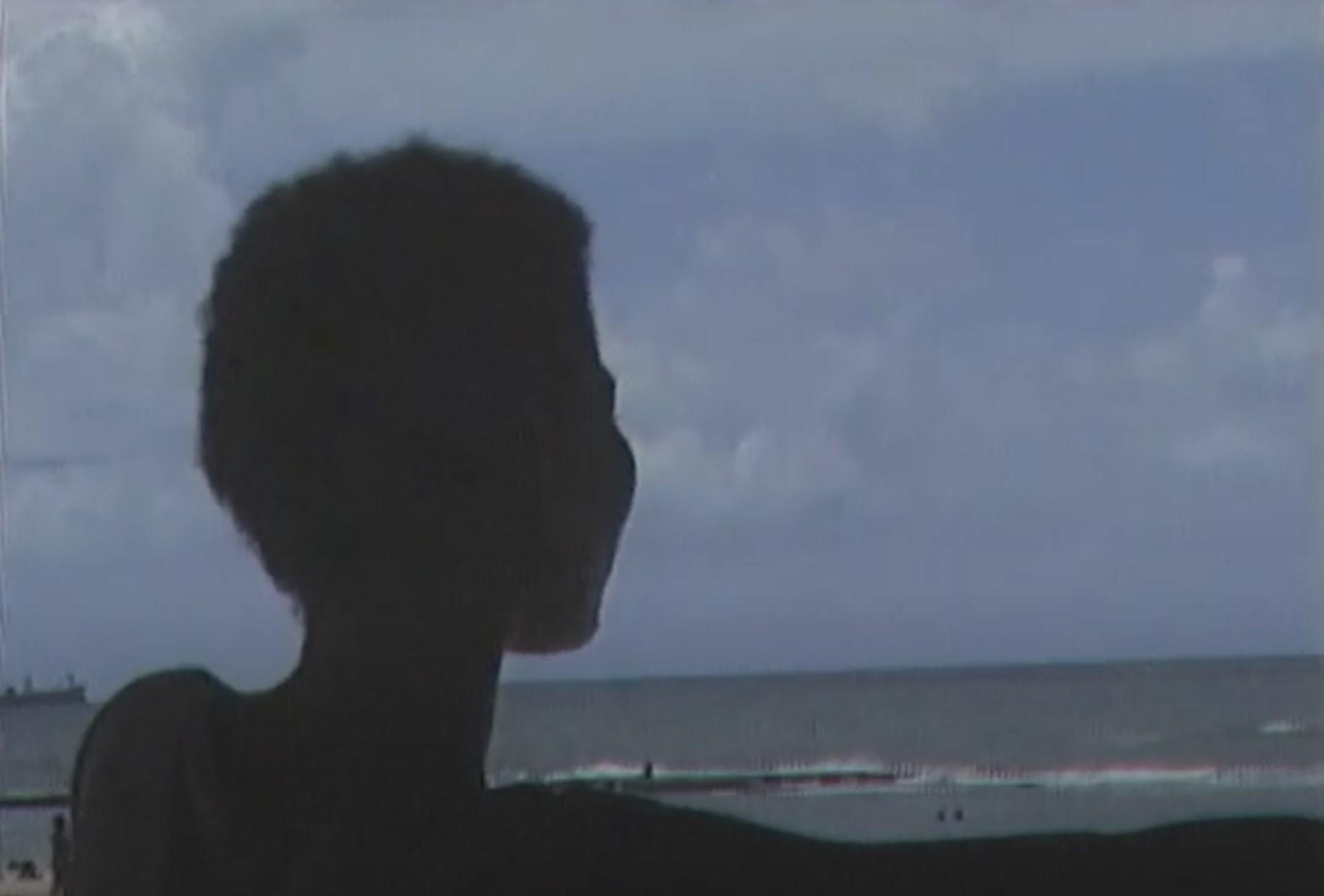
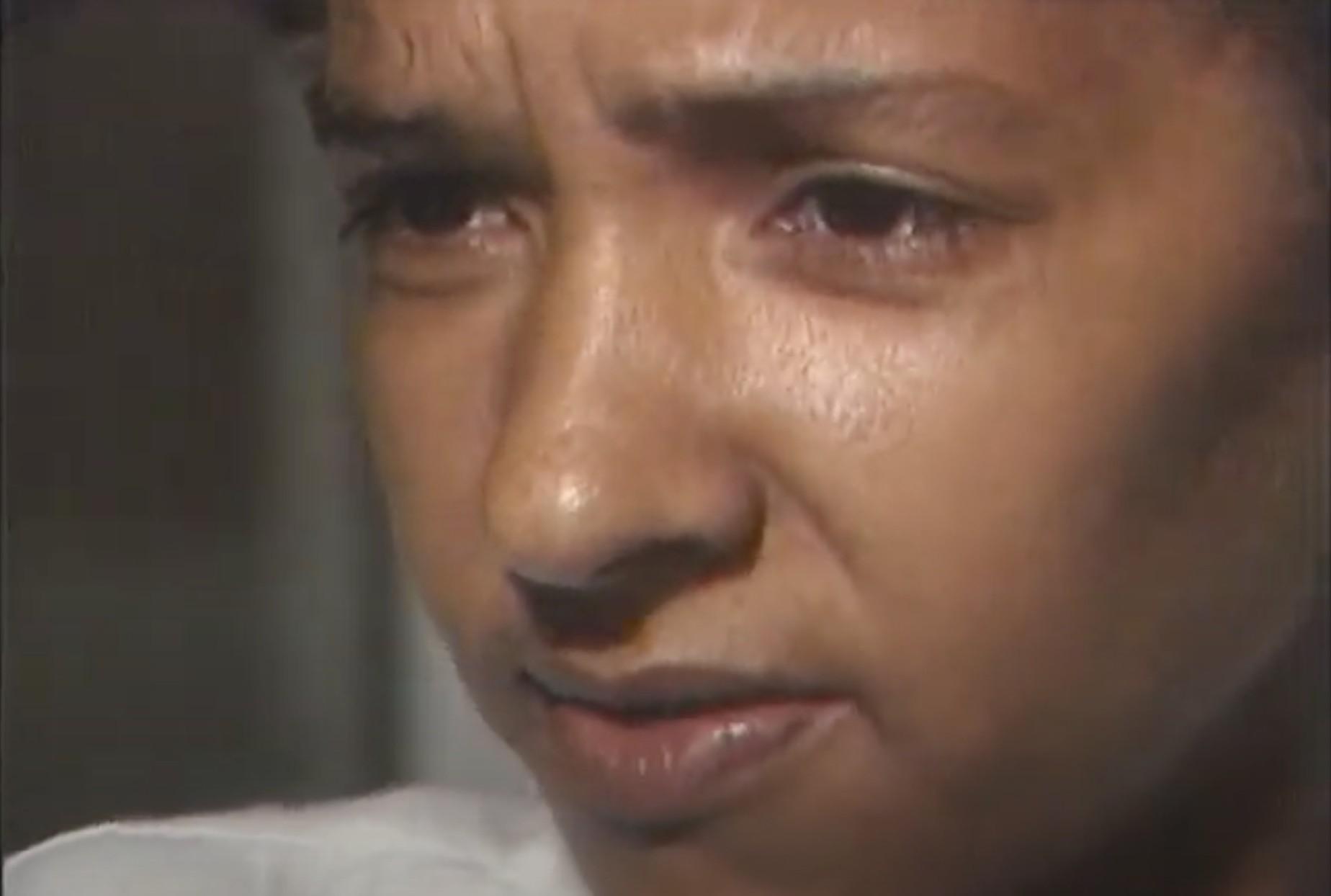
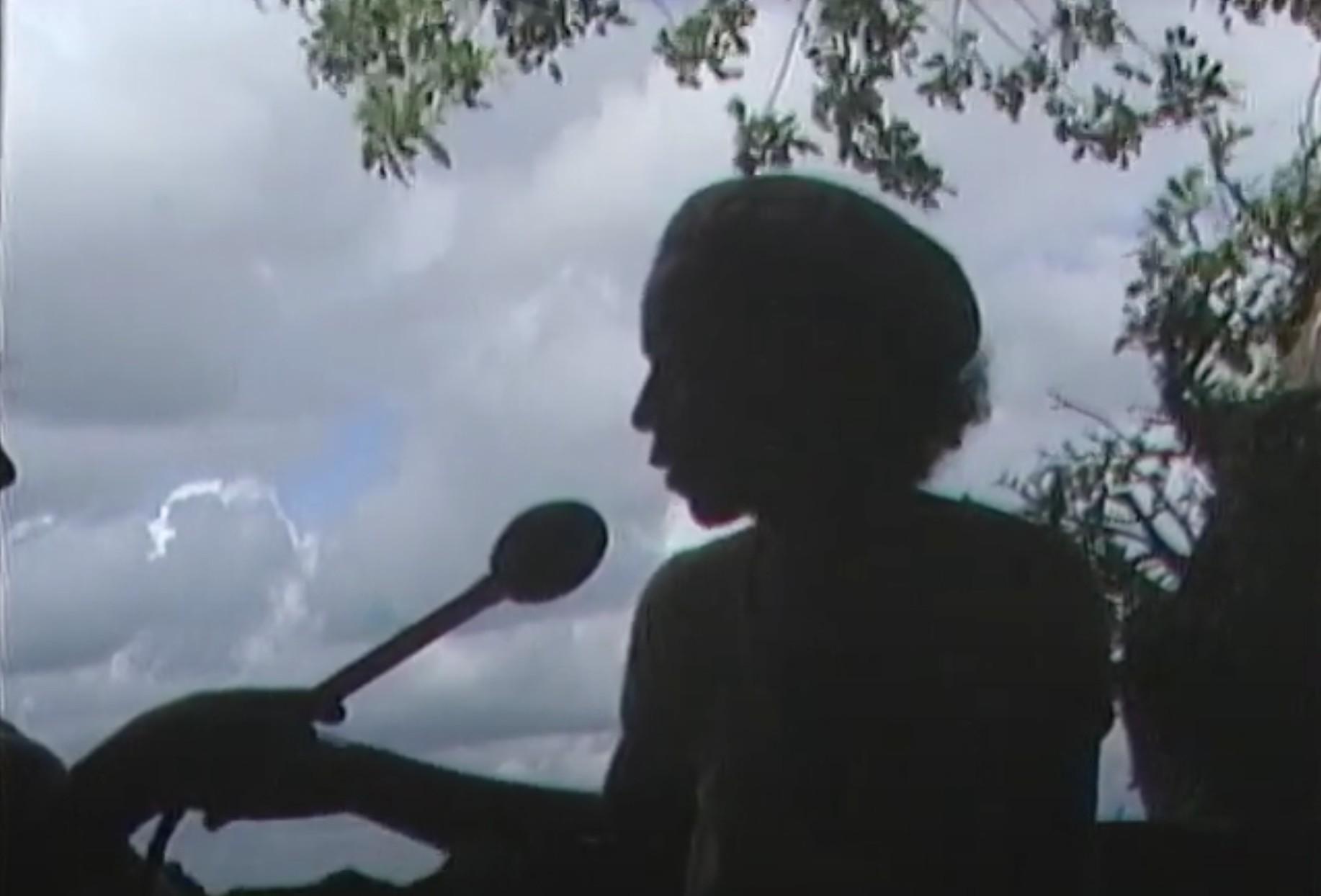
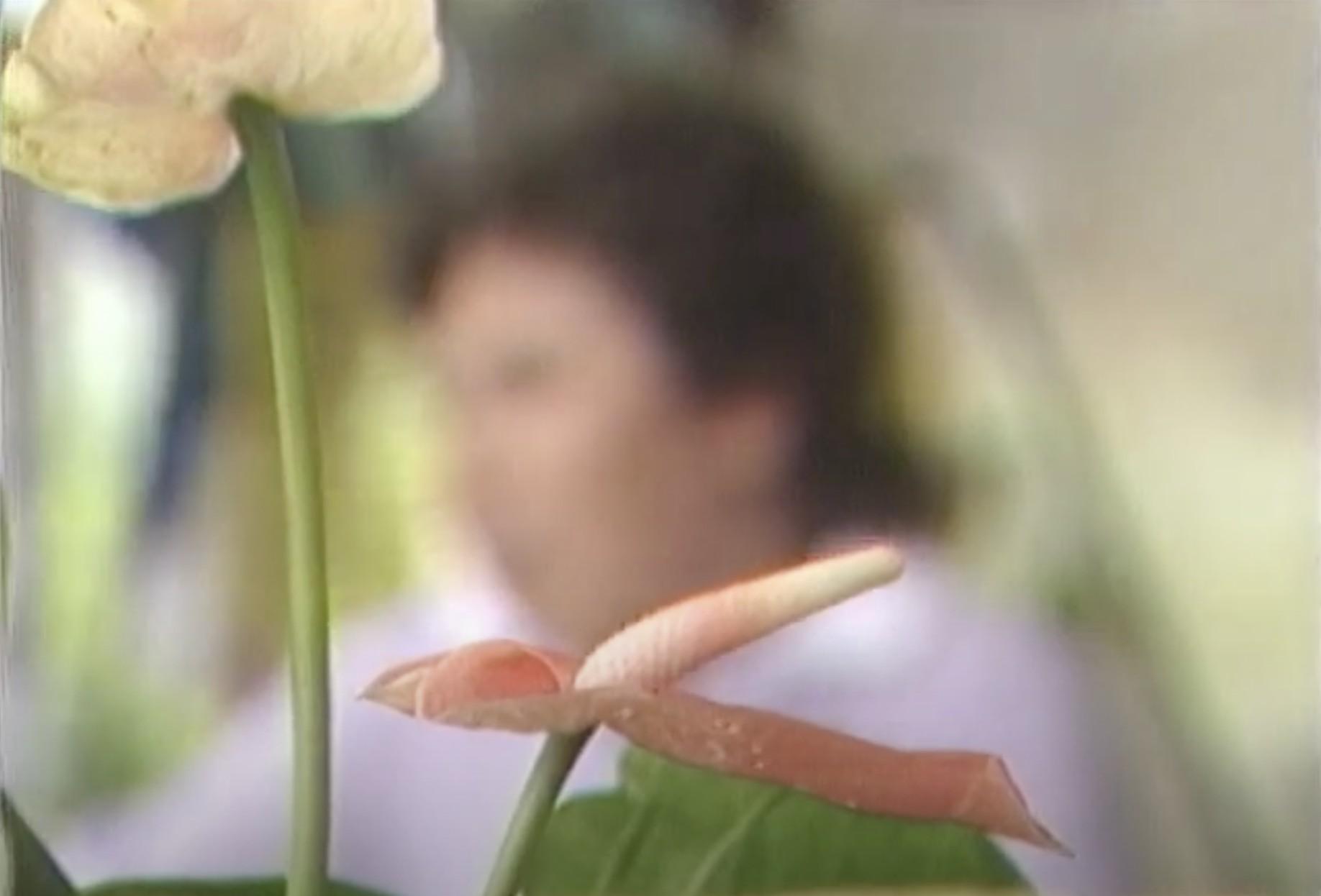
Figuras 7, 8, 9, 10, 11 e 12 - Imagens dos relatos de aborto em Por que não?
Fonte: Fotogramas do vídeo Por que não?
Assim, percebemos um dos tensionamentos éticos e estéticos que o vídeo nos coloca: uma gradação de ³segurança da visibilidade´ Alguns sujeitos terão essa segurança da visibilidade para se mostrar e fazer falas de indiferença, punição e desprezo para com as mulheres que abortam Um homem mais velho, não por acaso branco, se sente autorizado e envaidecido de vir à câmera chamar mulheres de cadelas que entram no cio e que por isso abortam. Outro homem (figura 4), branco, é um marido que acha aceitável denunciar a própria esposa para a justiça caso descubra que ela tenha feito um aborto. A segurança deles também é uma vaidade patriarcal que os deixa expostos dentro do vídeo, pois a autoridade masculina não se sustenta frente à força dos

relatos. A visibilidade deles evidencia o quão banal é para a sociedade a misoginia saindo da boca dos homens
Outra questão é que, notadamente, o vídeo não cai numa postura reducionista, focada na diferença sexual, e também articula entrevistas (fala-povo) com mulheres que julgam mulheres que abortam (figura 3) Assim, aponta-se para um problema mais profundo, estrutural na sociedade, dando a ver através da articulação da montagem uma perspectiva da luta feminista Há espaço para falas que trazem a contradição, a dúvida, a culpa, o julgamento moral, assim como a certeza e a tranquilidade pela escolha do aborto em suas vidas. A estrutura da montagem do filme é como o ressoar da pergunta de seu título, uma convocação para o debate público
São seis os relatos de aborto (figuras 7, 8, 9, 10, 11 e 12), sendo dois com a identificação visual das mulheres e quatro com seus corpos em contornos/vestígios Um dos relatos que opera com a transparência (visibilidade total) é um relato onde o aborto se narra como fato consumado e feito por uma mulher branca (figura 9) que se identifica como de classe média. Ela traz uma articulação muito consciente da sua experiência e direito negado pelo estado mas garantido pela sua posição social de classe e pertencimento racial Ela também articula o conflito entre o trabalho reprodutivo doméstico e o mercado de trabalho, explicitando a dificuldade de se acessar cargos de trabalho melhor remunerados quando os empregadores não dão vagas para mulheres, pois elas engravidam. É marcante o gesto descontraído com que segura uma ponta de cigarro enquanto nos oferece seu relato.
O outro relato de aborto que opera com a transparência é o da abertura do vídeo, com uma mulher (figura 8), negra, que está preparando um chá para tomar já que tem a suspeita de estar grávida O semblante dessa mulher oscila entre a certeza do que faz e uma desconfiança com a equipe de filmagem? Com o resultado do chá? Com a segurança da sua visibilidade? Ela faz um chá, mas, caso não dê certo, cogita as agulhas ou as gotas (que oferecem alto risco de morte). Seu tom de voz e semblante também nos

indicam a consciência das limitações de opções eficazes e seguras que a sociedade lhe impõe contra sua autonomia reprodutiva
A diferença que se expressa no conforto e desconforto diante da câmera dessas duas mulheres com suas experiências, nos traz mais um tensionamento estético colocado pelo vídeo: ainda que mulheres consigam abortar fora da legalidade, as suas diferenças de pertencimento racial e de classe irão influenciar as formas como elas passarão por esses processos e se continuarão vivas
Se a sociedade patriarcal deseja que o aborto e seu debate seja invisível e inaudível, o vídeo, no seu gesto de intervenção, afirma nesses relatos transparentes a relevância da prática do aborto na vida das mulheres e segue também apontando para as diferentes experiências vividas entre as diferentes mulheres que o praticam. Como nos aponta a feminista negra Lélia Gonzalez, "Falar da opressão da mulher latino-americana é falar de uma generalização que oculta, enfatiza, que tira de cena a dura realidade vivida por milhões de mulheres que pagam um preço muito caro pelo fato de não serem brancas." (Gonzalez, 2020, p. 46) Por que não? opera nesses dois relatos transparentes uma identificação sócio-histórica das mulheres que traz parte fundamental do debate sobre a descriminalização e legalização do aborto no Brasil Não por acaso, ainda hoje, a mortalidade produzida pela criminalização do aborto recai em peso sobre as mulheres negras e empobrecidas
Diante dessa transparência das representações, chama a atenção quatro desses relatos que têm suas imagens distanciadas desse regime de visualidade (figuras 7, 10, 11 e 12) São as que trazem desfoque, sombras, decalques Esses artifícios de invisibilidade trazem a dimensão impositiva da criminalização que recai sobre os relatos de práticas de aborto, mas o vídeo não deixa a perder de vista a agência dessas mulheres na produção de suas imagens. Um desses relatos começa com a pergunta da

entrevistadora (figura 10): "Você queria conversar sobre o aborto mas não queria aparecer o rosto Por quê?" A entrevistada responde:
Eu não quero que apareça meu rosto. Eu não quero ser identificada porque é uma coisa proibida que depois pode alguém querer me prender. Não estou interessada nisso. Mas eu quero falar porque eu acho que é um assunto que a gente precisa conversar A gente precisa discutir (POR QUE NÃO?, 1986)
Os artifícios de invisibilidade contém parte da resistência dessas mulheres em relação à criminalização da prática do aborto, mas também em relação ao próprio vídeo.
O diálogo evidencia as escolhas éticas e estéticas para a produção das imagens, e, também, a forma partilhada das tomadas de decisões já que aponta a intervenção de uma delas na produção de sua imagem A perspectiva feminista da autonomia reprodutiva que se expressa nos corpos parece, assim, se desdobrar também nas imagens produzidas desses mesmos corpos.
A alternância nas estratégias visuais dos relatos de aborto produz brechas por onde essa análise busca olhar. Ainda que esses artifícios, de partida, se dêem pelo receio da identificação, essas imagens trazem também uma particular ambivalência: a esquiva a uma identificação e uma afirmação de um corpo que pela imagem dilui a imposição de uma categorização, o gênero. E, em meio ao regime visual que o vídeo opera, as imagens desses quatro relatos parecem causar certa desordem ao trazer corpos e suas experiências de aborto, mas não mais em sua representação, mas em seu decalque, em sua sombra, seu desfoque
Para olhar as imagens nessa ambivalência, me aproximo da leitura que Rosalind Krauss faz do conceito de informe de Georges Bataille (Krauss, 2002) Krauss fala da grande influência de Bataille e seu conceito no pensamento surrealista, "na produção de imagens que não ilustram, mas antes estruturam os mecanismos fundamentais do pensamento" (Krauss, 2002, p 176) E que "Para Bataille, o informe era a categoria que permitiria desconstruir todas as demais categorias". (Krauss, 2002, p. 177) Sendo

assim, ela inclusive entende como errôneas as asserções que qualificam o surrealismo de anti-feminista (Krauss, 2021)
Em sua leitura do conceito de Bataille e na relação com a categoria de gênero, Krauss também aponta como trabalho do informe a dissolução do natural e das distinções (Krauss, 2002) Seus apontamentos nos mobilizam a lançar um olhar para esses quatro relatos que leve em conta a ambivalência já citada das imagens. Porque, apesar da não-diluição da forma corpo, o contra-luz e o desfoque produzem corpos opacos sem uma identificação de gênero imediata. Corpos opacos que, ao mesmo tempo, questionam as imposições de gênero e reivindicam suas autonomias reprodutivas Corpos opacos que rasuram representações de gênero ao mesmo tempo que relatam suas experiências de aborto contrariando o patriarcado.
Os artifícios de invisibilidade desses quatro relatos em Por que não? produziram imagens de corpos que não se deixam fixar e nem serem reduzidos à uma representação de gênero Existe uma insubmissão nessa opacidade que diz respeito tanto à estratégia visual da esquiva da identificação quanto a um uso do gênero sob rasura6. A insubmissão contida nesses corpos opacos não se dá pelo desejo de superar o gênero, mas no questionamento de sua naturalização e da concepção social e religiosa dos papéis de gênero que roubam a autonomia reprodutiva das mulheres.
Os corpos opacos trazem imagens críticas sobre a estrutura de pensamento dualista, opositiva e hierarquizante própria da sociedade ocidental e que recai sobre o que se chama de feminino e masculino. Nessa estrutura, é o feminino, como sabemos, o corpo tomado como inferior ao masculino, numa relação hierárquica violenta Em busca de um pensamento crítico sobre esse dualismo na diferença sexual e sobre as clausuras das categorias, nos aproximamos do filósofo Jacques Derrida O autor aponta que
6 Expressão utilizada por Stuart Hall (2000) em diálogo com Jacques Derrida

(...) em uma oposição filosófica clássica, nós não estamos lidando com uma coexistência pacífica de um face a face, mas com uma hierarquia violenta. Um dos dois termos comanda (axiologicamente, logicamente etc.), ocupa o lugar mais alto. Desconstruir a oposição significa, primeiramente, em um momento dado, inverter a hierarquia. Descuidarse dessa fase de inversão significa esquecer a estrutura conflitiva e subordinante da oposição. (Derrida, 2001, p. 48)
Na esteira do pensamento de Derrida, podemos dizer que os corpos opacos não têm o desejo de superar o gênero e sim de "operar no terreno e no interior do sistema desconstruído", (Derrida, 2001, p. 48) invertendo as posições hierárquicas sem com isso buscar por novos termos que tragam uma noção mais eficiente ou justa São imagens que tratam o gênero sob rasura para percebê-lo em sua ambivalência, como "uma ideia que não pode ser pensada da forma antiga, mas sem a qual certas questões chave não podem sequer ser pensadas´ (Hall, 2000, p 104)
Na cena final do vídeo, um plano aberto vai fechando até enquadrar apenas o rosto de uma mulher que está na beira do mar e que olha seriamente e em silêncio para a câmera. A narradora diz:
A gente sabe que o aborto, de uma forma ou de outra, faz parte da vida de cada uma de nós É uma questão que precisa ser encarada de frente pela sociedade Se não começamos essa discussão com toda a nossa energia, quem é que vai começar? (POR QUE NÃO?, 1986)
O vídeo em sua poética pensa a luta das mulheres fazendo uso estratégico da categoria do gênero para a organização política As mulheres devem se organizar para energicamente conquistar a garantia da autonomia de seus corpos. Com o gênero sob rasura, tomamos esses corpos opacos como prenúncios de um debate que estaria por vir no campo feminista: o debate sobre direito ao aborto não apenas para as mulheres, mas também para todas as pessoas com útero

BRENEZ, Nicole Political cinema today: the new exigences For a Republic of the imagens. Screening the past, 2011. Disponível em: https://www screeningthepast com/issue-37-aesthetic-issues-in-world-cinema/political-c inema-today-%E2%80%93-the-new-exigencies-for-a-republic-of-images/ Acesso em: 08 ago. 2023.
DERRIDA, Jacques. Posições. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
GONZALEZ, Lélia Por um feminismo afro-latino-americano In: HOLLANDA, Heloísa Buarque de (Org.). Pensamento feminista hoje: perspectivas decoloniais. Rio de Janeiro: Bazar do tempo, 2020 p 42-56
HALL, Stuart. Quem precisa de identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais Petrópolis: Vozes, 2000
KRAUSS, Rosalind. O fotográfico. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.

Rosa Fernanda Vidal dos
Resumo: Este trabalho busca investigar a imagem do informe, um conceito introduzido por Georges Bataille, por meio da obra Sátántangó do cineasta húngaro Béla Tarr. Atentamo-nos à imagem da aranha, que condensa o cosmo, de modo que o universo se assemelha a uma aranha ou a um escarro
Segundo Bataille, essa criatura seria a materialização do informe. Em Sátántangó, inspirado no romance de László Krasznahorkai, a terra desolada constitui um universo onde personagens medíocres ainda conseguem afirmar os resquícios de sua dignidade. À medida que o estudo avança, buscamos aproximar o conceito de Bataille das imagens de Tarr, aprofundando as relações com o informe com o objetivo de reavaliar as tarefas das formas sob novas formas.
Palavras-chave: Cinema; Estética da Arte, Filosofia;
Abstract: This work aims to investigate the image of the informe, a concept introduced by Georges Bataille, through the film Sátántangó by Hungarian filmmaker Béla Tarr.
Focusing on the image of the spider, which condenses the cosmos, as the universe resembles a spider or spit this creature would be the materialization of the informe in Bataille's words. In Sátántangó, inspired by the novel by László Krasznahorkai, the
1 Trabalho apresentado ao GT 4 Entre-imagens: fotografia, cinema, vídeo e o universo das imagens híbridas do Encontro Imagem + Política + Estética: territórios fluidos do contemporâneo, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife - PE, 05 a 07 de junho de 2024
2 Graduada em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal de Pernambuco, atualmente é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) pela mesma instituição Enquanto bolsista Capes, vem desenvolvendo pesquisas no que se refere à relação da paisagem nas artes visuais e no cinema, sob a orientação da Prof ª Nina Velasquez e Cruz

desolate land is a universe where mediocre characters can still assert the remnants of their dignity. As the study seeks to bring Bataille's concept closer to Tarr's images, the relationships with the informe deepen with the aim of updating the tasks of forms under forms
Keywords: Cinema; Aesthetics of Art, Philosophy;
No cinema, percebemos o ato contínuo da imagem e seu movimento por meio do plano sequência A câmera avança lentamente, atravessando a profundidade de campo, rastejando pelas periferias delimitadas pelo enquadramento e, sobretudo, orbitando o microcosmos das histórias. Assim, o universo só pode ser concebido por essa interação entre corpos que se repelem e se aproximam no espaço O plano sequência revela ininterruptamente as ações que ocorrem nesse espaço, sua essência "en passant", carregando sempre um mistério. Mover-se com a câmera em plano sequência, rejeitando imagens fragmentadas em que o frenesi da montagem nos leva quase sempre a uma interpretação, desvela uma imagem bruta cuja banalidade serve como um desvio para o ordinário. O livro, que é o cosmos do poeta para Haroldo de Campos, um "voourevoou" , seria também ³mosca e aranha´ (Campos, 1984) Assim, as galáxias de Haroldo de Campos lançam o fazer metapoético sob o signo cosmológico das palavras. Esse universo, ora grandiloquente, ora ordinário, é a matéria que pulsa nos planos contínuos do cineasta húngaro Béla Tarr
A predileção pelo plano sequência nas obras de Tarr enfatiza um tempo em que as histórias, já contadas no Antigo Testamento (Rancière, 2013), não importam mais; o interesse agora recai sobre a malha sensível das formas que atravessam a tela Seja através do átimo luminoso de um feixe de luz, seja ao depararmo-nos com o dorso de um corpo sombrio cuja penumbra não oculta, mas revela o sujeito por outras vias. Os corpos dessas figuras são sondados por planos sequências infinitos, nos quais o jogo de sombras e perspectivas são ferramentas técnicas para evidenciar a dessemelhança desses

mesmos corpos Acerca dessa dessemelhança enquanto marca da autoria do cineasta, é interessante perceber como ela se torna um recurso recorrente em seus filmes, como aponta Rancière:
Um gradeamento, uma parede, um dorso criam uma zona negra que, por vezes, obstrui op ecrã inteiro antes de a câmara reencontrar, na margem do enquadramento, como que emergido da noite, um rosto inquieto e ameaçador. A cena está muitas vezes isolada entre duas zonas de sombra ou então são rostos, meio iluminados, dos interlocutores, que se se vêem separados por umas barra vertical[ ] A profundidade é então feita de pequenos postigos contrastantes com o negrume do inferno onde surgem as cenas dos personagens. Estes efeitos naturalistas são assim transformados em efeitos de artificio (Rancière, 2013, p 34-35)
Em outro momento, acerca desse artifício imagético de Tarr, Rancière revela que os corpos distorcidos dessas figuras são ³como os das personagens de Bacon´ (Rancière, 2013) Essa aproximação é crucial, pois ao nos confrontarmos com as pinturas de Bacon, observamos frequentemente o corpo exposto como uma massa dessemelhante, revirada, especialmente nas obras em que a completude anatômica é subvertida O surrealismo do pintor não deriva, portanto, exclusivamente de vias oníricas e fantásticas, mas emerge como um surrealismo biomórfico, que se tensiona com a fotografia.
Diante das obras de Béla Tarr, conceber o cinema do autor como um microcosmo implica observar que o plano sequência desempenha um papel crucial, traduzindo a natureza desse cosmos. A duração em que a câmera orbita as narrativas de Tarr muitas vezes funciona como uma forma de contensão, de fato o "tempo depois da história", como insiste Jacques Rancière Béla Tarr constrói seu universo repleto de momentos ordinários, ilustrando a rotina de um grupo que busca fugir de uma comunidade alagada e em ruínas. Investigar as sobrevivências em que o corpo é revirado, seja pelas sombras que atravessam as bordas do quadro, ou quando a baixeza

do homem se iguala ao cão, seguindo o mecanismo da rotação horizontal do eixo da figura humana, resulta em uma profícua aproximação com a técnica surrealista em fotografia. O que se busca neste trabalho é atravessar as figuras humanas do universo de Tarr, a partir de um olhar inaugurado por Georges Bataille, isto é, de certo modo, todos os desvios para o ordinário, desde Haroldo de Campos até Jacques Rancière, devem ao informe batailliano seu legado conceitual Nesse sentido, Bataille nos indica que:
Um dicionário começaria a partir do momento em que não desse mais o sentido, mas as tarefas das palavras Assim, informe não é apenas um adjetivo que tem este ou aquele sentido, mas um termo que serve para desclassificar, exigindo geralmente que cada coisa tenha sua forma O que ele designa não tem seus direitos em sentido algum e se faz esmagar em toda parte como uma aranha ou uma minhoca Seria preciso, de fato, para que os homens acadêmicos ficassem contentes, que o universo tomasse forma A filosofia inteira não tem outra meta: trata-se de dar um redingote ao que é, um redingote matemático. Em contrapartida, afirmar que o universo não se assemelha a nada e é apenas informe equivale a dizer que o universo é algo como uma aranha ou um escarro (Bataille, 1930, p 382)
Nenhuma outra obra de Béla Tarr se aproxima tanto do informe referido por Bataille quanto Sátántangó, de 1994. A aproximação não se dá apenas pelos procedimentos de perspectivas que desfamiliarizam as figuras humanas, mas, sobretudo, pelo movimento de contingência do universo que centraliza a imagem da aranha como uma figura que impulsiona os fluxos das personagens. Em outras palavras, traduzir o universo em uma aranha ou um escarro significa desviar-se das formas usuais e estruturadas. Se, por um lado, Bataille recusa-se a nos oferecer o sentido das imagens, preferindo nos provocar para o trabalho das imagens por meio de um jogo prático e teórico em Documents3, Béla Tarr, com seus planos sequências, aponta para figuras
3 A revista "Documents" foi uma publicação periódica francesa fundada por Georges Bataille em 1929, que durou até 1930, com um total de 15 edições Bataille, junto com colaboradores como Carl Einstein, Michel Leiris, entre outros, procurou explorar o que eles consideravam as formas mais "baixas" ou "menores" da cultura e da sociedade "Documents" foi crucial para o desenvolvimento do conceito de "informe", uma ideia teórica que Bataille e seus colegas utilizaram para desafiar categorias estéticas tradicionais e para promover uma forma de arte que desestabiliza, quebra e transgride fronteiras

humanas fragmentadas, distorcidas e, por vezes, animalescas, executando na prática esse trabalho iniciado por Bataille. Assim, é preciso investigar mais profundamente os procedimentos operados por Tarr em Sátántangó, com o objetivo de descobrir, nesse trabalho das imagens, o que concerne ao informe
Sátántangó inicia-se com um plano sequência que segue as vacas de um vilarejo isolado na Hungria Esse deslocamento com os animais acompanha o ritmo lento daquele vilarejo, que está prestes a ser desabitado pelos últimos moradores que ali resistem. A partir da venda do gado, a comunidade arrecada dinheiro para possibilitar a migração No entanto, o drama dessas figuras reside na recorrente desconfiança entre eles, enquanto todos estão em estado de alerta, observando pelas janelas e brechas das portas a possível fuga do traidor Importante ressaltar que a obra cinematográfica de Béla Tarr se estabelece como uma peça autônoma em relação à obra literária de mesmo título (Sátántangó) de László Krasznahorkai Contudo, o procedimento de capítulos foi adaptado ao filme, cuja narrativa ultrapassa sete horas de duração
As primeiras personagens emergem sob o signo de um complexo emaranhado conjugal: a Sra. Schmidt e Futaki são amantes. Quando o Sr. Schmidt retorna ao lar, Futaki escapa pela janela Pouco depois, bate à porta dos Schmidt como se estivesse chegando naquele momento, interessado na outra parte do dinheiro obtido com a venda do gado. Em seguida, outras personagens são introduzidas, e o procedimento adotado por Béla Tarr consiste em sequência e repetição Por um lado, acompanhamos a introdução dos Schmidt e Futaki; por outro, revisitamos a cena em que Futaki foge pela janela, agora vista pelo doutor, por meio da técnica da repetição A repetição, embora narrativa, é feita sob uma nova perspectiva, nesse caso, a do doutor É crucial considerar essa estrutura, que compõe a teia dramática das personagens, pois é através dessa dinâmica, que se constitui o microcosmos de Tarr, onde o trabalho das aranhas permeia este universo. Estamos, mais precisamente, diante da representação das figuras

humanas, consumidas por outra forma o trabalho das aranhas Sobre o procedimento empregado por Béla Tarr, Rancière esclarece:
A arte de Bela Tarr consiste em construir um afecto global onde se condensam todas as formas de disseminação. Esse afecto global não deixa traduzir em sentimentos experimentados por personalidades É uma questão de circulação entre pontos de condensação parcial. A matéria própria da circulação é o tempo[ ] Um filme de Bela Tarr será, doravante, uma composição desses cristais de tempo onde se concentra a pressão <<cósmica>> Mais do que quaisquer outras, as suas imagens merecem ser chamadas imagens-tempo, imagens em que a duração se manifesta e que é o próprio estofo com que essas individualidades, chamadas situações ou personagens, são tecidas [«] Cada momento é um microcosmo Cada plano sequência deve-se à hora do mundo, à hora em que o mundo se reflete em intensidades sentidas por corpos (Rancière, 2013, p 53-54)
Este microcosmos gradualmente adquire forma através das sequências que introduzem as personagens e os dramas impregnados pelo desejo de abandonar o vilarejo em ruínas A intersecção dos sujeitos amplia a dimensão da circulação dos afetos: o instante inebriante do tango representa o ápice desse tensionamento Nesse sentido, é essencial reconhecer que, assim como os passos de um tango húngaro passos para frente, passos para trás , os capítulos alternam entre progressão e regressão, de modo que a estética da dança permeia a estrutura narrativa Diferentemente do tango argentino, a versão húngara possui características singulares devido à influência da música folclórica e cigana O clímax das interações entre as personagens ocorre quando a dança é executada na taberna de Halics. O tango descompassado permite que os sujeitos, por um momento, esqueçam seus dramas e se deleitem neste efêmero instante de frivolidade.
Após o tango, as personagens são atraídas pelas promessas niilistas de Irimiás, que se manifesta sob o signo da ressurreição. No entanto, o foco desta análise reside menos no que sucede ao tango e mais no que o antecede: as três sequências que formam uma unidade coesa. Essas sequências são: "O trabalho das aranhas I", "Irrompe" e "O

trabalho das aranhas II" Estes momentos são examinados aqui como uma unidade, pois tanto do ponto de vista narrativo estrutural quanto em relação ao conceito batalliano do informe, observa-se nessas três sequências um trabalho de formas sobre outras formas, marcado especialmente por um processo de abertura que centraliza o trabalho das aranhas.
Sabemos que a taberna vendida a Halics está infestada de aranhas, o que frequentemente coloca o taberneiro de mau humor, levando-o a percorrer o estabelecimento a chutes e pontapés, caçando as criaturas Para Rancière, o trabalho das aranhas atua como uma forma que incorpora as próprias figuras humanas, especialmente quando ele destaca que:
A primeira explicação acerca deste trabalho das aranhas é-nos dada pelas injúrias que o taberneiro lança ao burlão da Suábia, que lhe vendeu o estabelecimento sem lhe falar do seu defeito secreto: aranhas destruidoras que, por toda a parte, tecem as suas teias. Mas o trabalho das aranhas é também a mediocridade da teia que os clientes habituais tecem com as suas intrigas mesquinhas e com os pobres desejos neles desnorteados pela bebida e a vista de peitos avantajados. Os clientes habituais são os últimos sobreviventes da quinta colectivizada que se encontram no local, justamente, para repartir o dinheiro da venda do gado. A primeira mentira, a primeira burla, é a de dois membros que querem partilhar entre si a maquia e fugir à socapa E a história do fim da comunidade poderia ser, simplesmente, o conflito das aranhas humanas, com cada uma delas a tentar ficar com a melhor parte individual da falência comunitária É esta teia medíocre que vai ser desfeita pela intervenção de um mentiroso superior, o carismático Irimiás, que já não promete a partilha vantajosa dos restos do sonho colectivo, mas antes o abandono de qualquer lucro em prol de um sonho novo e mais belo (Rancière, 2013, p 61-62)
Embora Rancière não explore explicitamente as considerações sobre o informe batailliano em sua crítica ao cinema de Béla Tarr, é intrigante observar como a teia que envolve figuras humanas e aranhas pode ser analisada a partir da ideia das tarefas das formas, um conceito ao qual Bataille se dedicou em sua revista Documents Não se trata de uma tentativa de comprovar a presença do conceito de informe nos escritos de

Jacques Rancière, mas sim de reconhecer, tanto na crítica do pensador quanto no conceito batailliano, um desvio em direção às formas miseráveis. Na primeira sequência, intitulada "O trabalho das aranhas", a taberna de Halics é representada sob um estado de presença-ausência dos aracnídeos nunca vistos, mas indicados pelo odor ou pelas teias, ou seja, por seus rastros. A segunda sequência, que ocupa a centralidade dessa unidade, é chamada "Irrompe"
Aquilo que irrompe também rasga, abre, penetra, lacera. No filme, a pequena Estike aparece como uma "mancha escura" (Rancière, 2013), onde apenas seu dorso é contrastado com uma vasta paisagem. Ela crê que, ao plantar moedas de ouro, logo surgirá uma árvore delas. Enganada por seu irmão, que remove todas as moedas enterradas, a garotinha segue um processo de desintegração, que culmina com o envenenamento de seu gato e, subsequentemente, seu suicídio nas ruínas, estabelecendose como um estado de abertura, de laceração, no qual a obra alcança sua sequência mais obscura: "O trabalho das aranhas II" (Seio demoníaco, Sátántangó) O tango embriagado na taberna, em meio a uma infestação de aranhas, articula-se como a incorporação das figuras humanas em formas miseráveis Uma visão infernal em plano aberto mostra as figuras em movimentos repetidos, descompassados, sem ritmo. Um tango diferente, porém ainda um tango, e, por isso, informe, conforme indica Didi- Huberman:
Transgredir as formas não quer dizer, portanto, desligar-se das formas, nem permanecer estranho ao seu terreno Reivindicar o informe não quer dizer reivindicar não-formas, mas antes engajar-se em um trabalho das formas equivalente ao que seria um trabalho de parto ou de agonia: uma abertura, uma laceração, um processo dilacerante que condena algo à morte e que, nessa mesma negatividade, inventa algo absolutamente novo, dá algo à luz, ainda que à luz de uma crueldade em ação nas formas e nas relações entre formas - uma crueldade nas semelhanças Dizer que as formas ³trabalham´ em sua própria transgressão é dizer que esse ³trabalho´ - debate tanto quanto agenciamento, laceração tanto quanto entrançamento - faz com que formas invistam contra outras formas, faz com que formas devorem

outras formas Formas contra formas e, vamos rapidamente constatálo, matérias contra formas, matérias que tocam e, algumas vezes, comem formas (Didi-Huberman, 2015, p 29)
A investida de Irimiás visa salvar esses sujeitos de sua podridão; no entanto, essas figuras já estão encarnadas em formas ordinárias O universo, equivalendo-se a uma aranha ou um escarro, é o próprio cosmos de Béla Tarr que se incorpora em formas dessemelhantes. O tango informe, as aranhas que infestam a taberna, o ponto de laceração em que Estike fustiga seu gato todas essas imagens apontam para aquilo que o informe investe como formas prodigiosas. Portanto, não se trata de um gesto iconoclasta em relação às formas; a transgressão equilibra-se com o limite estabelecido Dito de outra maneira, trata-se de experimentar a estranheza das formas Os fotógrafos surrealistas, como mencionou Rosalind Krauss, eram mestres do informe (Krauss, 2012), pois, a partir de um procedimento técnico, podiam transformar o instante fotográfico em algo desclassificante. Nesse sentido, Rosalind Krauss esclarece:
Bataille alérgico à noção de definição, não fornece portanto um sentido ao informe Ele prefere atribui-lhe uma tarefa(trabalho), a de desfazer as categorias formais, negar o fato de que cada coisa possui uma forma que lhe é própria, imaginar o sentido que se tornou forma, como uma aranha ou um verme esmagado debaixo do pé. Esta noção de informe não propõe um sentido mais elevado, mais transcendente, obtido por um movimento dialético do pensamento. (Krauss, 2012, p. 178)
A fotografia surrealista explorou amplamente esse trabalho, atiçado por Bataille desde Documents, de modo que o contraste em perceber as imagens surrealistas na fotografia, a partir de um processo no qual a técnica é indispensável, traduz um ponto central na nossa prospecção. Procedimentos como o uso do primeiro plano, rotação de 180º, contre-plongée e solarização foram amplamente utilizados em fotografias, a exemplo das Anatomias por Man Ray. Quando nos voltamos para Sátántangó, ao fim da cena do tango, todos que antes ali dançavam embriagados, desfalecem na taberna. Nesse

momento, as aranhas surgem com seu último ataque: elas devoram a imagem das figuras humanas, investimento de formas contra formas.
O discurso de Irimiás confere dignidade aos sujeitos da comunidade, dignidade essa que eles nem sabem possuir. Basta observar a cena em que Irimiás chega após deixá-los à sua espera em uma ruína, e os encontra em suas impacientes brigas entre si, uma exposição de suas ignorâncias em não perseverar na palavra do salvador Irimiás, nesse sentido, assemelha-se à imagem do redentor, pois sua presença enche a comunidade de esperança, afinal, Irimiás retorna sob o signo da ressurreição O discurso que Irimiás carrega, sempre com bom carisma e palavras incisivas, representa uma força antagônica que lembra essa comunidade falida de sua semelhança. É preciso lembrar-se de que é humano; o alto não deveria tocar o baixo, por mais que seja da própria natureza daquelas pobres criaturas que se incorporam às aranhas organicamente. A teia de mentiras, as trapaças e as promessas traduzem a incorporação de um microcosmo que se assemelha à infestação de formas miseráveis
O informe batailliano se manifesta na obra de Béla Tarr através dos planos sequências, que por vezes isolam partes de um mesmo corpo, fragmentando sua anatomia e desviando para outras formas de ver as figuras humanas O universo dessas figuras são as relações medíocres, fracassadas e sujas O salvador surge enquanto a única figura que poderia erguer essas pobres criaturas de sua baixeza, aliás, essa é uma recorrência no cinema de Béla Tarr: fazer o homem sair de sua postura vertical em direção à horizontalidade, própria do animal. Esse procedimento, através das angulações utilizadas por Jacques André Boiffard em seu ensaio fotográfico ³Bouche´ (boca), se relaciona com cenas como Damnation, em que um homem se confronta com o cão ao se rebaixar à condição de quadrúpede. Em Sátántangó, ao procurar as aranhas que infestam a taberna, a Sra. Schmidt se agacha debaixo da mesa, ao passo que as criaturas não haviam devorado aqueles sujeitos ainda

Observar a discussão do informe relativo a Georges Bataille em um trabalho relativamente recente na história do cinema, reinsere as considerações de um desvio estético e político que questiona toda uma tradição filosófica de séculos. Em Sátántangó, a forma circular, ou até mesmo ontológica, com a qual Béla Tarr utiliza sua cinematografia, executando movimentos de câmera lentíssimos e giratórios, ou quando a câmera atua como um astro, orbitando uma zona habitável de eventos, traduz esse âmago cosmológico do diretor No entanto, a terra devastada, os habitantes medíocres e, o mais importante para nós, a imagem da aranha, concentram nesse universo relações ordinárias entre mentiras e intrigas De modo que a mesquinharia dos sujeitos se contrasta com o tecer da aranha, isto é, uma teia medíocre de relações é exposta para depois ser desfeita. Se por um lado temos o informe, que se assemelha a uma aranha, e mais ainda com a imagem desse animal esmagado, um organismo dilacerado sendo para nós a dessemelhança de uma forma reconhecível, do outro temos o trabalho desse organismo sendo potencializado na obra de Tarr.
É como se o próprio cineasta expandisse aquilo que Bataille discorreu acerca do informe, não apenas a partir de uma imagem que por vezes mais parece uma fotografia surrealista, mas também pela própria narratividade. Isto é, a aranha batailliana é a própria contenção do microcosmo de Tarr. Dito de outro modo, o informe e a imagem ordinária são como "objeto de posições espaciais contraditórias: reviradas, acrobaticamente de pé e, sobretudo, esmagadas contra o fundo, quase como aranhas antropomorfas" (DidiHuberman, 2015)
CAMPOS, Haroldo As Galáxias São Paulo: Editora 34, 2011

DIDI-HUBERMAN, Georges A semelhança informe, ou o gaio do saber visual segundo Georges Bataille. Rio de Janeiro : Contraponto, 2015.
RANCIÈRE, Jacques A partilha do sensível: Estética e política Rio de Janeiro: Editora 34, 2015.
. O tempo depois Lisboa: Orfeu Negro, 2013
KRAUS, Rosalind. O fotográfico. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002.
Filmes
DAMNATION. Direção de Béla Tarr. Hungria: 1988.
SÁTÁNTANGÓ Direção de Béla Tarr Hungria, Alemanha e Suiça: 1994

Texturizações visuais no cinema de Pietro Marcello1
Visual texturizations in Pietro Marcello¶s cinema
Bruno Mesquita Malta de Alencar2
Resumo: Analisa a texturização visual nos filmes Velas Escarlates (2022) e Martin Eden (2019), de Pietro Marcello, e os seus efeitos para a forma de inscrição do histórico nas imagens Mobiliza as noções de ³informe´ e ³figural´ no cotejo do uso de filtros cromáticos, a inserção de imagens de arquivo e a porosidade entre o espaço plástico da figuração e a representação, defendendo que essas operações conferem um inacabamento formativo a relação entre visível e legível
Palavras-chave: Cinema e história; Visualidade; Pietro Marcello.
Abstract: Analyzes visual texturing in the films Scarlet (2022) and Martin Eden (2019), by Pietro Marcello, and its effects on the form of inscription of history in its images It mobilizes the notions of ³informe´ and ³figural´ in the exam of the use of chromatic filters, the insertion of archive images and the porosity between plastic space of figuration and representation, arguing that these operations confer a formative incompleteness to the relationship between the visible and the legible.
Keywords: Cinema and history; Visualities; Pietro Marcello
1 Predileção pelas superfícies
Neste trabalho, investigaremos o fenômeno da texturização visual no cinema do realizador italiano Pietro Marcello e os efeitos que opera na articulação entre imagem, representação e experiência histórica Nos concentraremos em Velas Escarlates (2022) e
1 Trabalho apresentado ao GT 4 - ENTRE-IMAGENS: FOTOGRAFIA, CINEMA, VÍDEO E O UNIVERSO DAS IMAGENS HÍBRIDAS do Encontro Imagem + Política + Estética: territórios fluidos do contemporâneo, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife - PE, 05 a 07 de junho de 2024.
2 Bruno Mesquita Malta de Alencar, doutorando na Universidade Federal de Pernambuco, email: brunomaltadealencar@gmail com, https://lattes cnpq br/0598527745659367

Martin Eden (2019), que são, os dois, adaptações audiovisuais dos romances homônimos do britânico Jack London, no caso de Martin Eden, e do russo Alexander Grin, no caso de Velas Escarlates. Os filmes se ambientam na Europa do início do século XX, embora ocorram poucas enunciações textuais das suas coordenadas cronológicas. Ainda assim, é cognoscível que Martin Eden foi adaptado na Nápoles do pós-Guerra, e não na Oakland do início do séc. XX, como no texto literário de London, e que Velas Escarlates foi deslocado da Rússia recém-socialista do texto de Grin para a França do após-Primeira Guerra Mundial. Em linhas gerais, as narrativas se concentram nas relações interpessoais de personagens específicos a partir de dramatizações naturalistas, o figurino e a cenografia dos espaços sugerindo que as diegeses se adequam à representação do passado histórico.
No caso de Martin Eden, a narrativa aborda a jornada de um personagem homônimo (interpretado por Luca Marinelli), ex-marinheiro tornado um escritor, problematizando de que modo que a ideia de autoria e excepcionalidade de suas reflexões críticas é disputada duplamente pela consciência de classe e o individualismo burguês. Isso é observado a partir do relacionamento amoroso com uma mulher da elite napolitana (interpretada por Jessica Cressy), da jornada para conseguir se sustentar financeiramente com os seus escritos e a posterior decadência diante de uma vida luxuriosa Velas Escarlates narra alguns anos na vida de pai (Raphaël Thiéry,) e filha (Juliette Jouan) nas áreas rurais do Norte da França após o homem retornar do serviço militar na Primeira Guerra Mundial e sofrer para se reintegrar socialmente. Em seguida, quando morre, enfoca os dilemas existenciais da filha, como os relacionamentos amorosos e o enraizamento ou não no lugar de origem. Em ambos os casos, as tramas não estão apartadas dos contextos históricos em que se desenvolvem, pelo contrário
No caso de Martin Eden, de uma forma mais enunciada, há uma abordagem das questões de classe que caracterizam os ambientes sociais das cidades europeias do início do século XX. Para isso, atenta não somente para as diferentes formas de dispor dos bens materiais e suas cadeias de valor e produção, mas à como esses recortes de classe

configuram e expõem uma ³partilha do sensível´ em específico. Nos referimos ao conceito de Jacques Rancière que, em linhas gerais, designa a forma com que a ³repartição das partes e dos lugares se funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividades que determina propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns e outros tomam parte nessa partilha´ (2009a, p 15) Assim, expõem-se as dificuldades que Martin, enquanto membro da classe operária que trafega entre diferentes modos de sensibilidade, tem para se relacionar com a intelectualidade vigente e sua capacidade de dispor do tempo. No caso de Velas Escarlates, a inscrição do contexto histórico e político ocorre de forma mais indireta. Encontramos, principalmente, uma abordagem dos efeitos causados pela Modernidade e pelas Guerras do início do século XX sobre a experiência tradicional das áreas rurais, na esteira das discussões de Walter Benjamin (2012) O autor fala de uma experiência transmitida de geração em geração e que se conserva no senso comum arraigado pela tradição, mas que, diante do forjamento da ciência moderna e suas transformações nos meios de transporte e comunicação, é desafiada por novas formas de decantar temporal e espacialmente os horizontes cósmicos e sociais da existência.
Descritas as tramas e seus tentáculos contextuais, o fenômeno que inquieta este trabalho é de outra dimensão, mais visual do que narrativo e/ou temático. Pelo menos, podemos dizer que se inicia na dimensão visual para somente depois abarcar esses outros campos da espectatorialidade. Desde a primeira vez que entrei em contato com esses filmes me faz questão um apego que têm pelas manifestações de superfície que estão em jogo nas imagens Refiro-me tanto a superfície dos objetos, espaços e corpos que povoam os seus universos diegéticos com esse ou aquele aspecto figurativo, quanto às superfícies que emergem no espaço plástico das telas luminosas através das quais transcorrem visualmente. E, se faço essa distinção, não é para conservá-la categoricamente, mas como uma estratégia momentânea para desdobrar a análise Porque, se, como afirma Giuliana Bruno (2010), a espectatorialidade do cinema é psicogeográfica, ou seja, fenomenologicamente, uma experiência sensível da

espacialidade, seja ela realista ou não, é preciso ter em conta um arrefecimento da distinção entre o espaço plástico em que a dimensão visual das imagens se materializa e os espaços que são representados na diegese dos filmes, com toda a sua povoação material, de modo que podem ser reunidos em termos de um efeito na interface midiática, de um ³design háptico de superfície´
No primeiro caso, no que poderíamos distinguir momentaneamente como o ³espaço da representação´ , vemos, em Velas Escarlates, um contraste entre os produtos do trabalho artesanal do pai enquanto um marcineiro e os produtos da Modernidade. Isso acontece mediante cenas que mostram a talha de móveis, esculturas para embarcações, brinquedos de madeira, por um lado, todos produtos da artesania, e, por outro, a novidade de brinquedos elétricos que simulam os meios de transportes industriais, uma aeronave que aterrissa no vilarejo, revólveres e radiodifusores etc, por sua vez, produtos da Modernidade. Nessas cenas, é recorrente a operacionalização de um olhar para as superfícies através do uso de primeiros planos e de ações dramáticas em que os
personagens tateiam com as mãos os materiais que articulam esse contraste entre o moderno e o arcaico. Já em Martin Eden, por certo há o contraste entre os elementos materiais que promovem uma distinção de classe, como o figurino e elementos de adorno dos espaços, mas o que se destaca é a diversidade de modos de aparição dos rostos dos personagens As suas superfícies funcionam como signos de um descompasso entre o dizível e o visível, o filme insistindo em planos de duração longa em que diferentes afetos emergem na modulação superficial das fisionomias e desafiam a verborragia das cenas Isso é feito a partir tanto da manipulação da luz e enquadramentos pelas estratégias formais, saturando ou matizando os músculos e formas dos rostos dos atores, quanto pelo trabalho atoral de modulação corporal
Migrando de uma abordagem que privilegia os elementos do ³espaço da representação´ para o ³espaço plástico´ , mas com a ciência de que sua porosidade já está inscrita nas manifestações de superfície que negociam o caráter de representação ou figuração das imagens, é notável no cinema de Marcello uma turvação da

homogeneidade da superfície visual por meio de alguns expedientes que chamam a atenção para as suas camadas, texturas e relevos Isso é operacionalizado por meio da dessaturação das cores, a manipulação da velocidade dos quadros, a superexposição luminosa e o recurso à planos aproximados e desfocados, no que concerne às operações formais, além de um acento na heterogeneidade das consistências atmosféricas dos espaços diegéticos. No caso de Velas Escarlates, esse craquelado da superfície visual é exposto recorrentemente nos planos de sequências à noite, em que o confronto entre a baixa latitude da película utilizada pela filmagem com a baixa luminosidade dos espaços oferece um vislumbre das relações materiais em jogo nas imagens. Isso é acentuado quando elementos como a fumaça dos trens, a chuva ou a neblina emergem na cena. Também observamos isso em Martin Eden, porém com uma atenção que é dirigida menos para os elementos atmosféricos dos exteriores, e mais para os adornos com que os elementos arquitetônicos constroem os espaços interiores e suas diferentes formas de conferir visibilidade ao universo subjetivo do protagonista
Essa atenção às diferentes texturas que negociam a profundidade dos espaços diegéticos com a superfície plástica das imagens se hiperboliza mediante dois gestos. Primeiro, a inserção de imagens de arquivo na montagem desses filmes, algumas com contextos reconhecíveis e que se associam figurativamente às narrativas, e outras que se associam somente em termos figurados E, segundo, a extração das texturas dessas imagens de arquivo para a produção de imagens em que vemos os personagens da diegese narrativa sob os filtros que emulam o arquivo. Assim, podemos afirmar que Velas Escarlates e Martin Eden operacionalizam uma trama entre as texturas de imagens de diferentes proveniências e cujos aspectos visuais reivindicam sensibilidades diferentes ao espectador, pois os endereçam a partir de diferentes locus de enunciação - o documental e o ficcional; o anônimo e o singularizado; o individual e o coletivo; o consciente e o inconsciente A equação entre a quantidade de vezes em que essa fricção com o arquivo se dá, a imprevisibilidade de seus acionamentos, e a intensidade de sua

pregnância em produzir ficções imagéticas que são soberanas às tramas da narrativa produz um descompasso entre o legível e o visível na espectatorialidade
No caso de Martin Eden, vemos uma ampla gama de inserções na montagem.
Na sequência que abre o filme, a vista de figurantes em torno de um trem é entremeada com a exposição de que a materialidade da película está danificada (Fig 1) Já ao longo do filme, uma variedade de planos feitos em embarcações mostra a convivência entre marinheiros e a vista de portos a partir do mar (Fig 2) Mais à frente na narrativa, quando Martin começa a sua jornada intelectual, são mostradas imagens de arquivo de programas educativos com crianças (Fig. 3), além de registros vernaculares povoados de anônimos em seus afazeres prosaicos nas fachadas de suas casas (Fig 4-5) E, finalmente, mais próximo das tramas em que a jornada intelectual do protagonista é disputada pelo individualismo burguês e a consciência de classe, nos são mostradas imagens de arquivo de eventos históricos, como a queima de livros na Segunda Guerra Mundial (Fig. 6).




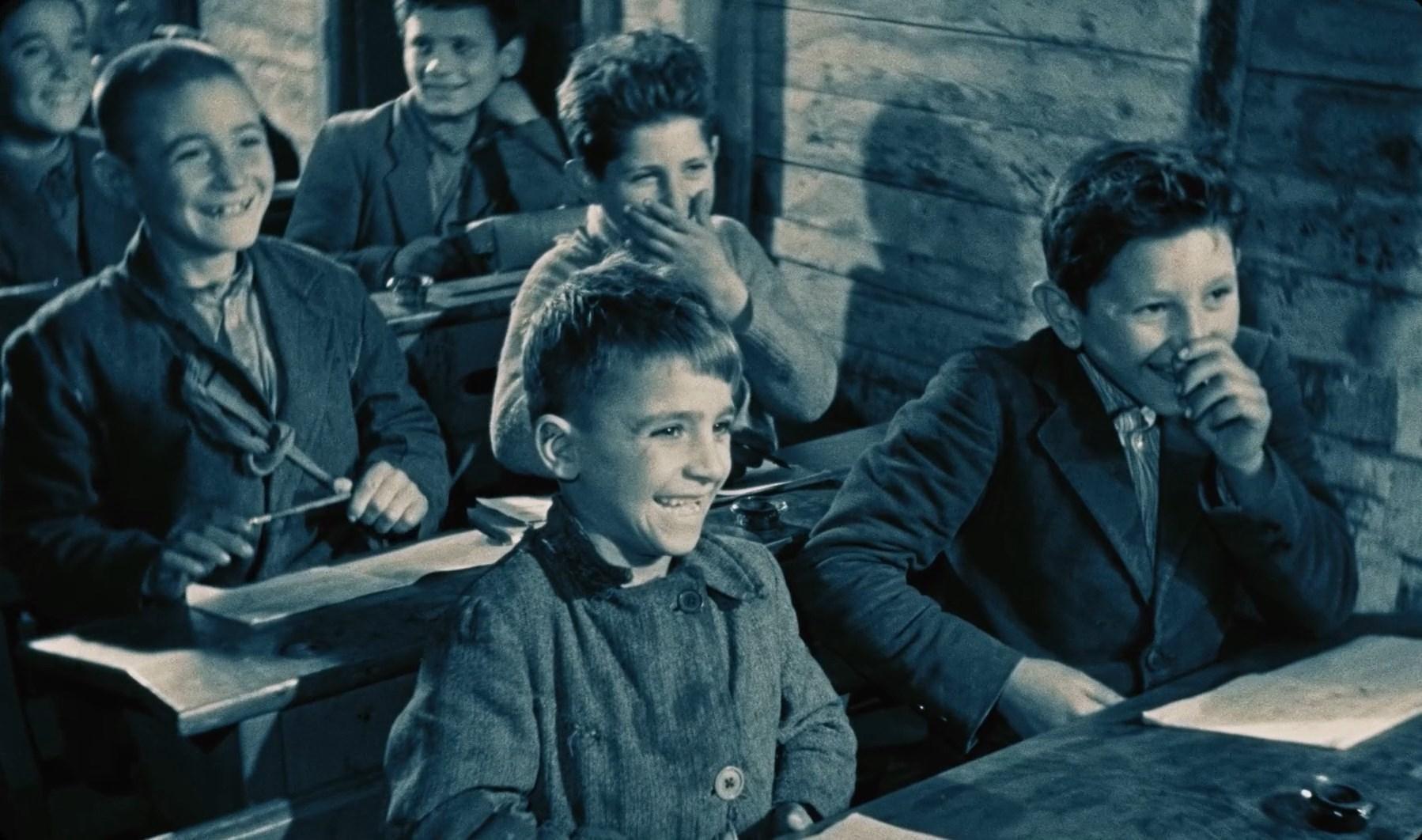

Fig 1-6: imagens de arquivo inseridas em Martin Eden Fonte: capturas de tela do filme.
Em comparação com Velas Escarlates, em que aparecem imagens de arquivo na sequência inicial e na ida das personagens à cidade (Fig. 7-8), a diversidade de inserções de imagens de arquivo em Martin Eden é consideravelmente maior A sua operacionalização tem o efeito de contrapor a verborragia dos personagens do filme e

produzir intervalos na relação cinegética com que a montagem nos endereça as tramas da narrativa Assim, a palavra e o dizível não conseguem enlaçar a potência do visual o suficiente a ponto de transformar a relação com as suas imagens em uma questão puramente de legibilidade. Em vez disso, a inscrição do histórico por meio da heterogeneidade das superfícies visuais tem o efeito de recusá-lo uma forma em específico em que viesse a se consubstanciar, posicionando a sua experiência como uma experiência da disjunção entre os modos de sensibilidade promovidas pela Modernidade e suas Guerras no continente europeu.


2 O informe e o figural
A hipótese de trabalho é que a fricção na homogeneidade da textura visual das imagens de Velas Escarlates e Martin Eden, ao cristalizar um inacabamento formativo na relação entre imagem e representação, destoma a história de uma inscrição privilegiada nos signos audiovisuais e nas tramas da narrativa, como figurinos, cenários, e coordenadas cronológicas e geográficas. Em contrapartida, elabora e inscreve o histórico na própria cisão entre consciência e inconsciente que configurou o rasgo na experiência tradicional causado pela Modernidade e suas transformações espaço-temporais. Em outras palavras, é para as ³re-partilhas do sensível´ que o filme se volta ao arranhar o documental com o ficcional, o público com o privado, o individual com o coletivo, a desordem do arquivo e os ordenamentos da narrativa.

Compreendemos que esse gesto do cinema de Marcello pode ser cotejado com a noção de ³informe´ como aparece em Georges Didi-Huberman (2015) Trata-se de instrumentalizar o ³informe´ como uma ferramenta heurística que atua na economia da relação entre as formas, sejam elas as que desdobram o pensamento, ou as formas visuais que tornam visíveis o caráter figuracional de uma imagem O ³informe´ seria, então, um operador conceitual que tanto qualifica relações de desclassificação a partir da inelutabilidade econômica de um dispêndio nos esforços de conservação de energia pela matéria, como uma ferramenta que inaugura, ou agita, uma ³dialética sem síntese´ entre as formas. E que, no caso de Velas Escarlates e Martin Eden, atua em duas dimensões contíguas e entrelaçadas Primeiro, nos agenciamentos produzidos pela montagem a partir de imagens de diferentes proveniências e sensibilidades. E, segundo, no encerramento figuracional das sequências, de modo que os objetos, espaços e corpos do arquivo conversam a partir de dessemelhanças com os seus correlatos diegéticos, colocando em risco - visual e semiótico - os signos que participam dessa fricção e de suas ficcionalizações: por vezes, portando a espectatorialidade com uma crença no vínculo com a realidade extra diegética; em outras, renegociando as associações simbólicas entre as figuras e acontecimentos; e, no que é o mais pregnante dos casos, abrindo as aparições dessas imagens para o campo das latências, do vibrátil, dos intervalos entrecruzados do sensório com o narrativo, que compreendo na esteira do que alguns autores discutem como o ³figural´ .
De acordo com Diego Damasceno (2022), a teoria do cinema se volta ao ³figural´ a partir da obra de Jean François Lyotard, em que essa dimensão dos fenômenos os garantiria um não encerramento na percepção sensível e nas elaborações do pensamento por causa da ³intervenção disruptiva do inconsciente em processos discursivos como a significação ou a representação´ (p. 29-30). Autores como Phillipe Dubois (2012), Nicole Brenez (2023), e o próprio Rancière (2009b) em sua conceituação do ³inconsciente estético´ , vão tratar do ³figural´ no cinema como a dimensão que confere uma autonomia ao caráter de figuração da imagem, no sentido de

um ganho de independência em relação a representação do extra midiático e aos encadeamentos narrativos Assim, o figural funciona como uma superfície dermal que promove fluxos de sentido entre o aspecto figurativo das imagens e os seus sentidos figurados, conferindo a potência do pensamento ao que não pensa e um sem-fundo de desrazão ao sentido Damasceno (2022, p 31) afirma:
O figural não se manifesta na fronteira, ele é a própria fronteira, uma de tipo móvel e processual que encarna o estado da diferença e expressa a heterogeneidade entre o pensamento e a sensibilidade O figural não separa o mesmo do outro, ele habita ambos como ameaça da dissolução de suas condições de expressão organizada
Se a economia imagética em Velas Escarlates e Martin Eden se dá com um elemento heurístico tal como como o ³informe´ , é porque rechaça a inscrição do histórico em termos de uma substância genética a ser representada, bastando apenas os instrumentos eficazes para a sua consensualização Em vez disso, é contagiada por um ³fumaceiro figural´ , em que a montagem é capaz de articular tanto um pensamento a partir de imagens com diferentes proveniências e sensibilidades, como forjar um dispêndio, uma desclassificação, na relação entre o que, a princípio, considera-se conformado com estabilidade. Em seguida, analisemos a sequência de abertura de Velas
Escarlates, cuja negociação entre visibilidade e legibilidade cristalizam o tensionamento da experiência tradicional do início do séc. XX.
3 Figuralidade entre as texturas
Velas Escarlates abre com 3 planos construídos através de imagens de arquivo em que a câmera está fixa. No primeiro caso (Fig. 9), vemos comboios militares cruzando a paisagem; no segundo (Fig 10), pessoas em um descampado rural; e, no terceiro (Fig 11), uma mistura de camponeses e soldados na mesma porção de terra, mas através de um enquadramento um pouco mais aberto que o anterior.

São imagens de visibilidade precária. No primeiro dos planos, chama atenção as regiões com sobreexposições e superexposições, além de um acento no amalgama entre os grãos da película com que a imagem foi captada e os grãos de poeira do chão de terra.
No segundo plano, por sua vez, destaca-se a profundidade de campo, que transforma o horizonte quase em uma zona etérea de aparição e desaparição dos corpos
- o limiar onde o extra midiático se torna figuração. E no terceiro plano, por fim, há ainda um outro elemento, que são os olhares que os figurantes devolvem à câmera quando se aproximam, evocando os instantes do registro e as suas presenças corporais.



Fig 9-11: planos de abertura de Velas Escarlates Fonte: capturas de tela do filme.
Logo após isso, é inserida uma imagem com o título do filme em uma tipografia com serifa de estilo clássico (Fig. 12). Esse também é o momento em que insurge uma trilha musical extra diegética, que vai continuar quando esse crédito se ausentar e vermos o personagem de Raphaël Thiéry nas primeiras imagens que associamos ao universo diegético da narrativa. Ele atravessa descampados semelhantes ao que víamos anteriormente (Fig 13), mas a diferença é perceptível, principalmente, pelas texturas visuais das imagens. A trilha cresce, planos de composição visual quase expressionista avançam, o personagem se dirige a um pequeno castelo, até que desembocamos em um momento que o tom da narração se altera, solicitando uma outra sensibilidade.
Nesse momento, assistimos os primeiros diálogos entre os personagens. Além disso, a trama da narrativa é minimamente apresentada, que consiste em Raphael estar voltando da Guerra e se deparar com o falecimento da esposa e o fato de sua filha estar sendo cuidada pela antiga patroa da mulher (Fig 14), que, por sua vez, o convida para viver em sua propriedade. Esse momento é construído com o recurso a planos que tem

reduzida a sua dramaticidade: há uma austeridade na composição visual, um naturalismo no trabalho atoral e o apego do filme às superfícies materiais dos objetos que estão sendo transfigurados na imagem confere um efeito de realismo, como nos planos que apresentam os aposentos de Raphael (Fig. 15).
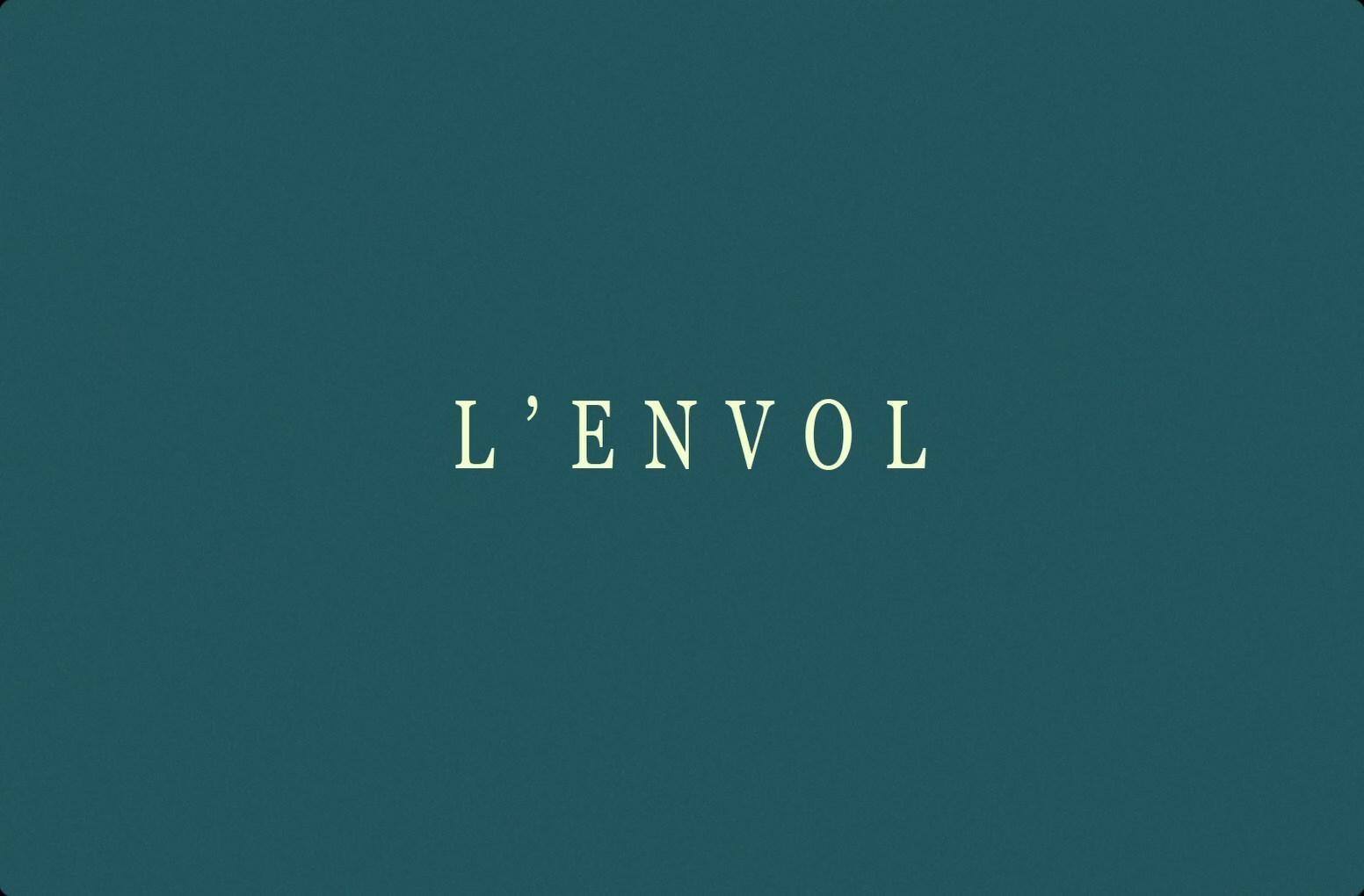


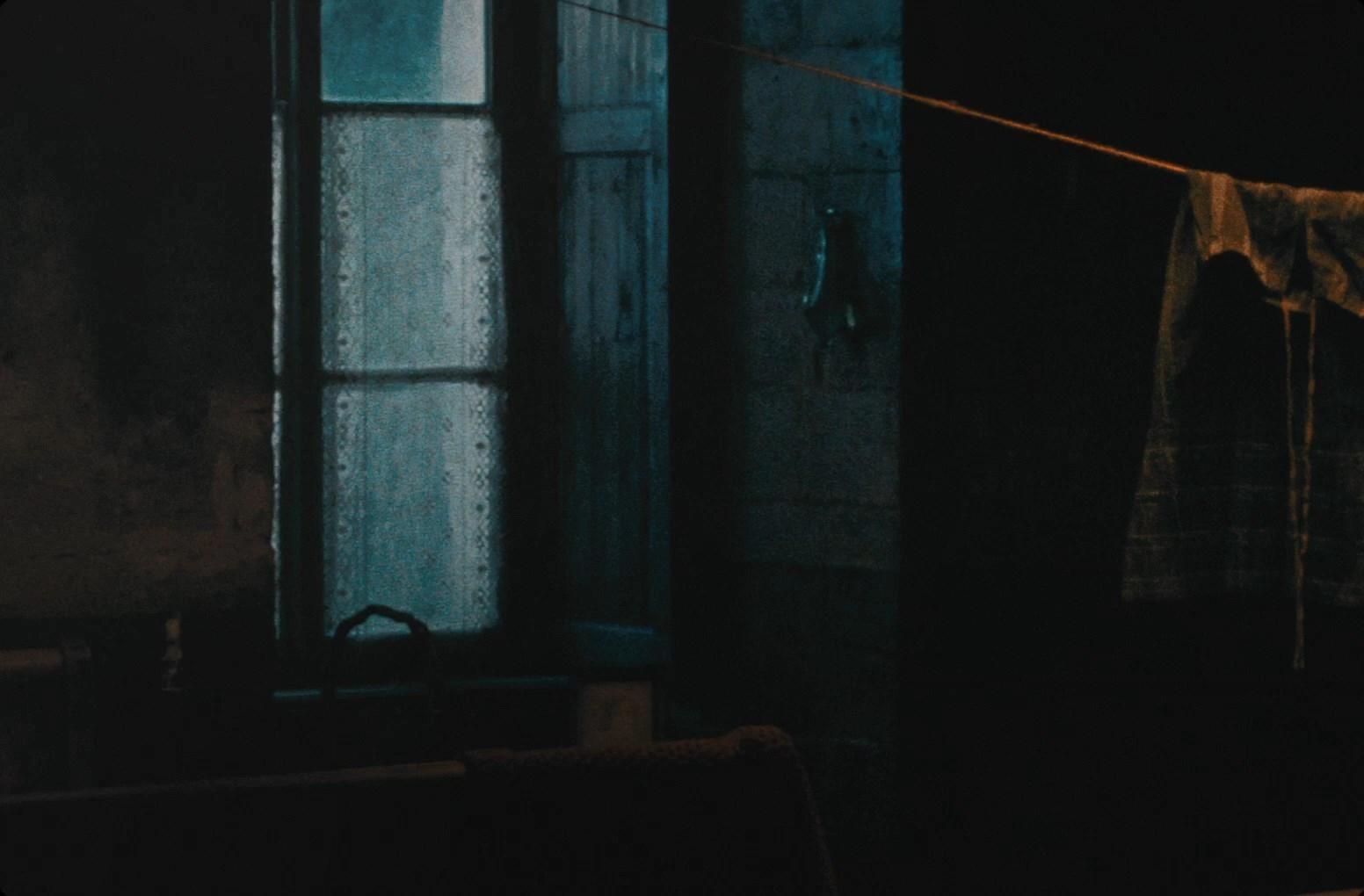
12-15: créditos iniciais de Velas Escarlates; retorno de Raphael para casa; patroa de Raphael e sua filha;
Porém, no momento em que, a sós em seus aposentos, Raphael começa a mexer nos pertences deixados pela esposa, como um pente e uma escova, percebemos que alguns afetos tomam conta de seu corpo e o agitam. Por meio de um plano fechado, vemos a sua respiração ofegante, o tremor nos dedos, e no momento em que leva as mãos por entre os cabelos (Fig. 16), uma transição encadeada intercede sobre a montagem, dissolvendo-a No plano que lentamente se mistura aos traços de seu rosto (Fig 18), entramos em relação com a mesma textura visual das imagens de arquivo que abriram o filme. Porém, dessa vez uma montagem interna à composição do quarto nos absorve a atenção: em primeiro plano, vemos um soldado que aparenta estar morto na grama do descampado, enquanto, ao fundo, outros soldados marcham sem dar atenção a esse corpo inerte e sem movimento Em contraste com o plano anterior do rosto de Raphael, onde começava a sua consistência psicológica insurgia, a vista do soldado

aparentemente morto tem negada o vislumbre de alguma singularidade - nenhum traço figurativo o destaca ou possibilita que hospedemos a suspensão espectatorial que é estar diante do irrepresentável da morte.
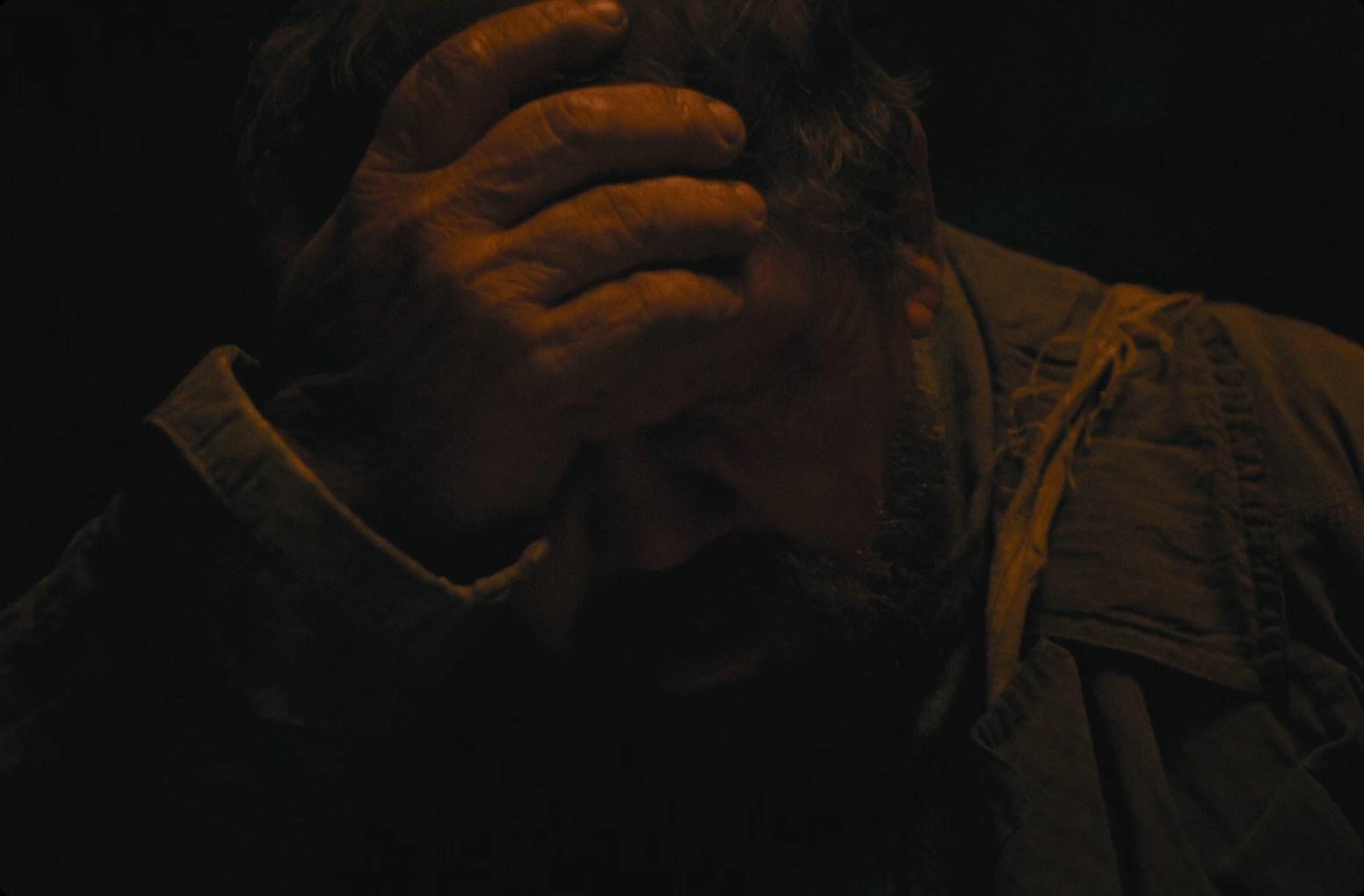

Fig. 16-17: Raphael com as mãos nos cabelos; Transição encadeada para uma imagem de arquivo; Imagem de arquivo do soldado aparentemente morto.
Fonte: capturas de tela do filme.
Esse plano e os que abriram o filme compartilham a qualidade da textura e da instilação da crença que provém das imagens de arquivo. Porém, a articulação com as imagens da diegese narrativa o conferem uma pungência consideravelmente mais intensa do que os anteriores De imediato, em um sentido figurado, nos questionamos se o soldado era algum conhecido para Raphael, se era ele mesmo em um estado de quase perecimento, ou se representa o horror e trauma da guerra de modo geral Porém, em termos do que contamina o narrativo com o sensorial, e vice versa, compreendemos que cristaliza o inacabamento formativo com que as imagens do filme elaboram sobre o caráter histórico que se inscreve em seus personagens e tramas narrativas. Assim, Raphael é continuamente acossado por um trauma que não é enunciado nos diálogos e que não se apresenta na narrativa, mas se origina nessas imagens que abrem o filme Os descampados que são percorridos pelos personagens são assombrados pelas lembranças dessemelhantes de terem sido campo de batalha e desfalecimento, embora não vejamos vestígios materiais disso na diegese. E, finalmente, as texturas das histórias individuais dos personagens se confundem com as da história coletiva na medida em que consciente e inconsciente se materializam como uma dimensão não apenas da consistência

psicológica do personagem, mas como uma dimensão do próprio visível. Em suma, com essa transição encenada, a legibilidade da narrativa e da representação audiovisual do filme, das ações dramáticas e da construção dos espaços, é tensionada pela emulsão anacrônica das ficções produzidas pelo arquivo.
Na maior parte da duração do plano do soldado aparentemente morto, a dimensão sonora está em silêncio, mas perto do fim, uma trilha musical intercede e mediante a sua textura rarefeita a vinculamos ao universo diegético O filme corta para um plano do céu em que acompanha uma formação de pássaros em movimento. A trilha musical funciona como um liame entre eles, assim como a superfície visual dessa imagem, que já não é mais proveniente de um arquivo, mas que, como no arquivo, tem as suas texturas expostas na medida em que se detém sobre a superfície não homogênea do céu azul Em seguida, aparecem uma série de primeiros planos: inicialmente, vemos Raphael, o que o revela como o tocador do instrumento musical que anima a dimensão sonora; em seguida, a lápide da esposa; e, finalmente, por meio de um movimento de zoom out, a sequência mostra que o personagem está em um pequeno cemitério improvisado em um descampado muito semelhante ao que vimos na imagem de arquivo, mas que não é idêntico A ³semelhança informe´ entre eles é a instância do visual que permite a construção de um conflito sem resolução em que o espaço exterior que se plasma nesse plano evoca a porção de terra um pouco mais ao lado da que víamos nas imagens de arquivo, mas sem completar a associação - Raphael como um dos soldados que marchavam, ou como o que estava aparentemente morto na grama, diante da lápide da esposa, que poderia ser uma das figurantes que acenavam à câmera nas outras imagens de arquivo que abriram o filme.
Essa fricção, esse atrito, esse verdadeiro esfregão, entre as texturas do documental e as texturas diegéticas-narrativas tem o efeito de espelhar de uma forma dessemelhante os seus signos visuais, de modo que, daí em diante, impregnam a continuidade do filme, suas imagens e as tramas que se fazem através delas. Porque, independentemente do lirismo que em alguns momentos o filme adquire, como no

relacionamento amoroso entre a personagem de Juliette Jouan e de Louis Garrel, subsiste uma náusea constante, um ³fumaceiro figural´ que não se dissipa, mas vai sufocando a espectatorialidade com o não visível de sua insistência.
Os planos da aeronave do personagem de Garrel aterrisando no descampado podem ser tomados em um sentido figurado como a Modernidade aterrisando sobre o campo de mazelas, traumas e morte da Guerra. Porém, mirando a sua dimensão figural, é a própria visibilidade da experiência de conservação da legibilidade se desfazendo em detrimento de uma capacidade do visível entrar em relação com as outras velocidades e disposições espaço-temporais que reconfiguravam o mundo na transição entre os séc. XIX e XX E isso catalisa afetivamente as ações da personagem de Jouan no transcorrer do filme. Em muitos momentos, a vemos um tanto indecisa, quase como se estivesse em um campo de explosivos e cadáveres; em outro, responde com gestos que não conseguimos identificar os gatilhos e motivações, como se fosse despertada pelas tramas forjadas nas texturizações visuais do filme, e, não, nos encadeamentos da narrativa
Andreas Huyssen em Culturas do passado-presente (2014, p. 127) afirma que ³pode haver vestígios de presença na ausência de representação, do mesmo modo que a presença na representação pode levar a novas formas de esquecimento e invisibilidade´
Velas Escarlates e Martin Eden cristalizam essa proposição na medida em que efetuam o gesto de equacionar as relações entre as formas a partir de uma desclassificação, inscrevendo nos intervalos desse processo a dimensão em que a imagem pode fazer cintilar a transformação nas condições de apreensão da sensibilidade do mundo. Assim, elaboram sobre o histórico menos em termos narrativos do que visuais, e nas dimensões do visual, menos nos aspectos figurativos e sentidos figurados, do que nos rastros da texturas, das sombras e das latências do figural
Referências

BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução: Sérgio Paulo Rouanet. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012. v. 1
BRENEZ, N On the figure in general and the body in particular Tradução: Ted Fendt London, New York: Anthem Press, 2023
BRUNO, G. Motion and Emotion: Film and Haptic Space. Revista Eco-Pós, v. 13, n. 2, 2010.
DAMASCENO, D. A Questão do Figural na Teoria Contemporânea do Cinema Vista a Partir de Jean-François Lyotard Aniki: Revista Portuguesa da Imagem em Movimento, v 9, n 2, p 27 54, 5 jul 2022
DIDI-HUBERMAN, G A semelhança informe: ou o gaio saber visual segundo Georges Bataille. Tradução: Caio Meira; Tradução: Fernando Scheibe; Tradução: Marcelo Jacques de Moraes. 1. ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015.
DUBOIS, P. Plasticidade e Cinema: A Questão do Figural. Em: HUCHET, S. (Ed.). Fragmentos de uma Teoria da Arte São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012 p 97 118
HUYSSEN, A Culturas do passado-presente: modernismos, artes visuais, políticas da memória. Tradução: Vera Ribeiro. 1. ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014.
RANCIÈRE, J. A partilha do sensível: Estética e Política. Tradução: Mônica Costa Netto. 2a ed. São Paulo: EXO experimental org.; Editora 34, 2009a.
RANCIÈRE, J O inconsciente estético Tradução: Mônica Costa Netto São Paulo: Editora 34, 2009b

A imagem que cai: Fricções entre o Informe (Krauss, 1990) e a Queda livre (Steyerl, 2017) em Vertical Roll (1972) e Outer Space (1999)1
The Falling image: Frictions between the Formlessness (Kraus, 1990) and the Free Fall (Steyerl, 2017) in Vertical Roll (1972) e Outer Space (1999)
Myllena Matos Souza de Jesus2
Resumo: Krauss e Steyerl articulam conceitos que referenciam os regimes de visualidade dominantes como paradigmas óticos em constante revisão a partir da história desses próprios regimes. Ambas as autoras reúnem discussões fundamentais para a análise das imagens que caem na contemporaneidade Este trabalho pretende observar por quais procedimentos se materializam essas imagens
Palavras-chave: Paradigma, Perspectiva linear, Cinema experimental.
Abstract: Krauss and Steyerl articulate concepts that reference dominant regimes of visuality as optical paradigms in constant review based on the history of these regimes themselves Both authors bring together fundamental discussions for the analysis of contemporary images. This work aims to observe through which procedures these images materialize
Keywords: Paradigm, Linear perspective, Experimental cinema.
1 Trabalho apresentado ao GT 4 - Entre imagens: fotografia, cinema, vídeo e o universo das imagens híbridas) do Encontro Imagem + Política + Estética: territórios fluidos do contemporâneo, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife - PE, 05 a 07 de junho de 2024.
2 Myllena Matos Souza de Jesus, Universidade Federal de Pernambuco, myllena.jesus@ufpe.br , http://lattes cnpq br/2061111338622255

1. Fricções entre Informe e Queda-livre
Rosalind Krauss (1990) sobre Bataille, articula o informe como uma tarefa: a de imaginar o sentido da coisa que se tornou sem forma Steyerl (2017) articula a queda como um movimento previsível perante a regimes de imagem dominantes Para Steyerl, a perspectiva linear reduz o espectador a um sujeito monocular, imóvel, onde a visão é dada como coisa natural e homogênea, sem qualquer espaço para a percepção subjetiva
A perspectiva linear não só ³transforma o espaço, como também introduz a noção de tempo linear´ (Steyerl, 2017, p 5) e se insere num regime de visualidade onde cria a ilusão do real, a imagem plana representa uma janela, um observatório para a realidade.
Esses padrões de representações, óptico e hápticos, lineares ou em queda, significam redefinições nos conceitos e na experiência do tempo e do espaço Steyerl (2017), assim como Krauss (1990) comenta como talvez na contemporaneidade estejamos testemunhando novamente uma transição em diferentes paradigmas visuais
Essas transições ficaram mais evidentes a partir da década de 1960, com uma suposta efervescência do cinema experimental ou cinema de artista em torno da experimentação do dispositivo óptico que pairava entre as poéticas que desafiavam outras concepções de estrutura fílmica Concatenando assim, vanguardas minimalistas, dadaístas, surrealistas em torno da queda da imagem, a sua baixeza, que segundo Krauss (1990) designa um mecanismo de rotação, um mecanismo de queda, que é essencial a máquina fotográfica, e que aqui se aplica também ao filme e ao vídeo ³a máquina fotográfica automatiza esse processo, o torna mecânico: aperta-se um botão. Depois, é a queda´ (Krauss, 1990, p 175)
Segundo Baudry (1970) a câmera fotográfica vai operar um papel central na construção de um filme, seu modelo de inscrição segue a noção de perspectiva elaborada no

Renascimento, onde o trabalho das profundidades vai garantir complexidade a essa noção de perspectiva que o cinema clássico vai tomar como norma referencial A perspectiva renascentista, portanto, não nasce isolada de seus processos históricos, ainda de acordo com o autor existe uma ³ideologia inerente à perspectiva´ (Baudry, 1970) que valoriza o ³sujeito´ como elaboração e origem do sentido, provocando o recentramento da perspectiva em torno do olhar humano. ³O aparelho ótico, a câmera escura, servirá no mesmo campo histórico para a elaboração pictórica de um novo modelo de representação, a perspectiva artificalis´ (Baudry, 1970).
Assim como Baudry chama atenção para o caráter artificial das imagens construídas a partir de uma tradição da ciência ocidental, Steyerl argumenta também sobre como a perspectiva linear, seria também tão artificial, inventada, como as imagens que pressupõe uma queda desse regime.
A perspectiva linear se baseia em inúmeras negações decisivas Primeiro, a curvatura da Terra é tipicamente desprezada O horizonte é concebido como uma linha reta abstrata para a qual convergem os pontos ou qualquer plano horizontal (Steyerl, 2014, p 5)
É o suposto caráter científico das máquinas óticas, ou do regime de visualidade que forja, que vai mascarar seu trabalho ideológico, propositalmente negado a partir de procedimentos que garantem ao espectador a impressão de realidade Esta impressão/ilusão será chamada de transcendência ³Este princípio de transcendência, que condiciona e é condicionado pela construção perspectivista representada na pintura e na imagem fotográfica nela calcada, parece inspirar todos os discursos idealistas aos quais o cinema deu lugar´ (Baudry, 1970, 388).
Sobre as supostas neutralidades do discurso científico Agamben comenta que ³os discursos são articulações históricas de um paradigma´ (Agamben, 2019, p 11), desse modo as novas normas estabelecidas pela ³invenção´ da perspectiva representam acima de tudo um momento histórico, ³a verdade científica hoje é apenas um episódio dela,

ou, no máximo um termo provisório´ (Agamben, 2019, p.11), assim os discursos em torno de tempo e espaço modernos, representam o paradigma óptico É através da sua repetibilidade, onde atinge um caráter de certa dominância perante outros discursos que o paradigma adquire capacidade de modelar tacitamente o comportamento e as ciências (Agamben, 2019)
Reforçando o olhar de Agamben sobre a história, Steyerl escreve a perspectiva linear como um paradigma de visualidade, construído a partir de noções ficcionais e de decididas negações sobre o olhar, constrói uma aura objetiva e cientificista para a visão linear A perspectiva linear é tão artificial, virtual, quanto a construção de procedimentos da perspectiva háptica, tão inventada quanto. A estabilidade da perspectiva linear incide na elaboração de conceitos modernos de tempo e espaço e assim se constrói como paradigma de visualidade dominante, descendente de uma ³racionalidade´ que depois serviria de base para instrumentos colonizatórios Como por exemplo os instrumentos náuticos que refinaram modos de obter a linha do horizonte. Recorrendo a história Steyerl argumenta como a perspectiva linear ou a perspectiva renascentista olho-sujeito que retoma o renascimento vai garantir, a partir da falsa ideia de estabilidade do sujeito, as tecnologias de navegação que permitiram a expansão de uma política dominante para além da cristalização das concepções modernas de tempo e espaço.
Desse modo a perspectiva linear, previu um observador estável, o que se tornou um grande obstáculo desse regime de visualidade, visto que o observador nunca estava completamente fixo Mas enquanto a estabilidade era uma ilusão, os horizontes estáveis e artificiais, foram projetados. Junto à projeção artificial do chão está a projeção artificial da queda Segundo Steyerl, a perspectiva linear lança as sementes de sua própria queda ³Seu fascínio científico e sua atitude objetivista estabeleceram reivindicações universais para representação´ (2014, p.6) que minaram formas

representativas menos ³científicas´ segundo sua própria regra, ou seja, as perspectivas múltiplas já germinam assim dentro da própria perspectiva linear e vice-versa Essas transições marcam um estado de mudança de paradigma, que já eram perceptíveis no século XIX. Não se pretendia negar a linha do horizonte, ou o chão sob os pés, mas torná-lo inacessível ou fazer imaginar ver sem a certeza da estabilidade, e por isso a iminência da queda. ³A questão do horizonte começa a flutuar, por assim dizer. Perspectivas assumem pontos de vista móveis, e a comunicação é inviabilizada, ainda que sob um horizonte comum´ (Steyerl, 2014, p.7).
A queda livre é uma força assustadora, desterritorializante, que não promete um chão, mas uma forma mutável, não constrói para si, como na perspectiva linear, uma ³estabilidade original´ mas um constante aberto que não cessa, a queda livre é o próprio instante do cair. ³Queda é corrupção como também libertação, uma condição que transforma pessoas em coisas, e vice-versa´ (Steyerl,2014, p 10) Assim como o regime de visualidade óptico produz um observador imaginário, estável, os regimes de visualidade ³contra-hegemônicos´ também imaginam um espectador imaginário flutuando sob um solo firme imaginário (Steyerl, 2014)
A inscrição de outras perspectivas de visão estabelece novas normas, portanto novos modos de ver, que não indicam necessariamente uma superação da perspectiva linear mas uma radicalização dos procedimentos, via novos suportes, e assim promover a situação da queda Não se trata aqui de reconstruir ou especular a origem dos modos de ver, se foram ópticos ou hápticos, mas o caráter positivo inerente a cada paradigma de visualidade, que permite sua transgressão ou radicalização
2. Projetos de fuga: inscrição da imagem ou dispositivo desvelado
As tecnologias do cinema, utilizam e complexificam a perspectiva ideológica dominante do dispositivo técnico ou a perspectiva linear De acordo com Baudry, o

cinema, diferente da fotografia, pode dar a impressão de superar o caráter monocular da perspectiva única, as possibilidades da inscrição da imagem a partir do deslocamento da imagem em movimento, garantiriam uma multiplicação de pontos de vista capazes de neutralizar o sujeito ³criador´ da imagem da perspectiva única. Esse efeito porém é artificial, a partir de outros procedimentos o cinema referencia a norma da perspectiva monocular ³entre a inscrição e a projeção, situam-se algumas operações´ (Baudry, 1970, p 385) O sentido construído, a ilusão de continuidade, não depende do bruto, o conteúdo da imagem, mas dos procedimentos materiais que são capazes de mascarar a diferença, é a partir da negação da diferença que se estabelece a continuidade, de uma perspectiva temporal única
Essa relação no entanto é ambivalente, por um lado a aparelhagem ótica permite a impressão da diferença, por outro os procedimentos da pós-inscrição da imagem permitem reprimir a diferença, é essa negação que dá ao espectador a noção de linearidade que vão ser reivindicadas a partir da inscrição de outras perspectivas. Segundo o autor, a diferença se refere a tudo aquilo que dá a entender o processo da inscrição da imagem até a tela, revela o dispositivo produtor de imagens
O cinema produz a representação e através dela a identificação, o inconsciente do cinema, segundo Baudry, revela o por trás da representação, os procedimentos que causam o desmoronamento da identidade, a revelação da diferença. Entendendo a representação como eixo de criação estética das criações artísticas no ocidente, o cinema assume o lugar onde se aglutina, na história da arte ocularcêntrica, a representação e a especularização, esses dois elementos formam um sistema de afecção e interpretação.
A condição de infinitas possibilidades da câmera torna o sujeito representante da sua tecnologia, ³o olho que se desloca não está mais entravado em um corpo, pela leis da

matéria ou pela dimensão temporal´ (Baudry, 1970, p.391) o mundo então não se constitui só através do sujeito, mas para ele O instrumento, a câmera, também dispositivo permite a manifestação de um sujeito transcendental (Baudry, 1970) que se manifesta a partir da inexistência de limites para o seu deslocamento, pelas possibilidades de inscrição da imagem a partir do olho que não é só mais o sujeito mas a câmera e o que ela permite, o olho-sujeito da perspectiva artificial é um representante dela mesma, representante de uma transcendência, o olho-câmera vai permitir a manifestação desse sujeito. ³Quem vai transmitir a ilusão ou não da realidade é o sujeito que opera o instrumento e o discurso ³a continuidade é um atributo do sujeito. Ela o supõe e lhe circunscreve um lugar´ (393)
Essa continuidade não poderia ser exercida sem um ato de ³violência contra a base instrumental´ a descontinuidade segundo o autor estaria mais ao nível da imagem, sua materialidade, que pode ou não ressurgir na sequência narrativa, provocando a sensação de disruptura. Esse argumento corrobora com a ideia de que a perspectiva linear é produzida tão artificialmente quanto os procedimentos que dela derivam a sua fragmentação
A procura dessa continuidade narrativa, tão difícil de se obter da base material, só pode ser explicada por um Investimento ideológico essencial que a isso visava: trata-se de salvaguardar a todo custo a unidade sintética do lugar originário do sentido, a função transcendental constitutiva à qual remete como Sua secreção natural a continuidade narrativa (Baudry, 1970, p 394)
Talvez o desvelamento dos mecanismos de continuidade exercem no cinema um dos procedimentos da subjetivação dos dispositivos atuantes no mesmo. Esse movimento é exercido, porém, não fora do dispositivo em que trabalha, mas a partir da inscrição do trabalho. A potencialidade de subjetivação ou resistência ao dispositivo se encontra

dentro dele. Esse movimento de forças em direção ao dispositivo representa uma resistência quanto à ideologia predominante do mesmo
O cinema vem assumir de fato o papel desempenhado na história do Ocidente pelas diferentes formações artísticas A ideologia da representação (eixo principal que orienta a concepção da "criação" estética) e a especularização. (Baudry, 1970, p.398)
Mas não significa um rompimento, uma atuação fora dele De acordo com Carvalho (2011) as forças que atuam em um dispositivo são móveis, reversíveis e instáveis. Há sempre uma fratura onde se pode romper e inscrever subjetividade no mesmo, o que não significa que as identidades que vão fruir já não estão também registradas pelos dispositivos ³É porque há forças no sentido do seu assujeitamento que a subjetividade pode resistir´ (Carvalho, 2011, 92)
Nesse sentido os conceitos-tarefas de informe e queda-livre, são um conjunto de práticas e direcionamentos de subjetivação dentro do dispositivo, aqui (dispositivo) como tecnologia ideológica e um conjunto de práticas em relação a câmera, a produção de imagens.
3. Representações da queda: outer space e vertical roll
Steyerl chama de aceleração as mudanças causadas no campo da perspectiva no século XIX, segundo a autora são tantas as mudanças referentes a procedimentos artístico e tecnológicos que a perspectiva linear não podia ou não conseguia ser a única perspectiva em disputa frente aos movimentos de vanguarda e em especial a aos efeitos da montagem cinematográfica ³Com o século 19, o desmantelamento da perspectiva linear começou a estabilizar-se em diferentes áreas.
O cinema anexa a fotografia com a articulação de diferentes perspectivas temporais A montagem torna-se dispositivo perfeito para desestabilizar a perspectiva do observador e quebrar o tempo linear. A pintura abandona em grande parte a representação e destrói a

perspectiva linear com o cubismo, a colagem e diferentes tipos de abstração. Tempo e espaço são reimaginados. (Steyerl, 2014, p.7)
Os procedimentos espaciais postos em evidência na produção surrealista do informe são de certa forma semelhante ao que Steyerl propõe na aceleração: usar de procedimentos estéticos para reivindicar noções ou conceitos como a forma em Bataille (Huberman, 2015) e a perspectiva linear ³O projeto transgressivo de Georges Bataille acerca da filosofia idealista consistia em não ³se basear´ nos próprios conceitos: tratava-se de partir deles´ (Huberman, 2015, p 47) e fazê-los passar por uma espécie de inferno O que significa alargar os limites da forma, partir dela e até utilizar seus procedimentos. Esse ³inferno desorientador´ é o movimento de produção de imagens em queda. As obras aqui analisadas partem dessa proposta de tensionar ou mesmo transformar regimes de visualidade produzindo linhas de fuga e movimentos de subjetivação através da produção de uma série de procedimentos desorientadores, que em si não apontam para uma perspectiva linear mas para múltiplas perspectivas. Seja através da texturização da imagem, dos close-ups, do tempo alargado ou até da inscrição do processo fílmico na própria obra, produzindo assim uma série de glitchs intencionais
No vídeo a artista provoca uma interrupção do sinal eletrônico ao manusear o monitor verticalmente e romper a percepção total da imagem, que é seu corpo na sua performance Organic Honey (1972), a artista interdita o espectador do acesso a essa imagem do corpo nu feminino, quando ela não permite através de suas estratégias formais que esse corpo seja capturado por discursos objetificantes, o vídeo é tanto interrompido por uma aparição violenta de uma barra preta na imagem como com o som desconcertante da gravação da própria artista batendo um bloco de madeira, o som e a imagem que se repetem entram em um ritmo constante de desnorteamento e a imagem é pontuada por esse barulho perturbador. As inscrições do processo fílmico na imagem são usadas por Jonas como um dispositivo formal, entendendo que os dispositivos engendram discursos ideológicos, a forma não se dissocia do discurso da obra


Frame do filme ³Vertical Roll´ (1972) de Joan Jonas
A artista recusa em sustentar a sua imagem num espaço pictórico fixo e apresenta esse corpo como um fragmento, a partir do espelhamento da sua imagem A obra foi gravada com duas câmeras, uma gravou a performance de Jonas na persona Organic Honey que foi transmitida via live para um monitor de televisão e a segunda gravou a tela desse monitor para a versão final do vídeo A fragmentação, o corte brusco da imagem e do som relativamente desconfortável representam no seu trabalho a fragmentação da sua própria experiência como mulher, não por acaso a artista recorre a procedimentos desalinhados com uma perspectiva monocular e linear da imagem, rompendo também com a próprio regime de visibilidade que forja uma ideia de feminilidade.
Na sua recusa em sustentar a sua imagem num espaço pictórico fixo, Jonas utiliza as qualidades espelhadas da câmara de vídeo para se apresentar como uma sequência de fragmentos, sugerindo a impossibilidade de ler a identidade como algo singular e unificado. (The Whitney Museum of American Art. Joan Jonas, Vertical Roll. The Whitney Museum of American Art. Disponível em: https://whitney.org/collection/works/12812. Acesso em: 26 jul. 2024.)

Assim como outros artistas do gênero, Jonas articula a forma do filme diretamente com o discurso que quer provocar. As escolhas estéticas da artista nada mais são que fugas dentro do dispositivo que manuseia, dentro também de um momento histórico que articula discursos que nomeiam seus procedimentos estéticos como desorientadores frente aos modos de ver e fazer ver do ocularcentrismo. A resistência ao dispositivo nunca se encontra fora dele, mas dentro dele, a resistência é parte do dispositivo, são práticas de liberdade dentro de um sistema específico. Logo, o procedimento da artista é um discurso e uma série de ações, violências, de subjetivação contra e dentro do dispositivo.
sujeito não é sinônimo de indivíduo, não tem unidade ou interioridade, pois não há, para o autor, um sujeito prévio, um sujeito que enuncia ou que tem uma essência O que há são processos de produção de sujeito, isto é, a subjetivação deve ser pensada como um processo, como uma estética da existência em um determinando regime de verdade (Carvalho, 2011, p 5)
Ainda segundo a autora são as estratégias de subjetivação dos dispositivos de produção de imagem que podem colaborar para a continuidade de classificações identitárias dominantes ou resistir às mesmas, essas práticas de fuga existem dentro de um determinado sistema de identidades, de poder, e a linguagem artística é talvez a força que possa ³ativar formas de subjetivação´ (Carvalho, 2011).
3.1 Invadir um filme
Segundo Krauss os fotógrafos surrealistas eram mestres do informe ³por uma simples rotação do corpo e a desorientação dela resultante´ (Krauss, 1997, p.75 ) a máquina fotográfica foi utilizada como atalho da produção do informe essa percepção ³animal´ se faz através de um procedimento espacial que ³propulsa a imagem no reinado do vertiginoso, demonstração de queda´ dialogando com a recusa da negação da

instabilidade da perspectiva linear e a iminência de uma transição em direção a queda livre, impulsionado por uma máquina, que é a máquina fotográfica
Bataille, de acordo com Krauss não fornece um sentido ao informe, mas o atribui como uma tarefa, a de desfazer das categorias formais, imaginar o sentido de uma coisa que se tornou sem forma, entendendo porém que as fronteiras produzidas pelas formas não podem ser transcendidas mas transgredidas dentro delas mesmas, através da ³delinquência, da putrefação e da podridão´ (Krauss, 1997, p.178). O que defende
Bataille é o exercício de uma produção mecânica do informe e nesse exercício anuncia essa dinamicidade não passiva que não espera ³pela chegada do acaso´ mas o produz através dos procedimentos espaciais produzindo ³assaltos efetivos e agressivos da realidade´ (Krauss, 1997) Portanto, são muitos os procedimentos que produzem a baixeza e que podem propositalmente ser postos a serviço do informe, essas tarefas que podem ser chamadas de violências óticas podem partir da exploração da infraestrutura técnica dos dispositivos, por exemplo o uso de efeitos que produzem a corrosão ótica para produzir o informe, como o fogo em la nebulose (Ubac, 1939), essas inscrições provocam crises que acontecem na superfície da imagem, como a sobreposição em Outer Space (1999) que aponta para múltiplos ³centros´ de visão na tela, rebatendo a perspectiva monocular, da profundidade, construindo uma relação com a superfície, a pele da imagem, através da corrosão ótica em direção ao tempo háptico.
O filme do cineasta austríaco Peter Tscherkassky é um found footage onde o artista usa o material como um exercício de destruição, ou pelo menos de invasão, no sentido de violência da imagem O filme começa com um plano aberto da personagem Carla Morgan, originalmente do filme The Entity (1983) dirigido por Sidney J. Furie, a primeira manipulação da imagem já está disposta desde o início, Tscherkassky, talvez como referência aos filmes da vanguarda surrealista e dadaísta deixa a imagem em preto e branco, a personagem entra na casa e depois é a queda.


Raoul Ubac, La nebulose, 1993. Fonte: site do Centre Pompidou. Disponível em: <https://www centrepompidou fr/es/ressources/oeuvre/cyjjepd> Acesso em: 26/07/2024
A partir daí o cineasta começa o plano de destruição desse filme, através de processos de degradação, fragmentação e sobreposição das imagens, para no final retornar a um estado de calma, quase como se falasse que existem outros filmes, outros modos de ver, dentro daquele filme Em Outer Space (1999) existe tanto o movimento da queda livre, da proposição de um observador estável para um instável, esse imaginar um solo e depois fazer ele se dissolver, como também os procedimentos do informe, essa revisão formal da imagem, dessa matéria sensível. Essa reapropriação de um filme já existente permite ao autor uma forma de se expressar, para além da narrativa, através do meio, permitindo colocar em crise a imagem original, fazendo o espectador, mesmo que de forma ilusória fazer parte da construção do filme, esse procedimento segundo Baudry inscreve a diferença na imagem, revela o processo da continuidade


Segundo Didi Huberman, quando Bataille escreve sobre o informe ele busca um engajamento filosófico em ³transgredir a forma´ , revirando uma ³tese´ que exige que cada coisa tenha sua forma. Bataille preferiu partir de semelhanças transgressivas ao invés de reivindicar uma dessemelhança, transgredir as formas não significa portanto se desligar delas, não significa necessariamente se desfazer dos procedimentos do regime de visualidade ³dominante´ mas torná-los estranhos a eles mesmos De acordo com Huberman (2015) a transgressão a forma está diretamente ligada ao limite que ela transgride, assim como na articulação de ativação de subjetivação dentro do dispositivo, transgredir a forma não seria ignorá-la, recusá-la, mas abrir-se ao choque, a fricção com a forma a ser transgredida, com aquilo que vai proporcionar outra plasticidade, outros esquemas de inscrição que existem junto a forma
AGAMBEN, Giorgio Signatura rerum: sobre o método São Paulo: Boitempo, 2019

BAUDRY, Jean-Louis. Efeitos ideológicos do cinema produzidos pelo aparelho de base In: XAVIER, Ismail (Org ) A experiência do cinema São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 149-182.
CARVALHO, Victa de. Modos de subjetivação no cinema e na arte: um olhar sobre as instalações de Eija-Liisa Athila. Revista Galáxia, São Paulo, n. 22, p. 89-101, dez. 2011
HUBERMAN, Georges Didi A semelhança informe. São Paulo: Contraponto, 2015
JONAS, Joan Vertical Roll 1972 19min
KRAUSS, Rosalind. O fotográfico. São Paulo: Editora Papirus, 1990.
STEYERL, Hito. Em queda livre: um thought experiment sobre perspectiva vertical. Tradução de André Mesquita Novos Estudos, São Paulo, n 99, p 19-27, nov 2017
TSCHERKASSKY, Peter Outer Space 1999 10min

Fotografia, cinema, ensaio - Uma análise de A Festa e os Cães e Rebu1
Photography, cinema, essay - An analysis of A Festa e os Cães and Rebu
Sabrina Tenório Luna da Silva2
Resumo: Neste artigo, pretendemos analisar o uso de fotografias fixas na realização de dois curtas-metragens brasileiros: A Festa e os Cães e Rebu. Através do uso das imagens, em sua maioria amadoras e de cunho privado, as obras levantam reflexões sobre o formato ensaístico no documentário, memória mediada e nostalgia
Palavras-chave: Fotografia fixa 1; Documentário 2; Filme-ensaio 3.
Abstract: In this article, we intend to analyze the use of still photographs in two Brazilian short films: A Festa e os Cães and Rebu. Through the use of images, most of which are amateur and of a private nature, the works raise reflections on the essay format in documentary, mediated memory and nostalgia.
Keywords: Still photography 1; Documentary 2; Essay film 3
1 Introdução
Neste artigo, pretendemos analisar dois curtas-metragens brasileiros contemporâneos que se compõem em grande parte de fotografias fixas: A Festa e os Cães (CE, 2015, dir. Leonardo Mouramateus, 25¶) e Rebu (PE, 2019, dir. Mayara Santana, 21¶) As obras, que podem ser classificadas como filmes-ensaio, apresentam
1 Trabalho apresentado ao GT 4 Entre-Imagens: Fotografia, Cinema, Vídeo e o Universo das Imagens Híbridas do Encontro Imagem + Política + Estética: territórios fluidos do contemporâneo, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife - PE, 05 a 07 de junho de 2024.
2 Sabrina Tenório Luna da Silva, UFMT, sabrinateluna@gmail com, currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/5173240380964251

enfoque subjetivo, explicitação do sujeito que fala e preocupação com a expressividade do texto (Machado, 2009). Através do uso das fotografias fixas, unidas ao formato ensaístico, uma análise de um determinado tempo vivido é operada nas duas obras, realizando um fechamento de uma etapa marcada pela observação das imagens fixas e por sua relação com as imagens em movimento presentes na montagem
A relação entre imagens fixas e em movimento na realização cinematográfica apresenta possibilidades diversas, desde um potencial efeito de suspensão no ritmo do filme (Almeida, 2017), até reflexões em torno dos desenvolvimentos da imagem técnica e do tempo que a atravessa Tempo esse que pode ser tanto o tempo do contato entre a fotografia fixa e a observação operada pelos realizadores, quanto a temporalidade despertada devido às rápidas mudanças tecnológicas, que tornam obsoletos formatos de captura e transmissão da imagem de maneira cada vez mais acelerada.
Desde a invenção da fotografia, lidamos com diferentes tipos de desenvolvimento com relação às imagens técnicas - iniciando com as imagens analógicas até o atual cenário composto em sua maioria por imagens digitais. A lógica utilizada nos processos de desenvolvimento e superação de tecnologias é fortemente baseada nas demandas capitalistas, que lançam novos formatos que se apresentam como cada vez mais fáceis de serem manipulados. Imagens produzidas em um espaço de tempo relativamente curto se tornam rapidamente obsoletas em termos mercadológicos, o que torna o acesso ao seu conteúdo mais difícil e acentua aspectos nostálgicos. Isso também significa que novas tecnologias, ao substituírem as antigas, oferecem novos tipos de imagens, cores e materialidades. Dessa forma, podemos afirmar que as imagens técnicas são ao mesmo tempo a memória do aparelho fotográfico e uma visão de quem fotografa acerca do mundo Assim, acreditamos que os aparelhos utilizados pelos

fotógrafos e os seus canais de difusão são tão importantes quanto os eventos registrados para a compreensão dessa prática.
Os filmes aqui analisados, apesar de apresentarem argumentos, formatos e pontos de vista distintos, se encontram tanto no uso de fotografias fixas em sua constituição, quanto ao apresentarem características comuns ao gênero ensaístico, entre as quais a presença de um tema central que se desenvolve de forma subjetiva, tornando o documentário uma observação, um comentário sobre o mundo e não uma representação de uma realidade objetiva (Machado, 2009, p 21) Dessa forma, refletem também sobre o formato do documentário em si, a grosso modo definido como um gênero cinematográfico que lida com discursos acerca do real, oposto à ficção e de forma frequente identificado com o modo expositivo. Nesse modo, o comentário verbal organiza as imagens do mundo histórico que acompanhamos de um lugar objetivo e onisciente, apresentando uma ordem superior às imagens que o acompanham (Nichols, 2005, p 143)
O uso de fotografias e imagens de arquivo fixas ou em movimento é desenvolvido de forma distinta no filme-ensaio, que ao contrário de supor uma pretensa objetividade em relação à exposição de um tema, apresenta reflexões pessoais e subjetivas (Machado, 2009, p 21)
Outras características do filme-ensaio são a liberdade formal, reflexividade e a ausência de prescrições e regras. Dessa forma, ao analisarmos dois filmes de formato ensaístico que usam fotografias como elementos de nostalgia e reflexão, pretendemos

investigar os sentidos que elas evocam na montagem, através da observação do passado realizada em diálogo com as imagens.
2 A Festa e os Cães - Fotografia analógica, ensaio e nostalgia
A Festa e os Cães começa com uma narração em off em primeira pessoa onde o diretor fala que em 2013 comprou uma câmera analógica para registrar os bastidores de um curta-metragem no qual estava envolvido Em seguida, a cena, composta por um fundo de cortiça marrom, é ocupada por uma fotografia do diretor, que é colocada na frente da câmera por uma mão que vemos me movimentar rapidamente de fora para dentro do campo da imagem. A fotografia é o primeiro registro realizado pela câmera, que nos mostra uma imagem do diretor capturada pela dona da loja, que lhe dava instruções de como utilizar o aparelho. A obra é composta quase em sua totalidade pelas fotografias fixas provenientes da câmera analógica comprada por Mouramateus
Em 2013, as câmeras analógicas já estavam em processo avançado de substituição pelas câmeras digitais e a opção por esse tipo de tecnologia na obra analisada pode ser configurada como uma forma de nostalgia reflexiva, que abraça o sentimento de perda e deslocamento, sem buscar necessariamente um retorno ao local (Boym, 2017)
Nas cenas seguintes, as fotografias seguem sendo colocadas diante da câmera estática por ações extra campo, em um movimento que acompanha a narração e oferece às imagens fixas captadas pela câmera também em enquadramentos fixos, uma narrativa guiada pelas falas do diretor e posteriormente compartilhada com alguns dos amigos fotografados. Nos momentos posteriores, vemos imagens dos bastidores do filme e da

festa realizada pela equipe após a finalização das filmagens A câmera, então, perde a sua função inicial, mas continua a ser utilizada por Mouramateus para fotografar festas e cães, sempre presentes em seus caminhos
O formato analógico e amador, que se opõe ao profissional por se localizar na esfera do lazer e do privado (Zimmermann, 2008, p 278), é também fonte de reflexões constantes. A imagem inicial do filme já aponta para esse fato e a obra segue fazendo alusões ao formato analógico, que tem entre suas características a necessidade de revelação posterior para o acesso às imagens.
Os cães, segundo a narração, haviam chegado todos de uma vez no ano anterior.
Na banda imagética, fotografias dos animais ocupam o centro da tela e são empilhadas em cima do fundo de cortiça marrom, enquanto a mão que as posiciona aparece de forma explícita no enquadramento fílmico A voz em off reflete sobre os encontros com os cães, como se pudesse se comunicar com eles através de latidos, tentando explicar que é tão dali quanto eles Duas mãos entram no enquadramento, retiram as fotos empilhadas, e o título do filme aparece.
Em seguida, o tema passa a ser as festas comemoradas com os amigos e registradas pela câmera Os rolos de 36 poses registravam os últimos meses em que o diretor viveu na cidade de Fortaleza e a máquina, depois de algumas doses, era compartilhada com os amigos Por demandar revelação, as fotos resultantes eram uma surpresa para todos. A retomada das fotografias, elementos de memória mediada, ³materiais gerados de maneira a desencadear lembranças futuras produzidas através

de tecnologias mediadas, sejam elas canetas ou câmeras´ (Djick, 2007, p 39), serve como ponto de reflexão que abarca a experiência vivida e mediada pela câmera.
Dessa forma, o filme ³medeia as experiências do cineasta com o mundo por intermédio das fotos, que são os registros visuais desses encontros´ (Almeida, 2017, p. 6) A fotografia lhe desperta memórias, que são também compartilhadas com seus amigos, sendo tanto o diretor quanto os fotografados, autores e também personagens.
O autor Maurice Halbwachs, ao escrever sobre a memória coletiva, afirma que a solidão absoluta não seria possível e sempre compartilhamos lembranças com contextos sociais por sermos seres sociais e condicionados a determinadas ações devido aos grupos com os quais nos relacionamos (Halbwachs, 2006: 30) Em A Festa e os Cães, as fotografias como elementos de memória mediada e o compartilhamento dos comentários realizados em off com os amigos, fazem alusão a uma memória coletiva que na obra aborda as mudanças tecnológicas e o papel nostálgico despertado tanto no momento da sua retomada das imagens para a realização fílmica, quanto na época de realização dos registros.
Após os minutos iniciais do filme, o monólogo se transforma em um diálogo com a amiga Jeane, que em seguida conta com a narrativa em off de outra amiga, Clara No decorrer do diálogo, começam a aparecer as imagens que falharam, fotografias com iluminação estourada onde vemos apenas rastros de luz e não mais imagens de corpos identificáveis. As imagens fotográficas são tratadas com uma certa distância, como algo que está sendo analisado e visto novamente pelo narrador Essa distância, no filmeensaio, ³se pode conseguir com a mediação da voz´ (Weinrichter, 2010, p. 30). A

presença das mãos empilhando as fotos no campo imagético de A Festa e os Cães também alude a essa distância, ao passar do tempo, ao contato físico proporcionado pela fotografia analógica
Nos minutos seguintes vemos uma fotografia onde Clara, presente em uma festa vestindo calça jeans e blusa branca, aparece no centro da composição Em seguida, a montagem passa a mostrar elementos distintos da fotografia, iniciando com um corte que mostra o rosto de Clara em primeiro plano A voz de outro amigo, Kevin, diz: ³Quando eu te vejo em uma foto dessa, o que eu menos imagino é uma bailarina, você dança quase de olhos fechados´ Ao terminar a sentença, o enquadramento parte para a blusa de Clara, onde estão pendurados óculos de grau. O diálogo segue mostrando detalhes da fotografia, oferecendo, através da montagem operada a partir do recorte da fotografia pela câmera de vídeo, uma análise detalhada dos amigos fotografados, das expressões fixadas na imagem e do ambiente ao redor.
Terminado o diálogo com os amigos, voltamos aos cães O primo do diretor entra em off na narração, falando sobre cães e sobre a morte de um conhecido ocorrida nas redondezas Nos momentos seguintes, o garoto afirma que foi depois da morte do homem que Mouramateus começou a tirar fotografias, mas diz que ele fazia cinema, devia era filmar e não fotografar À colocação do primo, o diretor afirma que a vantagem de usar uma câmera fotográfica antiga é que ninguém quer roubar e que mesmo que roubem, elas são tão baratas que comprar outra é fácil Nesse ponto, faz uma breve alusão ao formato amador, muitas vezes visto como menos valioso em termos mercadológicos devido à facilidade de manipulação e baixo custo relativo se comparado às câmeras profissionais.

O diálogo entre primos, que é também uma despedida, abre espaço para as primeiras imagens em movimento do filme. A câmera segue fixa, hora focando no rapaz, hora no diretor Os minutos que se seguem são acompanhados por uma música, pela rememoração da festa e dos cães.
A música segue até o final do filme, ilustrado novamente por imagens fixas, reflexões em torno da câmera quebrada e do tempo de duração da música. Das coisas que continuam a existir depois do fim da festa Cães passeando entre as mesas, rodeadas por amigos, festas, bebidas, cigarros. No final, uma plataforma de trem. Um homem vestido com blusa de manga longa amarela corre em direção ao trem A imagem, paralisada, é retirada com um movimento rápido da frente da câmera, encerrando o filme, assim como uma etapa da vida
3 Rebu - Imagens de família, auto-reflexão e imagens digitais
O curta-metragem Rebu começa exibindo fotos da infância da diretora em formato analógico sobre um fundo digital de cor rosa pink. As fotografias, em seguida, passam a ocupar todo enquadramento, enquanto a câmera se movimenta em torno delas através de movimentos manuais.
As imagens seguintes são provenientes do google maps e mostram o local onde a diretora passou a infância. Ao refletir, em uma narrativa em off expressiva, em primeira pessoa, enunciada de maneira fluida e bem humorada, sobre as suas experiências amorosas a partir do então presente, Santana encontra na figura masculina do pai mulherengo um padrão que teme repetir É a partir dessa reflexão que ela constrói o filme ensaio que define como a egolombra de uma Sapatão Quase

Arrependida Na obra, encontramos elementos de nostalgia reflexiva utilizados de forma crítica e irônica, onde a diretora reconhece as limitações do passado e ao mesmo tempo encontra valor nas suas lições (Boym, 2017)
Ao evocar os registros fotográficos, Santana realiza uma auto-etnografia marcada pela passagem do tempo registrada nos tipos de imagens evocadas, que vão do formato analógico ao digital, da imagem fixa à imagem em movimento, da fotografia que demanda revelação às capturas instantâneas de tela Em sua relação com o pai, com suas fotografias de infância, como o lugar habitado e com as influências estéticas e midiáticas, entende que sua personalidade e história estão implicadas em formações sociais e processos históricos mais amplos (Russel, 1999).
O acervo pessoal fotográfico se mistura a imagens apropriadas da mídia e a toda uma sorte de referências estéticas que habitam o universo digital Dessa forma, ³memória e mídia têm sido referidas metaforicamente como reservatórios, guardando nossas experiências e conhecimentos passados para uso futuro´ (Dijck, 2007, p 2)
O momento reflexivo operado pelo uso das fotografias fixas nos instantes iniciais do filme é em seguida substituído por imagens em movimento de uma entrevista com o pai, Pedro Bala A câmera filma o pai e em alguns momentos a cena é ocupada novamente por fotografias fixas, que ilustram a sua juventude. É a partir das aventuras de Pedro Bala, do seu gosto por festas e pelo álcool, que Santana parte para a investigação de si mesma, da sua raiva e das decepções que vivenciou e provocou no decorrer da sua vida amorosa A diretora resolve tratar isso na terapia, mas também, no

fazer fílmico e no compartilhamento de uma experiência que parte da primeira pessoa, mas encontra ecos coletivos.
Em Rebu, quando as fotografias analógicas são mostradas elas pertencem ao seu tempo de origem, são registros do passado operados na vigência de tais dispositivos. A obra, concebida inicialmente como uma narrativa seriada para a internet, se insere em uma estética de diálogo forte com os dispositivos digitais e as modificações operadas na imagem pelos mesmos através de apropriações de imagens, memes e também pela influência da mídia televisiva e das redes sociais em seu processo de formação.
Ao falar sobre a primeira namorada, diz que não vai citar o seu nome, apelido-a de Bença A não explicitação do nome é também uma reflexão em torno do preconceito enfrentado pelas duas durante a relação. Nas rememorações, evoca também as formas de contato utilizadas em sua comunicação, afirmando que tinha que ficar chamando a atenção dela no msn messenger, programa de troca de mensagens popular utilizado em computadores até meados da primeira década do século XXI Ao contrário do que observamos nos últimos anos, as redes sociais tinham o anonimato como característica, o que reforça a alusão à forma de comunicação, que possibilita conversas privadas
As imagens fixas são montadas junto a imagens em movimento que ilustram as suas reflexões pessoais. Ao falar da sua decepção ao ver Bença beijando um menino no show de Nando Reis, imagens do cantor apropriadas da internet, são exibidas
A referência às imagens midiáticas e suas modificações segue sem que exista a intenção de hierarquização entre fotografia analógica, imagem digital e imagens em movimento.

No processo de reflexão, ao afirmar que agiu como o pior dos machos ao ficar na frente do trabalho de Bença chorando, Santana posa em frente à câmera de filmagem sentada em um banco, de costas para a praia A diretora faz movimentos ilustrando o comentário verbal e em um determinado momento fica parada, fazendo referência às poses fotográficas e ao tempo paralizado e eternizado na imagem fixa Depois da pose, se movimenta em direção à câmera de filmagem, desliga o aparelho e a tela pink passa a mostrar cenas das atrizes Aline Moraes e Paula Picarelli, que viviam um casal de adolescentes lésbicas na novela Mulheres Apaixonadas, de 2003, dirigida por Manoel
Carlos Na reflexão, afirma que o que deveria ser um amor adolescente inspirado pelas novelas, vira uma confusão homofóbica que marca ambas pelo resto da vida.
Após agradecer a Benção pelos momentos vividos, a diretora fala que só entendeu os erros cometidos com ela quando encontrou a segunda namorada, que ela chama de Bença 2. Através de fotografias suas e do casal, reflete sobre o encontro com ela e sobre o entendimento de como o racismo e a homofobia atravessaram os seus amores de juventude e afetam as suas experiências no presente.
Santana segue refletindo sobre os romances, o processo terapêutico e as memórias memórias mediadas pelas imagens fotográficas. Ela afirma que seria injusto com ela mesma pegar toda a culpa do mundo e sair com ela por aí A sua conclusão é que ela quer ser um caminhão bem grande com um retrovisor, olhando para frente e para trás Ao não perder o passado de vista, não permite que ele ocupe todo o presente ou determine o futuro. Ao retomar as imagens de tempos passados, localizá-las e narrálas, novas potencialidades e novas formas de viver o futuro são lançadas No processo

auto-etnográfico, a diretora apresenta reflexões em torno de si mesma, localizando-as em dimensões maiores que a sua experiência pessoal.
Conclusão
Em ambos os filmes, as fotografias despertam os diálogos e processos de reflexão realizados, aparecendo como elementos fundamentais para a formulação e realização dos ensaios documentais Além disso, as imagens aparecem como parte da poética do discurso, dialogando com as vozes em off.
As obras, ao retomarem as imagens fotográficas, dialogam diretamente com conceitos de nostalgia reflexiva, que não visa construir um passado idealizado e sim voltar a ele de forma investigativa O uso de imagens fixas evoca, também, uma suspensão no tempo e esse pertencimento ao que já foi. A Festa e os Cães fala, através das fotos, de um tempo da imagem técnica que em termos históricos é passado já no momento de sua captação e serve, ainda, como elemento de rememoração. Rebu mescla imagens fixas e em movimento em um olho inquieto, que passeia pelas imagens e as enquadra em formatos que dialogam com o digital, com as páginas de internet e com as estéticas de apropriação imagética facilitadas por esse universo.
ALMEIDA, Rafael. Do espectador pensativo à imagem pensativa: fotografia e filmeensaio Revista Famecos, v 24, n 2, maio, junho, julho e agosto de 2017
BOYM, Svetlana. Mal-estar na nostalgia. História da Historiografia: International Journal of Theory and History of Historiography, v 10, n 23, 2017

DIJCK, José van Mediated memories in the digital age Stanford: Stanford University Press, 2007
HALBWACHS, Maurice A Memória Coletiva São Paulo: Centauro, 2006
MACHADO, Arlindo. Filme ensaio. Revista Concinnitas, Revista do Instituto de Artes da Universidade do Rio de Janeiro, Ano 4, n 5, Dezembro de 2003
NICHOLS, Bill. Introdução ao Documentário. São Paulo: Papirus, 2005.
RUSSELL, Catherine Experimental Ethnography Durham, NC: Duke University Press, 1999.
ZIMMERMANN, Patricia R Morphing History into Histories: From Amateur Film to the Archive of the Future. In: ZIMMERMANN, Patricia R, ISHIZUKA, Karen L. (Orgs ): Mining the Home Movie: Excavations in Histories and Memories Berkeley: University of California Press, 2008.

Resíduos luminosos: a poética do colecionador em David Gatten1
Luminous residues: the collector poetics in David Gatten
Lucca Nicoleli Adrião2
Resumo: Pretende-se discutir a possibilidade de uma poética da coleção, como proposta temática e método de composição fílmica, na obra de David Gatten, artista do cinema experimental contemporâneo. O colecionador tem em Walter Benjamin seu principal interlocutor, sendo observado por ele como tipo humano de interesse filosófico. A partir desse suporte conceitual, analisa-se o filme Moxon¶ s Mechanick
Exercises, o primeiro dedicado a um projeto sobre a grande biblioteca da família Byrd da América Colonial
Palavras-chave: Coleção; Cinema experimental; Cultura material.
Abstract: The aim is to discuss the possibility of a poetics of collection, as a thematic proposal and a method of filmic composition, in the work of David Gatten, an artist of contemporary experimental cinema The collector is observed by Walter Benjamin as a human type of philosophical interest. Based on this conceptual support, the film Moxon¶ s Mechanick Exercises is analyzed, the first dedicated to a project about the large library of the Byrd family in Colonial America
Keywords: Collection; Experimental cinema; Material culture.
1. Walter Benjamin, colecionador
Desordem de caixotes abertos à força, o ar cheio de pó de madeira, o chão coberto de papéis rasgados Com essas imagens de encantamento, que buscam o prazer
1 Trabalho apresentado ao GT 4 - Entre-imagens: fotografia, cinema, vídeo e o universo das imagens híbridas do Encontro Imagem + Política + Estética: territórios fluidos do contemporâneo, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife - PE, 05 a 07 de junho de 2024
2 Lucca Nicoleli Adrião, UFPE, lucca.adriao@ufpe.br.

dentro do universo sólido de tudo que nos rodeia, Walter Benjamin descreve o ambiente onde se encontra a desempacotar os livros de sua biblioteca compõe uma ambiência. Este singelo texto, Desempacotando minha biblioteca, tem a intenção carregada de singeleza de contar a relação íntima entre certos pertences e o indivíduo que os possui. É um discurso sobre o colecionador, mas que está menos focado nas próprias coleções do que no ato de colecionar em si.
A descrição feita por Benjamin pode ser observada como a do colecionador como esteta; ele ama as coisas como palco Não se faz interessado por uma peça em função de um valor utilitário, de uma serventia prática, mas quer dispô-la por ela mesma, encerrá-la ³num círculo mágico onde ela se fixa quando passa por ela a última excitação a excitação da compra´ (Benjamin, 1987, p. 228). Há algo que vem antes, no caso da coleção de livros, da própria leitura. Como ³fisionomistas do mundo dos objetos´ , aqueles que compartilham o ato de colecionar estão compartilhando, pois, um mesmo exercício estético: a beleza, para eles, encontra-se na superfície, seus sentidos se voltam à tatilidade e ao visual; volume, textura, brilho, cor
Colecionadores desbravam o espaço físico como o espaço de existência aos objetos fantásticos, onde ³a menor loja de antiguidades pode significar uma fortaleza, a mais remota papelaria um ponto chave (ibid , p 231); o achado de uma possível aquisição pode ocorrer como um milagre de se estar onde se deveria estar poderá haver maravilhas escondidas em qualquer lugar, uma caminhada pela cidade pode ser um momento de revelação. E cada encontro, com cada exemplar destinado a ser seu, é como um renascimento: o pertence antigo, encontrado em um sebo ou antiquário qualquer, ganha segunda vida uma vida estética em suas mãos. ³Renovar o mundo velho eis o impulso mais enraizado no colecionador ao adquirir algo novo´ (ibid, p. 229)
Ainda há uma heterogeneidade implícita no universo das coleções, pois o indivíduo que coleciona está envolvido na miríade dos tempos históricos Nas horas que Benjamin passa com sua biblioteca, ainda na forma de montanhas de livros, suas mãos

alcançam não só a literatura e a filosofia, mas criaturas de regiões fronteiriças, como álbuns de figurinhas, folhetos, livros de ilustrações. Objetos de diversas épocas, de naturezas e estilos tão díspares entre si, podem encontrar um chão em comum pelo manuseio daquele que é levado pela imaginação. Amor, atenção e criatividade complementam o ethos colecionista desenhado neste breve ensaio
Desempacotando minha biblioteca foi escrito em 1931, e pode ser entendido como parte de uma fase de transição a Benjamin: poucos anos antes, ele já havia começado os estudos ao projeto das Passagens (Das Passagen-Werk) Este é o ambicioso, culminante e subitamente inacabado trabalho dos últimos anos da obra benjaminiana Passagens deve ser caracterizado como aquilo que ele é, no sentido material daquilo que Benjamin deixou: ainda que fragmentado, um corpo de obra.
Enquanto projeto não-finalizado, foi publicado pela primeira vez na Alemanha como resultado do trabalho editorial de Rolf Tiedemann, mesmo em sua forma de protótipo
Sua parte mais volumosa é a seção Notas e Materiais, um denso catálogo de citações e comentários manuscritos pelo autor ao auxílio de seu estudo, divididos em arquivos designados com as letras do alfabeto e titulados com cada um de seus principais temas e que ocupam o maior volume de páginas Uma reconstituição das ideias de Benjamin exige o esforço criativo daquele que se debruça sobre esse extenso conteúdo. O leitor deve desbravar cada fragmento de nota que se incrusta como peça mínima de um monumento maior; deve cotejar cada momento da leitura, constantemente retomar a outros dados, construindo um conhecimento vivo, que nunca se encerra que Benjamin mesmo não encerrou
Na leitura de Passagens, o colecionador será firmado como personagem que figura em um quadro maior, pois o arquivo [H] de Notas e Materiais se trata, justamente, desse tipo humano, inscrito no quadro da modernidade O colecionador da modernidade é aquele que se apropria de partículas do passado para rearticulá-las em um novo sentido histórico Arrancar as coisas de seu contexto é interpretado como um modo de preservar a particularidade, longe da condição de commodities facilmente

intercambiáveis, colocando-as em uma posição reveladora sobre a existência una à qual se direciona a paixão colecionista.
Ainda, o gosto de Benjamin pelas materialidades, seu apreço de colecionista, dizia respeito ao seu desejo por uma historiografia materialista. Sua intenção, com Passagens, estava em pôr à prova ³o quão concreto pode ser o pensamento filosófico´; sua tentativa era a de realizar um projeto de história construído da máxima concretude, do ³material histórico em si´ (Buck-Morss, 1989, p. 3-4), extraídos das suas fontes históricas livros, documentos, jornais Rolf Tiedemann segue os temas importantes à obra e faz uma analogia com o pensamento arquitetônico: os fragmentos coletados ³podem ser comparados ao material de construção de uma casa da qual apenas demarcou-se a planta ou se preparou o alicerce´ (Tiedemann, 2019, p. 15). As citações do livro são os blocos das paredes, a reflexão de Benjamin a argamassa.
À designação do modo de estruturação dessas ³notas e materiais´ , resgata-se o conceito histórico de montagem. A crença na montagem é a crença em deixar a significação surgir do princípio associativo Montar com seus fragmentos é colocá-los em um novo solo, para criar um mosaico com sentido próprio. Ao serem reunidos no mesmo espaço reflexivo, os trechos registrados poderiam apresentar a concretude do saber sem qualquer outro tipo de mediação Uma explicação sucinta dessa proposta metodológica se encontra no arquivo [N] de Passagens, sobre sua teoria do conhecimento:
Método deste trabalho: montagem literária Não tenho nada a dizer. Somente a mostrar. Não surrupiarei coisas valiosas, nem me apropriarei de formulações espirituosas Porém, os farrapos, os resíduos: não quero inventariá-los, e sim fazer-lhes justiça da única forma possível: utilizando-os. (Benjamin, 2019, p. 764)
Na fase final da filosofia de Benjamin, o impulso colecionista parece ser espelhado no próprio procedimento de pesquisa: para desenvolver seu livro, tornou-se um verdadeiro colecionador de citações Esses resíduos, farrapos de tempo, são as

relíquias antigas que ele coleta, como se coletasse velhos objetos enfim, o material histórico, concreto. Sua escolha não se tratava de um modo de preservação, de constituir um inventário, mas de tornar cada fragmento parte de um princípio desorganizador, como agentes por uma leitura a contrapelo. De elementos minúsculos, trazidos à luz pelo gesto do colecionador que os recontextualiza pela ação e criação, poderia-se edificar o seu grande monumento historiográfico.
O projeto nunca chegou ao fim. A materialidade de Passagens, o livro em mãos, apresenta-se como a forma tangível de um processo infinito: o volumoso número de páginas que não resulta em algo acabado, mas em um corpo de texto instável, abismo de significações, que descreve, entre várias coisas, a anatomia do gesto de pesquisar Uma coleção, de modo semelhante, também é um processo infinito, nunca se fechando a um último item, sempre aberta a novas relações, e descortinando sentidos únicos ao mundo material através das capacidades imaginativas do colecionador Se o norte do presente trabalho é a exploração de uma poética colecionista no cinema, Benjamin pode ser o seu marco zero Tanto em suas ideias sobre a modernidade quanto em seus procedimentos metodológicos, entendemos um modo poético de reelaboração e esclarecimento da realidade, um modo que passa pela coleta de suas pequenas partes
2. David Gatten, colecionador
Uma das primeiras grandes coleções norte-americanas foi a biblioteca da família Byrd, na colônia da Virgínia durante o período colonial Sua história em três movimentos pode ser marcada por cada geração de patriarcas de mesmo nome: uma história de ascensão, expansão e queda (Wolf, 1956, p. 19-20). O primeiro, William Byrd I, colonizador inglês, inicia uma coleção de livros na sua propriedade de Westover, nutrindo o início de nobres interesses eruditos que seriam vinculados à história da família Seu herdeiro, William Byrd II, desfrutou das riquezas adquiridas com a venda de tabaco e escravos, ampliando a biblioteca ao ponto de se tornar uma das

maiores do país O último filho, William Byrd III, deixa uma dívida tão colossal quanto aquele volume de livros, obrigando sua viúva a vendê-los e a dispersar essa importante coleção histórica
Em seu principal projeto, o ainda inacabado Secret History of the Dividing Line, a True Account in Nine Parts, o artista do cinema experimental contemporâneo David Gatten tornará a história da coleção dos Byrd o principal ponto de partida de seus filmes. No princípio de seu interesse pela família está a vida de William Byrd II, escritor de ensaios incluindo um sobre a exploração da América History of thee Dividing Line, que também intitula o ciclo de filmes de Gatten e diários pessoais, responsável pela maior parte das aquisições daquela biblioteca; bem como o drama romântico de sua filha Evelyn Byrd, a trágica história de paixão proibida entre ela e o cavalheiro inglês Charles Mordaunt seu pai, ardente protestante, não aceitava seu relacionamento com um católico Da distância entre dois continentes, de cada lado da linha que divide as terras das Américas e da Europa, trocaram secretas cartas de amor até a morte do rapaz, afogado em uma viagem, no mesmo mar que os separava Livros, catálogos, ensaios, diários, cartas: a coleta do material histórico concreto serve, nessa empreitada, para direcionar a prática artística A admiração pelas antiguidades, por retalhos dispersos do passado, ³histórias de fantasmas´ como a de Evelyn, a lenda de que sua parada cardíaca seria a causa da morte por um coração partido, e de que hoje ela ainda paira pela Virgínia como espectro são ainda traço do ethos colecionador, formado pela constelação de textos de Walter Benjamin. Essas primeiras evidências à intuição de que Gatten atribui uma sensibilidade colecionista em seu projeto primeiro, explicitamente, à temática; depois, às formas da composição fílmica revelam apenas a superfície de seu modo de trabalho. Devem, portanto, ser esmiuçadas tanto no contexto das estéticas do cinema experimental americano, inserindo-as em novas e velhas tradições, quanto na materialidade dos próprios filmes, que nascem de uma metodologia de criação complexa

Em uma breve descrição de seu estado atual, o ciclo de filmes é pensado para ser constituído de nove partes, cada uma relacionada a uma ideia já estabelecido por Gatten, e das quais apenas cinco já foram lançadas: o curta-metragem homônimo ao projeto, Secret History of the Dividing Line; The Great Art of Knowing; Moxon¶ s Mechanick Exercises or the Doctrine of Handy-Works Applied to the Art of Printing; The Enjoyment of Reading, Lost and Found e, por fim, What Places of Heaven, What Planets Directed, How Long the Effects? or, The General Accidents of the World. O conjunto orbita em torno de temáticas em comum, cujo centro gravitacional é a história da família Byrd; pode-se mencionar, entre elas, as ruínas do passado, o movimento de aquisição do conhecimento e a fina camada que separa as palavras e a realidade John Powers situa o projeto Secret History em uma nova tendência do filme experimental contemporâneo, identificada e cunhada por ele como o New Historicist Film Aproximando suas práticas artísticas ao universo dos experimentos científicos e da pesquisa historiográfica, o cineastas elencados pelo teórico se agrupam pela recorrência ³a diversos assuntos e disciplinas aparentemente não relacionadas, em um esforço para compreender o presente através de um exame curioso, muitas vezes oblíquo, do passado´ (Powers, 2015, p 78), assim confeccionando artefatos estéticos através de procedimentos multidisciplinares O caso de Gatten, na adesão a esses nomes, é paradigmático: seus filmes meditam sobre um momento distante e eclipsado da história intelectual dos Estados Unidos; os modos do polímata presentes em William Byrd II tocam a própria experiência da feitura fílmica enquanto aquisição e formação de saberes; a relação entre o passado e as tecnologias cinematográficas modernas transparecem de várias maneiras em cada um de seus filmes.
Realizadores associados ao New Historicist Film comumente encontram pontos de partida conceitual em figuras históricas, que operam como fios condutores a uma reflexão crítica sobre o conhecimento do mundo. Essa é uma importante característica do projeto Secret History, que escolhe um singular episódio da América colonial para basear toda a sua ambição. Seu impulso em direção à família Byrd, em consonância

com a corrente historiográfica do Novo Historicismo, é um olhar agudo aos processos históricos, ao curso da formação do saber que moldou toda uma identidade cultural. Seu modo de pensamento, que poderia ser dito como sua abordagem historiográfica, não propõe a reiteração de grandes narrativas: evocando Benjamin, vale-se dos resíduos dispersos do passado, o material histórico entendido como ruínas do tempo, que devem ser examinadas para uma compreensão mais abrangente da realidade em que hoje se vive.
Ainda, suas aptidões à investigação analítica de outros tempos os levam ao antiquarismo seu interesse histórico está intimamente relacionado com as preocupações antiquaristas Gatten se volta a uma série de objetos, tornando seu trabalho de cineasta um ofício inscrito em uma ideia de cultura material. Sua principal fonte é o catálogo de livros pertencentes à biblioteca dos Byrd, que se torna uma espécie de base bibliográfica ao ato teórico de sua disciplina de criação Cada um desses cinco filmes já produzidos torna a série de obras, enciclopédias, compêndios, bem como toda sorte de papelaria pessoal referente ao acervo da família os já citados diários, as cartas de amor na matriz de onde se extrai a substância primordial da composição do seu cinema
A ordenação expressa acima, iniciando em Secret History of the Dividing Line e finalizada por What Places of Heaven«, é dada por Gatten, que possui um pensamento particular de como esses filmes se organizam enquanto um corpo coerente e único Para comentá-los em especial devido ao caráter em construção do projeto, que ainda não torna evidente toda sua unidade conceitual também é possível observá-los por outros ordenamentos. Neste texto, tratando-se de um primeiro exercício, opta-se por comentar Moxon¶ s Mechanick Exercises or the Doctrine of Handy-Works Applied to the Art of Printing Apesar da ordem estabelecida pelo cineasta, tal filme é o primeiro a ser produzido e destinado ao ciclo e traz o princípio de uma forma fílmica do colecionismo, que será repensada e desenvolvida nos outros filmes

Moxon¶ s Mechanick Exercises se baseia em dois livros presentes no catálogo dessa biblioteca: a Bíblia de Gutenberg e o livro titular do filme, escrito por Joseph Moxon Rigorosamente formalizado, é dividido em três partes bem delimitadas, localizados entre um espaço às epígrafes e outro às notas complementares. Através dessa estratégia de organização do material fílmico, sua estrutura remete, por si só, à de um livro. A projeção começa com quatro citações, de diferentes autores, em fontes brancas sobre um fundo preto. Cada uma segue a anterior em ritmo uniforme, suficientemente lento para que sejam lidas Após a última dessas desaparecer, surge o título do filme no mesmo modelo das anteriores, centralizado e com letras maiores. As citações, no formato em que o filme se apresenta, tomam o papel de epígrafes que antecedem o filme-livro.
Na tradição literária, a seleção de mais de uma epígrafe deve provocar a intelecção do leitor para que se desvende a interação entre as passagens, bem como entendê-las nas intenções da obra que se abre. A primeira citação é o verso de um poema escrito por Michael Palmer sobre os poderes da linguagem; os outros três trechos, escritos por Francis Bacon, Edward Rowe Mores e Joseph Moxon, respectivamente; relacionam-se com o tema mais importante do filme: os pontos de contato entre o conhecimento prático e intelectual São textos retirados da filosofia, dos manuais que tocam os saberes e práticas da experiência humana.
Negando a inferioridade dos conhecimentos manuais e dos instrumentos mecânicos nos sistemas de conhecimento, o trecho de Francis Bacon firma os benefícios desses à vida, que vão além dos códigos da escrita A citação é retomada no trecho de Joseph Moxon ao descrever os propósitos da sua obra, que são sumarizados, antes, pelo trecho de Edward Rowe Mores. Juntos, os fragmentos travam um diálogo cruzado, o sumo do conceito geral do filme: os fazeres práticos contribuem ao pensamento filosófico e vice-versa, não devendo haver cisão entre os dois domínios da inteligência. Com isso em vista, Gatten tratará dos enlaces entre a realização de um filme pelo

contato com as ferramentas do fazer artístico, a plasticidade das imagens e a decodificação da palavra escrita.
Após o título do filme, a primeira das três partes o que, na analogia com o livro, constaria enquanto o primeiro de três capítulos chama-se The Printer to the Diligent Reader (6 documents) É formada de seis ³documentos´ , montados em sequência: 1. página de um texto que aborda as origens da reprodução técnica da escrita, citando Johann Gutenberg, o inventor da prensa de tipos móveis, pela primeira vez; 2. ocorre uma breve sobreposição do documento anterior com uma página da Bíblia de Gutenberg, escrita em tipografia da escrita gótica e em latim; 3. gravuras presentes na Enciclopédia de Diderot, ilustrando uma típica sala de impressões do século XVIII e o detalhamento de seus instrumentos; 4. folha um catálogo que lista diferentes bíblias impressas ao redor do mundo, constando bíblias em latim, sueco e uma edição poliglota; folha de rosto da Bíblia do Rei Jaime, com informações sobre sua tradução, edição e impressão; 6. outra folha de rosto, dessa vez em uma edição anotada, aparentemente mais recente
Nesta primeira parte, Gatten parece suscitar uma possível história da difusão do conhecimento religioso, uma narrativa universal em miniatura, contada pela justaposição das fontes documentais que são, assim, extraídos do contexto de pesquisa para serem reposicionados no da fruição estética, sem que nenhum dos dois domínios anule o outro tornam-se homólogos, semelhantes em funções distintas Constitui-se um universo poético pelo uso da citação de outros textos, que se amalgamam uns aos outros
Uma poética citacional, na literatura, é descrita por Marjorie Perloff no livro O Gênio Não-Original: Poesia por outros meios no novo século. O argumento do livro revolve a possibilidade de uma linguagem da citação como forma viável à renovação da poesia na era da informação. A velocidade com que circulam as mensagens, a sensação de simultaneidade espaço-temporal advinda da internet, o acesso extensivo à poesia do mundo inteiro através de blogs e outros sites de compartilhamento, são todas essas

razões às quais a comunicação passa não mais a se situar geograficamente de maneira isolada, mas ganha uma nova mobilidade. A nova capacidade móvel da palavra, pois, borra os limites da literatura maior ou menor, disponibilizando novas fontes literárias a serem desbravadas, repensadas, reutilizadas.
O que ocorre com a poesia é a formação de um arquivo infinito, a ser utilizado e remodelado pelo trabalho poético a hipótese borgesiana de um grande espírito da literatura adquire, no cenário mundial perscrutado por Perloff, uma realidade ainda mais substanciada A poesia contemporânea contemplada em seu estudo engendra ³usos complexos da citação e da restrição, do intertexto e da intermídia´ , e seus exemplos mais radicais tornam possível a escrita totalmente desprovida de ³originalidade´ entre aspas; a ausência da palavra original restitui o valor da citação através dos meios mais inventivos e que apresenta seu valor como (re)escrita poética (Perloff, 2013, p. 41-42).
O trabalho poético opera pelo desbravamento desse grande repertório de citações, uma coleta ativa, como a de um colecionador que busca novos objetos pelo mundo.
No seu estudo, o que se segue sua introdução são as análises de diversos autores que atestam e ampliam as considerações sobre tais modos citacionais. Walter Benjamin é o tema do primeiro capítulo: o projeto das Passagens é entendido como um paradigma à poética escrutinada por Perloff Integrar Benjamin em um corpus de poetas seria como localizar seu método no interstício entre a pesquisa historiográfica ³dura´ e um trabalho literário Perloff reconhece, em contraste ao tamanho colossal dos volumes que condensam Passagens, a delicadeza de um texto habilmente manufaturado, que não transmite somente aprendizado, mas produz experiência estética:
O Passagen-Werk se interessa menos em representar as realidades da vida da Paris do século 19 ou em estabelecer a motivação por trás da produção poética de Baudelaire do que em criar suas próprias ³passagens´ textuais, ao mesmo tempo histórico-geográficas e, no entanto [ ], ³o livro de um sonho [ ] e o sonho de um livro [ ] Como tal, o Passagen-Werk dificilmente poderia chegar a qualquer tipo de conclusão

satisfatória, mesmo se Benjamin tivesse vivido o suficiente para ³completá-lo´ , porque o material citacional ganhou vida própria uma vida, não de um trato historiográfico ou filosófico, mas de construto poético (ibid , p 64-65)
Os filmes de David Gatten apresentam um mesmo movimento pendular, refletindo sobre ciência e arte, intelecção e sensibilidade, o pensar e o fazer. Sua abordagem é próxima à de Passagens por diversas razões: primeiro, convoca uma espectatorialidade uma leitura, ou ambas simultaneamente ativa, que ³monta´ , junto ao artista, o sentido daqueles materiais reunidos. A formação do conhecimento ocorre nesse processo, cruzando informações que são dadas pelos métodos oferecidos pela montagem, procedimento ontologicamente cinematográfico. Também, sendo completamente silencioso, sem banda sonora, faz-se dessa ausência de comentário a teoria do conhecimento benjaminiano: criação de uma obra que pensa, que engendra pensamento a partir da arquitetura erigida de suas unidades; uma obra envolvida ³com o concreto, com o particular, tentando arrancar-lhe seu segredo de imediato, sem qualquer mediação da teoria´ (Tiedemann, 2019, p. 18)
Outra artista analisada no livro de Marjorie Perloff é Susan Howe A importância de Howe ao estudo de Perloff é tão grande quanto é na realização artística de David Gatten, abertamente inspirado pela poetisa Uma associação direta entre o cineasta e um dos nomes elencados em O Gênio Não-Original dá suporte à ideia, já intuída, de que a obra fílmica de Gatten poderia ser alçada ao lugar de construto fílmico que segue os mesmos princípios de tal estilística citacional na poesia, e que Gatten está alinhado, conscientemente ou não, às propostas colocadas pela crítica literária. E não somente os dois utilizam dos documentos do passado para produzir suas obras, mas suas fontes são equivalentes: Gatten descobre a coleção de William Byrd a partir de um livreto de Howe sobre ele; intitulado, justamente, Secret History of the Dividing Line título compartilhado por ambos, bem como por Byrd, sendo esse o nome do seu importante ensaio sobre a divisão da Virgínia e da Carolina do Norte.

Na terceira parte do filme, THE PRINTER TO THE DILIGENT READER (7 Confessions), fragmentos de um poema de Howe surgem em tela. Entre textos de outras proveniências, novamente cruzando dados de fontes plurais para gerar resultado poético, o de Howe se destaca por ser mencionado no último plano do filme, na área de ³Notas´ , semelhante àquelas contidas em trabalhos acadêmicos Gatten, então, assinala sua filiação aos modos de poesia da autora por um gesto, também, de autor de livros: citando-a em uma área fundamental à referência de seus materiais de pesquisa.
Um importante dado sobre esse mimetismo entre filme e livro é a evocação de um objeto físico, pertencente ao mundo concreto, em uma arte na qual se frui pela projeção luminosa de um objeto reprodutível Ao convergir a experiência do cinema com a da leitura por tais meios de formalização, o filme alude à sua materialidade e aproxima sua existência à de uma coisa colecionável, que pode ser colocada em uma estante A poética colecionista se encontra não somente no uso de uma biblioteca real como fonte de inspiração, ou na coleta de fragmentos que se tornam coleções vivas e pertencentes a todo um universo artístico, mas está, enfim, na aproximação do ciclo de filmes enquanto coleção de livros imaginários.
Se os filmes do projeto Secret History são como livros manuseáveis, sua fruição simulando os gestos do toque e do folhear das páginas, essa é mais uma manifestação de que, na filmografia de Gatten, há um amplo interesse nas materialidades do cinema, nas qualidades táteis que se encontram na criação e nos efeitos estilísticos que podem ser inventados de cada processo. Sua prática com o filme se volta a um desejo pela artesania técnica, e provém dos experimentos com as ferramentas do meio Gatten descreve, em entrevista, como se utilizou de diversos itens disponíveis a ele para produzir Moxon¶ s Mechanick Exercises:
O meu processo envolve colocar fita adesiva sobre um texto ou imagem em um livro e queimar o papel para que a cola da fita absorva a tinta, que então pode ser impressa em filme de alto contraste, criando um negativo; depois eu edito esse negativo em

rolos A, B, C, D e às vezes imprimo opticamente parte do material para diminuir a velocidade e mudar o ritmo (Gatten, 2007, p. 40)
Esse procedimento, Tom Gunning descreve como uma ³anti-impressão´ , que invoca ³uma libertação da letra para o espírito, como se libertasse o poder criativo da palavra e da letra da sua estrutura tecnológica e clareza linear´ (Gunning, 2011, p. 16).
O exercício de testar a técnica enquanto encarnação de saberes nela implícitos conversa com os principais temas do curta-metragem Porque essa reapropriação da palavra escrita em sentido experimental, tanto como radicalismo artístico quanto como experimento ³laboratorial´ adjacente à prática científica, abdica da escrita como ordenação racional dos saberes, percebendo na tipografia um material ao gesto mais intuitivo e lúdico com os instrumentos. As formas de inteligência, a erudição abstrata e o labor concreto, se aproximam no interior da própria feitura do cineasta
Todas essas proposições se veem amplamente materializadas, enfim, na segunda parte Gutenberg¶ s Bible, in translation and in ascension (28 citations), o pico emocional do curta-metragem. Entre os nomes de capítulos presentes no livro de Moxon e instruções à editoração de várias bíblias, entre citações de Gilles Deleuze e Maurice Blanchot, Gatten realiza sobreposições semi-abstratas de tipografias distintas, dos caracteres da escrita gótica, com a qual se popularizou a Bíblia de Gutenberg, aos tipos mais contemporâneos As letras dançam na tela como em uma enxurrada, movimentando uma coreografia intensa, desordenada pela multidão de caracteres que se misturam em um espaço indistinto O colecionador benjaminiano não possui livros somente pela razão do que está inscrito na mensagem impressa das páginas, seus sentidos se voltam àquele objeto, amam-no enquanto palco, abrem-se à sensação. O filme-enquanto-livro, no cinema de Gatten, ao tocar no valor de abstração da própria escrita, também se faz um objeto aberto à pura sensação, objeto de colecionador.
Em exemplares mais recentes da cinematografia de David Gatten, adota-se uma presença mais sofisticada na inserção de imagens filmadas. Utilizando tubos de

extensão nas lentes para filmar diversos tipos de objetos livros, jarros, rendas de cortina, equipamentos de laboratório que são sobrepostos, o resultado estético é o da produção de imagens reluzentes, altamente detalhadas, que encontram as propriedades mais físicas das coisas. Essa nova função das imagens de base fotográfica, quando colocadas no mesmo plano de atuação do material escrito, evolui a poética do cineasta e avança ainda mais a sua implicação conceitual no colecionismo: os objetos e as citações, ao coexistirem no plano, encontram afinidades entre as coleções presentes na imanência do real e aquelas que pertencem à abstração intelectual
Mas grande parte de seus filmes, e não apenas seus filmes relacionados ao projeto Secret History, seguem princípios que já foram desenvolvidos em Moxon¶ s Mechanick Exercises e analisados neste texto: o impulso antiquarista, a poética citacional, o mutualismo entre as esferas intelectuais e materiais, a existência do filme enquanto objeto manuseável e colecionável A sensibilidade engendrada por essa obra, em consonância com o ethos do colecionador benjaminiano, é altamente impregnada pelos fenômenos do mundo, que parte de uma curiosidade de instruções eruditas, mas que se encanta tanto quanto pela vida a ser vivida. Gatten nos propõe um cinema epistemológico, em sentido eminentemente distinto das primeiras experiências científicas com a imagem cinematográfica ou do cinema experimental mais cerebral das décadas de 60 ou 70, pois se mergulha em um temperamento muito mais absorto em si, introspectivo e com toques de melancolia por um mundo que se desfalece, mas que ainda pode ser habitado se visto por um olhar afetuoso, que conceda a ele seu respectivo colorido e brilhoso
BENJAMIN, Walter Rua de Mão Única São Paulo: Brasiliense, 1987
BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: UFMG, 2019

BUCK-MORSS, Susan. The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcade Projects MIT Press, 1989
GATTEN, David. Gentle Iconoclast: An Interview with David Gatten. Entrevistador: Scott Macdonald Film Quarterly, Berkeley, v 61, 2007
GUNNING, Tom. The Secret Language of the Traces of Light: David Gatten¶s Dividing Line In: Texts of Light: A Mid-Career Retrospective of Fourteen Films by David Gatten. Ohio: Wexner Center for the Arts, 2011.
PERLOFF, Marjorie. O Gênio Não Original: Poesia por outros meios no novo século. Belo Horizonte: UFMG, 2013
POWERS, John. Glancing Outwards: Notes on the New Historicist Film. Millennium Film Journal, n 61, p 76-85, 2015
ROUANET, Sérgio Paulo. As Razões do Iluminismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1987
WOLF, Edwin The Dispersal of the Library of William Byrd of Westover Proceedings of the American Antiquarian Society 68, 1958

A fotomontagem como caminho para a poética de arquivos históricos 1
Photomontage as a path to the poetics of historical archives
Fabiana Bruce Silva2
Resumo: Entendendo a necessidade da conservação dos documentos fotográficos, apresento uma pesquisa realizada recentemente onde considero que escrevi uma outra história, talvez menor, adotando uma documentação fotográfica onde, anteriormente, só enxergava repetição. O que fiz? Considerando processos de destruição, apagamentos, histórias provocadas, juntei fotografias e montei um álbum que contém desbastes de retratos antigos, reivindicando uma dimensão poética dos arquivos fotográficos.
Palavras-chave: Fotomontagem; Poética; Arquivo.
Abstract: Understanding the need to conserve photographic documents, I present a research carried out recently in which I consider that I wrote another story, perhaps a smaller one, adopting photographic documentation where, previously, I only saw repetition. What did I do? Considering processes of destruction, erasures, provoked stories, I gathered photographs and put together an album that contains scraps of old portraits, claiming a poetic dimension of photographic archives.
Keywords: Photomontage; Poetic; Archives.
Introdução
Este texto é resultado de uma apresentação realizada no dia 6 de junho de 2024, uma quinta-feira, depois das 15:30, em auditório do Centro de Artes e Comunicação –CAC - da UFPE, no Seminário do PPGCOM/UFPE Imagem+Politica+Estética. Onde
1 Trabalho apresentado ao GT4 Entre-imagens: fotografia, cinema, vídeo e o universo das imagens híbridas do Encontro Imagem + Política + Estética: territórios fluidos do contemporâneo, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife - PE, 05 a 07 de junho de 2024
2 Historiadora e antropóloga, professora de História Contemporânea da UFRPE, fabiana.bsilva@ufrpe.br, currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1540421518242292

trago questões sobre a dimensão poética dos arquivos fotográficos, ao expor um recolhe de um álbum de fotografia, montado durante a pandemia de COVID 19, há cerca de três anos atrás, entre junho de 2021 e janeiro de 2022, como parte propositiva à uma mentoria fotográfica que realizei na modalidade on-line. O trabalho teve uma versão apresentada no CounterImage de 2022. Como num Aedo, dá acesso à temas de história que se adequam à audiência, propondo rever/transver como mulheres e crianças foram fotografadas, em contexto de uma sociedade patriarcal. Está inédito enquanto publicação.
Quando elaborado privilegiei o seu processo de feitura através de cinco ações ali contidas: 1. Montagem; 2. ( ); 3. Desbaste; 4. Materialidade [fazer com as mãos]; 5. 4+1: na leitura do texto do Mauricio Lissovsky (1958 – 2022) sobre as dimensões do arquivo, publicado em 2004. Houveram várias questões a partir desta propositiva inicial e vejo que ela é válida enquanto produção de conhecimento e promoção de consciência histórica. Com isso, vou expô-la aqui, mantendo seu viés ensaístico, reelaborando-a no formato que imagino responder à convocatória do evento. Combinei as cinco ações em três partes performadas, que mantenho aqui no texto: 1. mostrar um recolhe de imagens selecionadas para, na sequência, 2. propor uma contextura que possa recuperar alguma/outra historicidade e 3. uma parte impressa que, na apresentação do dia 6, coloquei sobre a mesa – o recolhe inteiro para o manuseio da audiência -, mas que aqui neste texto será substituída por uma descrição do processo.
1 Recolhe de imagens de um álbum de fotografia
“Deixar o detalhe remontar sozinho à consciência afetiva” (Barthes, 1984). A frase de Roland Barthes (1915 – 1980) norteia esta exposição. A vi várias vezes ser pronunciada por Mauricio Lissovsky que, ao pronunciá-la, aguardava a reação da audiência. A fotografia nos atinge (punctum). A ação é convocada aqui para explicitar de forma sintética o que tenho experienciado nas pesquisas com arquivos fotográficos

há algumas décadas, desde pelo menos 1998. A frase repercute uma intuição que tinha e que achava demais para a prática historiadora até então, pois implicava imaginação e estesia. Nos processos de identificação de fotografias e mesmo acompanhando os descritores preparados nas leituras de documentos fotográficos em variadas instituições, tenho percebido que é isso o que acontece: a fotografia quase muito frequentemente provoca e inquere seu observador, mesmo quando este, por processos de consciência histórica diversos e no ajuntamento dos documentos de entorno, descarta o que lhe aparece, por estranhamento, em função de escolhas temáticas já resolvidas e/ou por não saber o que pensar nem o que dizer, quando desta experiência memorial, historial.
Porém, é no estranhamento que a produção de conhecimento acontece. Com isso, na intenção de acompanhar processos fotográficos variados e memoriais, decidi rever fotografias agindo por sobre elas, fotografando-as novamente, recortando e adicionando algumas palavras, abrindo novos caminhos de pesquisa. E, com isso, ficar disponível à descobertas variadas e incoativas que por ali compõem visualidades. Foram cinco sequências montadas e cinco palavras contiguas, expressões e/ou ações de (re)fotografar: arvoredo (emaranhamento), pedra (atirada na água), cerca (atributo), quase cartemas (processo) e futuro (imagem). Sequências de imagens/atos cujas histórias são incoativas às projeções realizadas.
2 Contextura: o recolhe fotográfico fotografado novamente e as fotomontagens



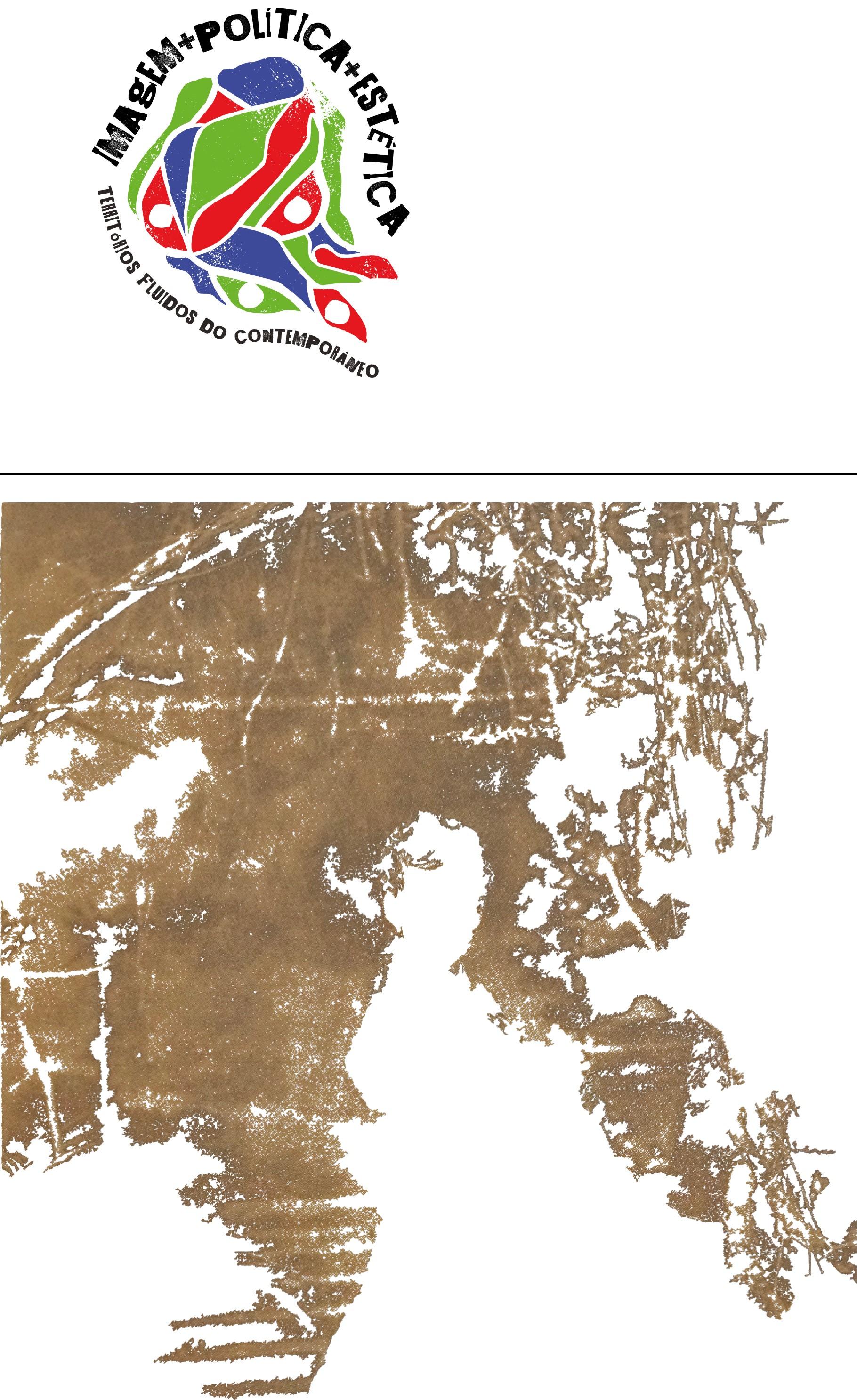
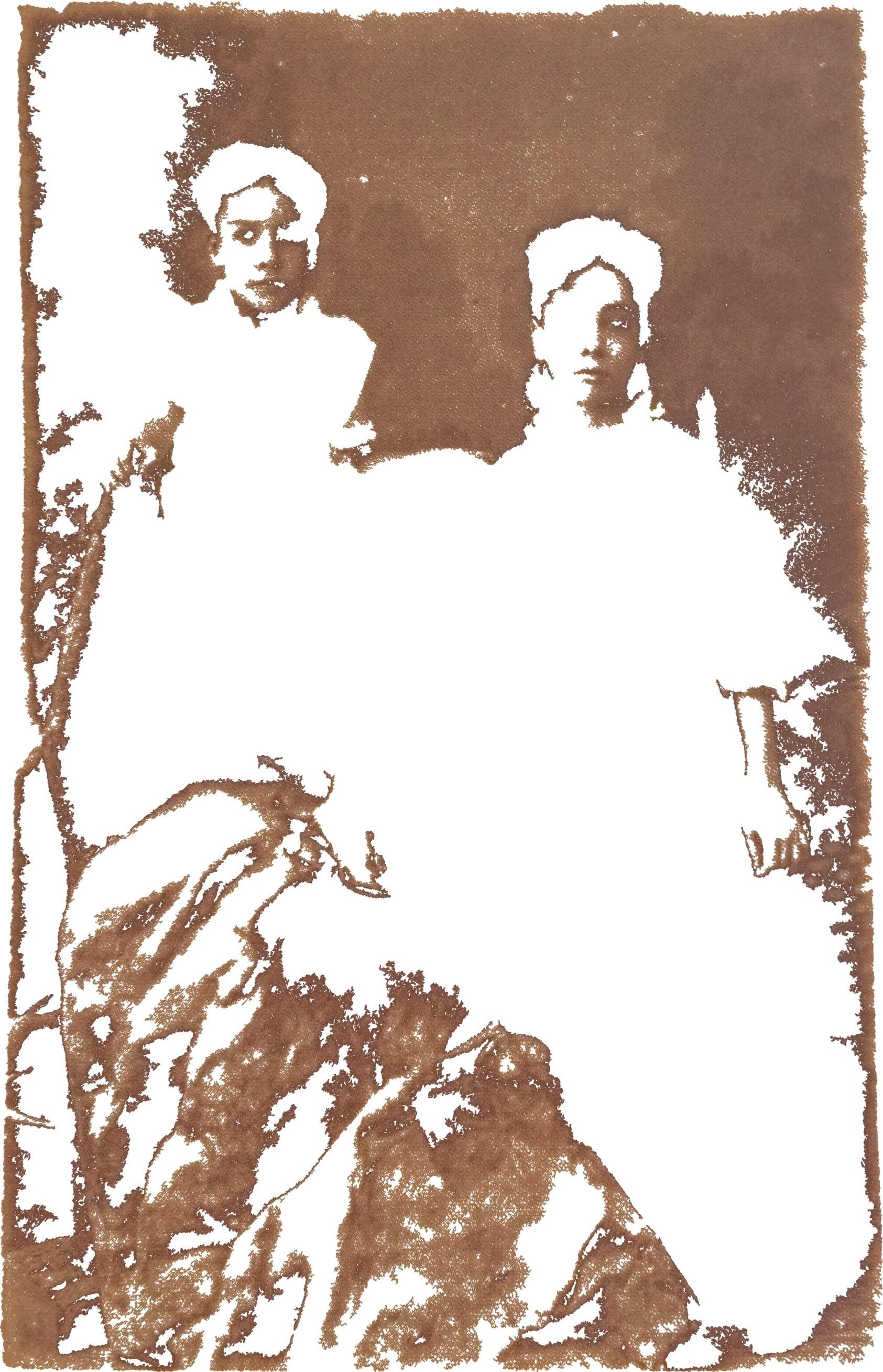
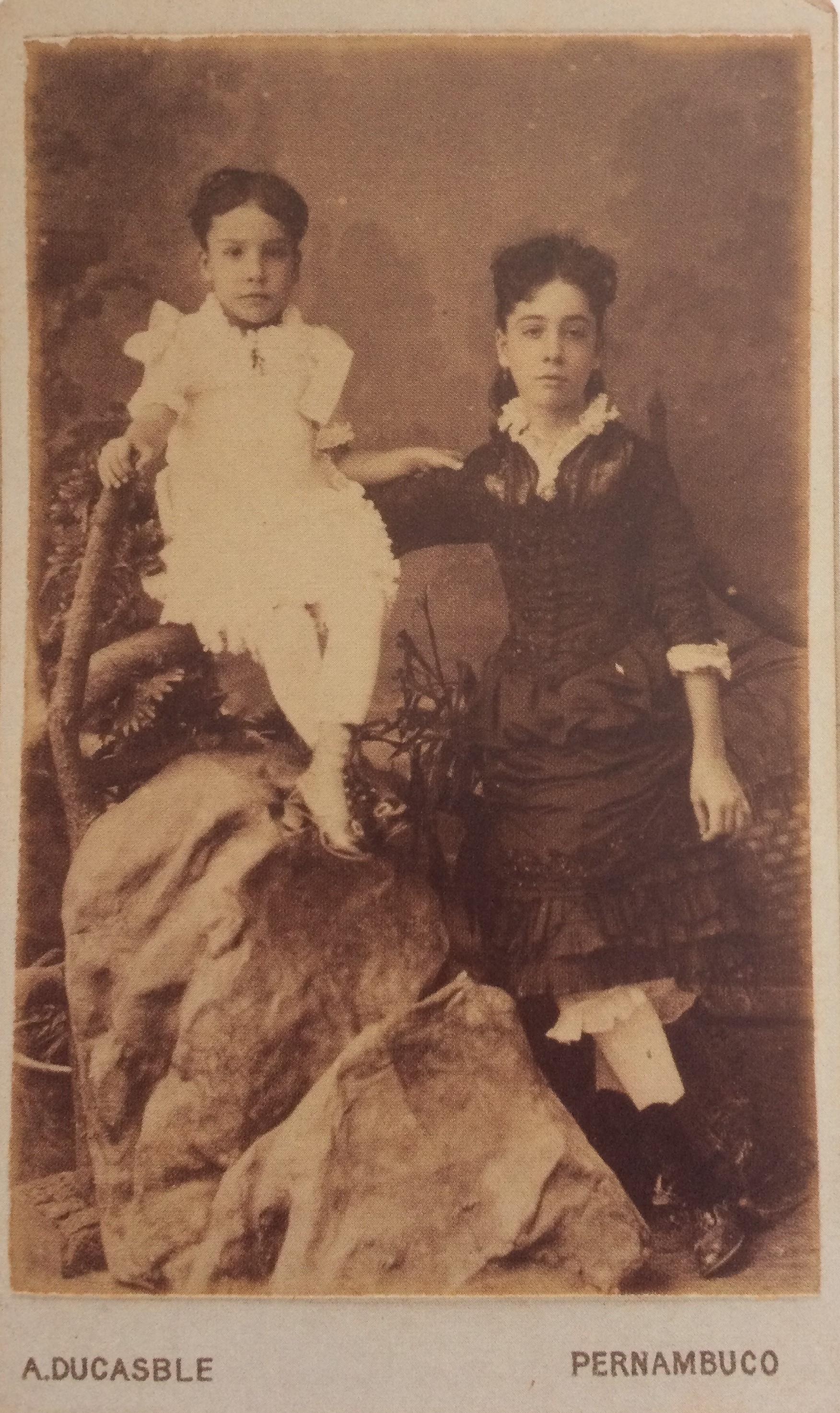

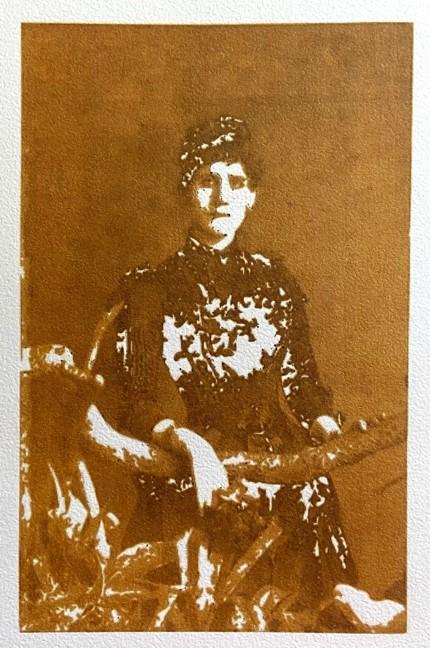
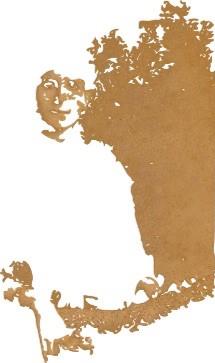






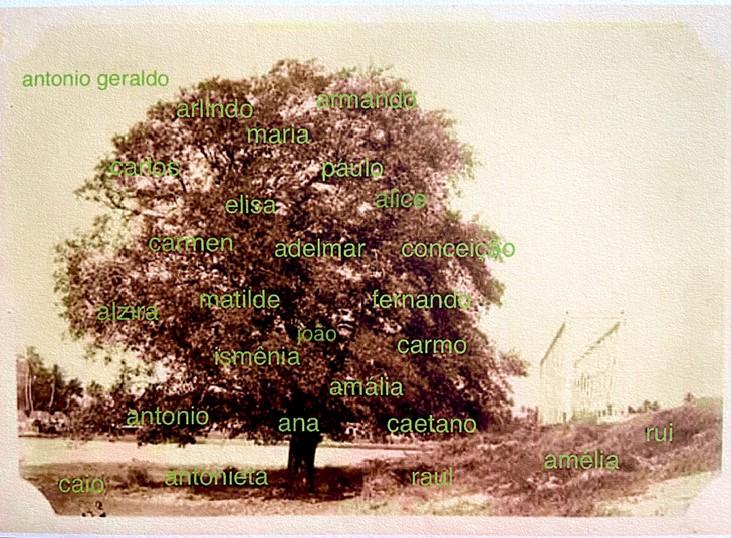
essas arvores finas, retas ou levemente contorcidas pintadas na paisagem, recortadas na floresta/no bosque, que desafiam a horizontalidade, que ‘questionam’ a linha do horizonte e a perspectiva
– Picasso e uma lembrança de Atget, 1932; anotações de pesquisa (2013).
3 Descrição do processo e a poética

Assim como as flores dirigem sua corola para o sol, o passado, graças a um misterioso heliotropismo, tenta dirigir-se para o sol que se levanta no céu da história. Tese 4, Sobre o conceito de história. Walter Benjamin, [1940] 1987.
Observando a regularidade enfadonha dessas imagens (Lissovsky, 2005), cartes de visite (FR/DP/Fundaj), adotei-as e desviei meu olhar das figuras e de seus nomes, para duplicá-las, espelhá-las, retirar contornos e fazer aparecer partes dos cenários, espaços de atributo - as cercas, em especial, pois estas aparecem bastante: como apoio e proteção aos fotografados, na sua maioria mulheres e crianças. Ao copiar (prints) essas imagens do Domínio Público, comecei a desbastá-las, com uma ferramenta simples de computador para tratamento de imagens. A palavra desbaste, como a usei, vem de desbastar: “des basto ar”. E significa “tornar menos basto, retirar, polir, tornar menos espesso”; expressão muito usada em processos de esculpir na madeira, na pedra, no linóleo; como lapidar.
Traduzida na experiência da feitura de um álbum de fotografia, o desbaste foi utilizado como ato de arejamento em relação às poses da carte de visite e de emaranhamento, conjuntamente, que ainda estou pensando, mas fazendo coincidir em sincronicidade com as formas vegetais que apareciam. Deixei seguir o que aparecia, ao soltar o cursor, cortei, montei; no sentido de afirmar a possibilidade de uma poética na abordagem do arquivo fotográfico. Chamando atenção para o tratamento da fotografia em arquivos, acentuando que na contemporaneidade vivemos a ampla reprodutibilidade e que é interessante a narrativa historiadora dialogar também aí, por um lado. Por outro, para a necessidade de disponibilidade diante das imagens, que atravessam o tempo. Passagens da historiografia e da teoria da fotografia no Brasil assinalam o uso de cercas nos cenários onde certas fotografias eram feitas. Manoel Tondella (1861 – 1921), da firma Oliveira & Tondella, de ascendência portuguesa, foi o fotógrafo escolhido e o acompanhei no DP, Diario de Pernambuco. Ele fotografou o Recife entre finais do século XIX e nas primeiras duas décadas do século XX – observador dos arredores da

cidade, se misturava. Morador da Rua Velha, nas cercanias do Pátio de Santa Cruz, no Bairro da Boa Vista, levava para o seu studio pedaços de madeira e pequenas partes da flora local. No período em que atuou, o Recife era cidade senhorial rural. No studio, o cenário era montado com cercas de madeira, troncos de árvores de pequeno porte, folhagens misturadas a cadeiras, cortinas e paredes estucadas. Também flores e pequenas balaustradas, onde as pessoas pousavam suas mãos. As cercas eram usadas para que as mulheres e crianças, ao serem fotografadas, se segurassem.
Ao eleger restos das cercas, fazendo aparecer formas disformes e mesmo geometrias, considerei a ideia do emaranhamento – o arvoredo. E, nas ações repetidas de copiar e colar, fui moldando o que aparecia aleatoriamente: primeiro, formas disformes apareciam, ao “bolir” com elas, foram adquirindo o aspecto dos “quase cartemas” – numa aproximação com os Cartemas (1972) de Aloísio Magalhaes (19271982) -, montados em pranchas escolhidas. Os sobrenomes foram retirados das figurascujos registros e/ou vida ativa não existiam nos jornais locais - para integrar uma árvore de primeiros nomes: um lugar comum que nos leva ao futuro, onde todos seremos imagens.
No percurso da pesquisa encontrei o trabalho da artista portuguesa Carla Cabanas, em especial I don’t trust myself when I’m sleeping (2018-2019) - eu não confio em mim mesma quando durmo; que também desbasta, mas não com este nome.
3.1 E sem as cercas/nas cercanias, os de fora

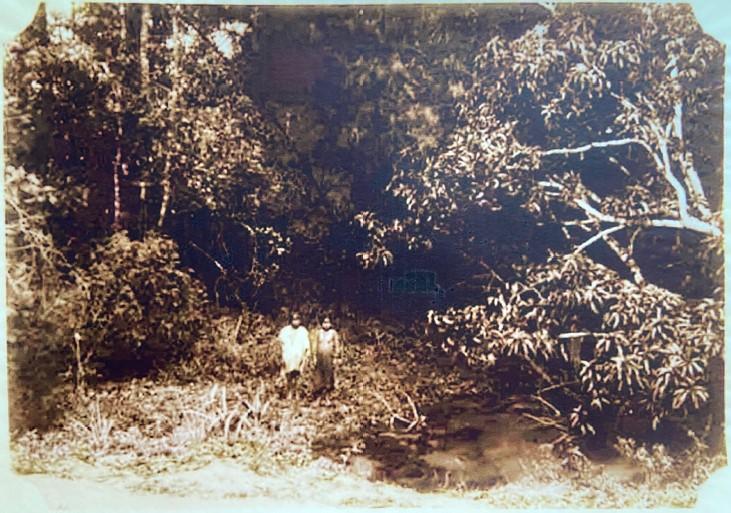
Conjurei os desbastes nas cartes de visite com a paisagem “lá fora”. Com fotografias feitas pelo mesmo fotógrafo, no contexto da cidade do Recife, fundada entre um estuário e uma Mata Atlântica. Estas, fazem aparecer um jardim “de fora” do studio e aqueles “não cercados”, fotografados como parte de uma paisagem. Anunciando ainda o uso de equipamentos fotográficos mais leves, introduzidos em meados dos anos vinte (1920) – até onde vai a coleção Francisco Rodrigues.
Me dando conta que estava pretendendo relacionar a paisagem estuária do Recife àqueles que a faziam, seus moradores, a sociedade integrada à paisagem: quem aterrou, construiu e destruiu, para construir de novo? Parecia simples. Através de identificação de motivos e do uso de palavras-chave. Nisso, a imagem tem uma organicidade, ela conta histórias – e a incorporação da fotografia às pesquisas históricas segue nessas paragens. Comecei a pensar que no vazio opera algo e que as questões indiciárias poderiam suprir algo. Procurei alguns nomes dos identificados nos jornais da época. Nomes sem histórias o suficiente para os jornais. Restituição. E desenvolvi apreço pelos cenários, observando os objetos colocados nos studios de fotografia por seus fotógrafos, para chegar aos fotografados. Desbaste sugeriu também “dar basta”, para fazer aparecer objetos que os fotógrafos colocavam nos studios, que apareceram

para mim como aspectos vegetais estruturantes na sociedade, demarcando sua duraçãoemaranhamento.
Sim, através da montagem: ao observar os detalhes e sua relação com o todo, dinâmica e unidade. Motivação: pesquisando fotografias e a cidade do Recife, encontrei variados arquivos onde aparecem o arruado, a paisagem estuária, o casario e muitas demolições. Recife tem uma tradição nesta historia, residual. Fotógrafos do século XIX e do século XX que passaram pela cidade e viveram nela mostram essa “visão talássica”, de talar até o calcanhar, e entediada, refletindo os locais – isso começou a ser uma ideia. Arquivos fotográficos de retratos remontam desde os anos iniciais. Dessas fotografias comecei a pensar: quem são esses que se entediam? Recife foi uma das capitais onde sua população mais se deixou fotografar em studio, nos anos iniciais da fotografia. Encontrei essa burguesia nas coleções da FUNDAJ/ no Domínio Publico e comecei a olhar essas cartes de visite, que são a maioria dos retratos ali depositados online.
A parte em minha propositiva, vazia ( ), indica fundamentalmente que não sabia muito ao certo o que fazer, mas que estava a caminho. Compartilhei incertezas e foram elaboradas várias possibilidades e observações a respeito do que começou a aparecer visualmente. Referências teóricas, fotógrafos que atuaram por proximidade. Minhas questões sempre me pareciam mais simples. Me dando conta que estava pretendendo relacionar a paisagem estuária do Recife àqueles que a faziam, seus moradores, a sociedade integrada à paisagem, reitero: quem aterrou, construiu e destruiu, para construir de novo? Parecia simples. Depois, tive a necessidade de remontar o material, sem perder as referências dos descritores, que registrei, reservei e imprimi. As fotografias de Tondella encontradas no acervo on-line da FUNDAJ, a Villa Digital, humanizaram um tanto mais minhas buscas: comecei a vê-lo como um fotógrafo que se misturava nas cercanias, quando eu perguntava que jardim era aquele que havia naquelas fotografias de studio? Tive a necessidade de imprimir essa experiência.

4+1. Dimensões do arquivo. “a luva é um arquivo”. Diz Lissovsky (2004). Se na contemporaneidade há uma abertura estética para os valores dos arquivos fotográficos a se traduzir em peças visuais, sonoras e hibridas, poderia o historiador reivindicar uma dimensão poética no acesso aos documentos de arquivo, de arquivos fotográficos? Sem incorrer nos riscos de continuar-se na esfera ilustrativa da fotografia – usar fotomontagens para ilustrar eventos e pautas discursivas - e sem entender essa sua possível “nova prática” como confronto? Fazendo aparecer uma imagem cristal? Que atravessa os tempos? Considero que escrevi uma outra história, talvez menor – cujo sentido ainda não aterrei -, adotando uma documentação fotográfica onde, anteriormente, só enxergava repetição. Permitindo o detalhe remontar sozinho à consciência afetiva.
BARTHES, Roland. A câmara clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
BENJAMIN, Walter. Obras completas - Volume 1. São Paulo: Brasiliense, 1987.
BRASILIANA FOTOGRÁFICA. Cronologia de Manoel Tondella. Disponível on-line: <https://brasilianafotografica.bn.gov.br/?p=21022> Acesso em maio de 2022.
BRUCE SILVA, Fabiana. Uma outra ética do olhar em fotografias do Recife, na década de 1950. ANPUH, XXV Simpósio Nacional de História, Fortaleza, 2009.
CABANAS, Carla. I don’t trust myself when I’m sleeping. Paris Photo 2019 with Galeria Carlos Carvalho Arte Contemporânea, France. Acesso on line: <https://carlacabanas.com/i-dont-trust-myself-when-im-sleeping/ > DOMÍNIO PÚBLICO (DP). Governo do Brasil. 2022. URL: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do>
EPICURO. Carta sobre a felicidade (a Meneceu). São Paulo: UNESP, 2002.
LISSOVSKY, Maurício. Quatro mais uma dimensões do arquivo. In: MATTAR, Eliana (org.) Acesso à informação e políticas de arquivo. Rio de Janeiro, 2004, p. 47 – 63.

______. Quando a fotografia se diz-dobra. A propósito dos perceptos de Valéria Costa Pinto. Trabalho apresentado ao Grupo de Trabalho “Fotografia, cinema e vídeo”, do XVIII Encontro da Compós, PUC-MG, Belo Horizonte, MG, em junho de 2009.
______. O phi da fotografia. Rio de Janeiro: IDEA, 2021.
MAGALHÃES, Aloísio. Cartemas. A fotografia como suporte de criação. Rio de Janeiro: Funarte, 1982.
MAUAD, Ana Maria. Opulência e distinção social nas fotografias da Coleção Francisco Rodrigues. Em: BARBOSA, Rita de Cássia e MOTTA, Tereza A. (Orgs.) O retrato e o tempo: Coleção Francisco Rodrigues, 1840-1920. Recife: Massangana, 2014, p. 104 –123.
