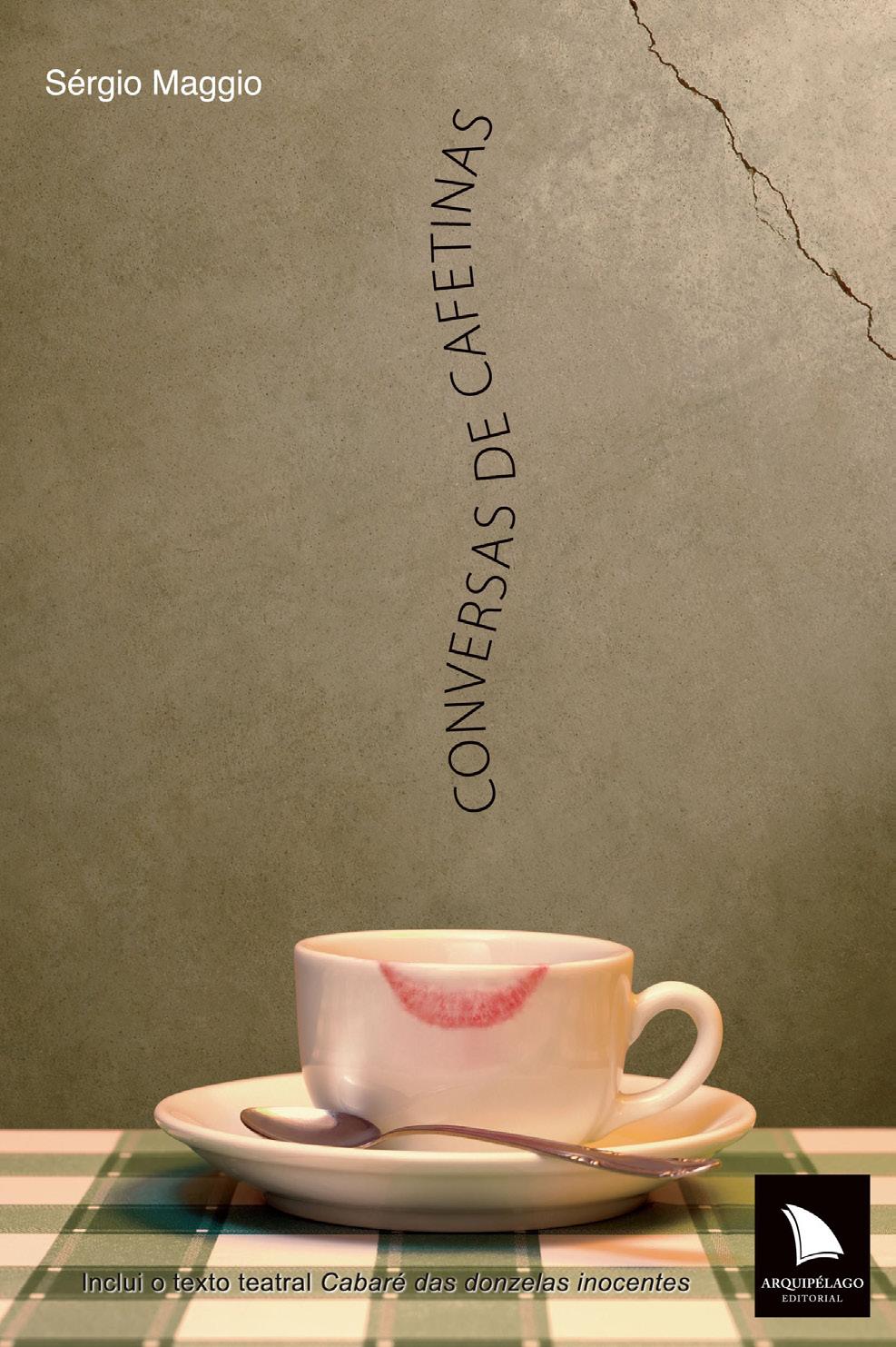11 minute read
A política externa antiglobalista
Por Gustavo de Andrade Rocha
Este artigo é um fruto colateral da apresentação do autor na mesa sobre as relações bilaterais entre Brasil e China do III Seminário da Rede Brasileira de Estudos da China, evento que tem a sua relevância acentuada diante da reflexão que desenvolveu sobre os problemas políticos do país diante das posturas do atual governo.
Advertisement
Desde o início do governo de Jair Bolsonaro, o país foi confrontado com uma agenda profundamente ideológica. O mesmo fenômeno pôde ser verificado na agenda da política externa brasileira. Nas palavras do atual ministro, o Sr. Ernesto Araújo, somos norteados pelo “antiglobalismo” e pelo “ocidentalismo cristão”. Além dessas duas autodeterminações, poderíamos acrescentar também o elemento neoliberal. Nesta brevíssima análise, iremos apresentar como essa política externa se encaixa na tradição brasileira.
É lugar comum na literatura sobre a diplomacia e a política externa brasileira falar de sua tradição e respeito internacional. De fato, há uma grande tradição, e o Brasil é respeitado internacional tanto pela coerência de sua política externa, quanto pela respeitabilidade de sua diplomacia profissional.
O famoso Barão do Rio Branco, monarquista convicto, porém ministro das Relações Exteriores na Primeira República, foi responsável por definir as linhas mestras na política externa nacional, raramente violadas ao longo de nossa história. Uma política externa pacífica e pacifista (ou seja, além de resolvermos nossos conflitos de forma pacífica, defendemos que todos assim o façam), pautada pelo respeito aos assuntos internos dos demais Estados, pelo multilateralismo e pela profissionalização do corpo diplomático. Destes elementos, o multilateralismo, vai e vem, se torna o foco de nossa atuação externa. Mesmo deixando de estar no centro, não deixa de estar presente. Além disso, acrescenta-se a ênfase da diplomacia na política comercial agroexportadora.
Getúlio Vargas, em seus vários anos de governos (principalmente Estado Novo e no período democrático) foi responsável por trazer o desenvolvimentismo para a atuação externa do Brasil. Como pretendia promover industrialização e ainda assim manter a agroexportação, a diplomacia e as diretrizes internacionais do país eram fundamentais. No período, aproveitou o contexto internacional para barganhar com as principais potências ascendentes de então, Estados Unidos da América e Alemanha, com o objetivo de atrair investimentos externos, tecnologias, abrir mercados para produtos brasileiros etc. Como dito anteriormente, lançando mão de um pragmatismo estratégico bastante ousado. Essa estratégia ficou denominada como “Equidistância Pragmática”, um belo eufemismo para um comportamento pendular do Brasil entre dois polos de poder e influência da época.
A Política Externa Independente (PEI), também fruto do desenvolvimentismo iniciado por Getúlio, mas levado a cabo nos governos de Jânio Quadros e João Goulart (mais por influência de Jango, na composição dos governos), trouxe o contexto da Guerra Fria para a nossa política externa e para o mundo onde os Estados Unidos da América já eram a principal potência ocidental. Suas principais marcas foram a insubordinação à potência hegemônica, porém sem buscar confrontos, participação em foros de países não alinhados e busca pela cooperação com países do Sul Global (denominada cooperação sul-sul). Prezava, ainda, pela diversificação de mercados para os nossos produtos, com objetivo de diminuir a dependência dos nossos mercados tradicionais e principais parceiros econômicos. Neste contexto, se deu a visita oficial de João Goulart (então vice-presidente) à China, quando Jânio Quadros anunciava sua renúncia.
Quanto ao Regime Militar, nesse momento, restringiremos a análise à sua dupla política externa. Nos primeiros dois governos, com os denominados “Liberais-Internacionalistas”, defendeu-se o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos da América em questões de segurança (que na realidade, acabou por se refletir em quase todos os temas) e uma política comercial liberal, em outras palavras, de nenhuma proatividade brasileira. Num segundo momento, com o fracasso econômico do primeiro grupo, ascende ao poder com Médici uma política externa que procurava emular elementos das políticas exter-
nas desenvolvimentistas. Apesar de suas características próprias, buscava investir em grandes obras de infraestrutura, atração de investimento externo e busca por parcerias estratégicas internacionais. Cabe ressaltar que, especialmente, as grandes obras de infraestrutura foram realizadas às custas de um grave endividamento público nacional no exterior.
Por fim, na nova República, retomamos no primeiro momento vários aspectos da PEI, porém num contexto após a queda do Muro de Berlim e dissolução da União Soviética. Porém logo após a primeira eleição, com Fernando Collor, somos apresentados à Política Externa Neoliberal. Em outras palavras, um novo esforço para se opor aos elementos desenvolvimentistas na política externa. Após Collor, o Neoliberalismo passa a ser administrado em doses diferentes na política externa brasileira nos governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso (FHC). No caso dos dois governos FHC essas doses significaram principalmente o esvaziamento do Ministério das Relações Exteriores, através da transferência de responsabilidades para os ministérios econômicos. Porém, no Itamaraty, ainda se mantinha uma política externa alinhada à PEI, especialmente nos aspectos do regionalismo, da cooperação sul-sul e da busca por diversificação de parcerias comerciais. No governo Lula, há uma continuidade dessa política externa, mas com maior ênfase na cooperação sul-sul e no protagonismo do Brasil como liderança do Sul Global.
Os governos posteriores, por motivos diferentes, não alteraram significativamente a política externa nacional. Refiro-me aqui aos governos Dilma Rousseff e Temer.
Diante do apresentado até aqui, as palavras deste título, a exceção do neoliberalismo, parecem destoar. E realmente o fazem. Podemos caracterizar o primeiro momento da política externa deste governo como ideológica e pouquíssimo pragmática (ao menos nas relações internacionais do Brasil).
Antiglobalismo se refere a uma posição do ministro e do governo brasileiro, em oposição às principais organizações intergovernamentais e a foros multilaterais, mantendo-se em posição refratária às agendas defendidas pela grande maioria da comunidade internacional, especialmente, a ocidental. O Ocidentalismo Cristão, em complemento, se refere a uma visão de unidade entre os países ocidentais denominados cristãos, que devem se opor a qualquer mudança que, em suas interpretações, vá contra os “valores conservadores” desses países. Essa postura gerou imediatamente conflitos. Há de se ressaltar, especialmente, com a China, hoje nosso principal parceiro comercial.
Diante do estremecimento de relações com os chineses, e ainda pior, reações por parte de Pequim, alguns atores no Brasil começaram a agir para suavizar as posturas brasileiras. Tanto dentro do governo, quanto fora. E esses atores foram fundamentais para a inclusão do Neoliberalismo na caracterização da atual Política Externa.
Quando perceberam que seriam prejudicados pela política externa do governo que apoiavam, setores como o Agronegócio, Instituições Financeiras, Multinacionais começaram a usar seus interlocutores para pressionar o governo. Entre eles, a Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o Ministro da Economia, Paulo Guedes.
Essa interferência culmina com a visita do Presidente da República à China, onde em uma live ele diz “estou em um país capitalista!” Essa afirmação, por motivos óbvios, é uma forma de conciliar o novo elemento neoliberal, na agenda da Política Externa bolsonarista, sem com isso, perder o apoio de seu eleitorado radical.
Após esse evento, mesmo quando há uma declaração ou ação por parte de um membro do governo, ou alguém associado, como o caso dos filhos do presidente, há uma quase imediata ação do governo federal para suavizar os impactos de tais declarações. Isso se dá porque os interesses econômicos dos setores que se fazem representar no governo não podem em hipótese alguma (ou não deveriam) os afetar.
Para concluir, percebemos que, na prática, esta política externa bolsonarista traz de volta elementos bastante antigos: alinhamento automático com potências tradicionais, pouco pragmatismo na ação política, e uma ação econômica (neo) liberal. Ainda cabe mencionar, de forma muito breve, os impactos internacionais causados pelo desprezo do governo pelo meio ambiente e por questões sociais.
Gustavo de Andrade Rocha é professor de Relações Internacionais no Centro Universitário Tabosa de Almeida em Caruaru, Vice-Líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento e Região (Núcleo D&R) e Pesquisador Associado do Instituto de Estudos da Ásia (UFPE). Possui doutorado em Ciência Política, mestrado em Economia e bacharelado em Relações Internacionais.
O direito à alimentação adequada e justa em tempos de pandemia
Por Inã Cândido
Com o avanço do novo coronavírus, a falta de acesso à alimentação adequada e justa tem se agravado para uma parcela significativa da população brasileira. Embora necessárias, as medidas de isolamento fazem com que diversas famílias necessitem recorrer, cada vez mais, aos alimentos industrializados por estes serem considerados mais baratos, por durarem mais tempo na despensa e pela facilidade de serem consumidos a qualquer momento. Segundo um levantamento do IBGE (2020), após uma sequência de quedas registradas a partir de 2004, o número de pessoas que lidam com limitações de quantidade e qualidade da comida — em alguns casos, passando até fome — voltou a crescer no país (Disponível em <https://www.nexojornal.com.br/podcast/2020/09/17/O-aumento-da-inseguran%C3%A7a-alimentar-entre-os-brasileiros>. Acesso em: 20 set. 2020).
O problema é que esses itens definidos como ultraprocessados — conforme demonstra o respeitável Guia Alimentar para a População Brasileira (2014) — tendem a ser excessivamente calóricos e menos nutritivos do que os alimentos in natura, além de causarem severos danos ambientais e sociais. Inclusive, essa “imitação de comida” produzida e comercializada pela indústria de alimentos — com o amplo apoio de setores do governo — pode contribuir, a médio e longo prazo, para o surgimento de graves problemas para a população, como as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).
O direito à alimentação adequada e justa da população não está assegurado; pelo contrário, está sendo ainda mais comprometido com o aprofundamento dos efeitos perversos da pandemia. A fome oculta e invisível (desnutrição) e/ou a fome aguda, como denunciava Josué de Castro (1980), gera prejuízos incalculáveis para aqueles que não têm o mínimo acesso a uma alimentação em termos de quantidade e qualidade. Essa situação de calamidade pública atinge tanto aqueles que vivem na cidade como no campo, principalmente pessoas sem renda mínima: uma parcela significativa da população negra, famílias rurais com acesso precário à terra, comunidades quilombolas, ribeirinhas e populações indígenas.
O agrônomo, escritor e ex-diretor da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) José Graciano da Silva (2020) alertou que as doenças provocadas pela má alimentação podem ser consideradas um dos principais agravantes da Covid-19. Ele ainda afirma que a maior procura por alimentos ultraprocessados em supermercados tem prejudicado diversos agricultores familiares, pois muitos deles dependem de feiras livres, restaurantes e bares para obterem um maior rendimento. Com o menor movimento nesses espaços, vários produtores familiares temem não conseguir manter as atividades. Ultimamente, eles têm sido forçados a descartar frutas, verduras, legumes e outros alimentos.
Como uma forma de garantir maior proteção social, a alimentação de qualidade deve ser pensada muito além de interesses mercadológicos e dos critérios nutricionais reducionistas e/ou meramente técnicos estabelecidos pelo Governo Federal. O combate à insegurança alimentar e nutricional precisa ser articulado através de dimensões políticas, sociais, culturais, econômicas e ambientais. O bem viver e alimentar, para não se tornar apenas uma retórica vazia e desprovida de significado, precisa ser entendido de forma individual, coletiva e solidária, como um direito humano básico capaz de garantir o acesso permanente e regular aos alimentos, de maneira socialmente justa.
O sociólogo e combatente da fome Jean Ziegler (2013) afirma que o direito à alimentação, reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), é violado de forma constante e brutal em diversas partes do mundo, inclusive pelo atual governo brasileiro. Esse direito está relacionado à condição de o povo ter acesso, regular e permanente, a uma alimentação quantitativa e qualitativa, garantindo uma vida plena e satisfatória, livre de problemas causados pela falta de consumo adequado de calorias diárias.
Ainda, segundo os princípios e as diretrizes
do Consea (2004), a alimentação adequada e justa perpassa diretamente por aspectos biológicos e sociais dos indivíduos, de acordo com o ciclo de vida e com as necessidades alimentares especiais, considerando e adequando, quando necessário, o referencial da tradição local. Além disso, precisa atender a princípios como: variedade, qualidade, equilíbrio, moderação e prazer (sabor), a dimensões de classe, gênero, raça e etnia e a formas de produção ambientalmente sustentáveis, livres de contaminantes físicos, químicos e biológicos e de organismos geneticamente modificados.
Agora, neste momento crítico, a curto prazo, torna-se ainda mais necessária a valorização dos circuitos locais de produção e consumo, sobretudo através das feiras orgânicas e agroecológicas dos produtores familiares. Assim, se faz necessário criar mais iniciativas por meio de políticas públicas de curto e médio prazos para dar maior apoio à agricultura familiar e, paralelamente, assegurar o acesso da população à “comida de verdade”, produzida, sobretudo, de forma sustentável, que respeite a sociobiodiversidade. Junto a isso, esses alimentos de qualidade devem chegar de forma rápida e efetiva onde estão as pessoas, grupos e comunidades que estão mais vulneráveis, pois, como dizia Betinho, “quem tem fome tem pressa”.
Neste momento da pandemia, torna-se ainda mais urgente que amplos setores da sociedade civil se mobilizem para barrar os retrocessos socioeconômicos do Governo Federal e avançar no combate à fome e à insegurança alimentar e nutricional, que assolam profundamente o país. Nesse sentido, a luta por justiça alimentar, a qual possibilite que um conjunto de propostas seja implementado em caráter emergencial nas esferas federal, estadual e municipal, é algo de suma importância para que a saúde e o direito à alimentação da população brasileira sejam, de fato, garantidos e respeitados.
REFERÊNCIAS
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAUDE. Guia Alimentar da População Brasileira. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: <http://dab.saude.gov. br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/ guia_alimentar2014>. Acesso em: 20 set. 2020.
CASTRO, Josué de. Geografia da Fome: o dilema brasileiro do pão e aço. Rio de Janeiro: Antares / Achiamé, 1980.
CONSEA. <Disponível em: https://www.ipea.gov. br/participacao/images/pdfs/conferencias/Seguranca_Alimentar_II/textos_referencia_2_conferencia_ seguranca_alimentar.pdf > Acesso em: 20 set. 2020.
SILVA, Graciano. Piora da alimentação na pandemia deixa população mais vulnerável à Covid-19, diz ex-chefe da FAO, 2020. Disponível em: <https://www. bbc.com/portuguese/internacional-52626216> Acesso em: 20 set. 2020.
ZIEGLER, Jean. Destruição em massa: Geopolítica da fome. São Paulo: Cortez Editora, 2013.
Gustavo de Andrade Rocha é professor de Relações Internacionais no Centro Universitário Tabosa de Almeida em Caruaru, Vice-Líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento e Região (Núcleo D&R) e Pesquisador Associado do Instituto de Estudos da Ásia (UFPE). Possui doutorado em Ciência Política, mestrado em Economia e bacharelado em Relações Internacionais.