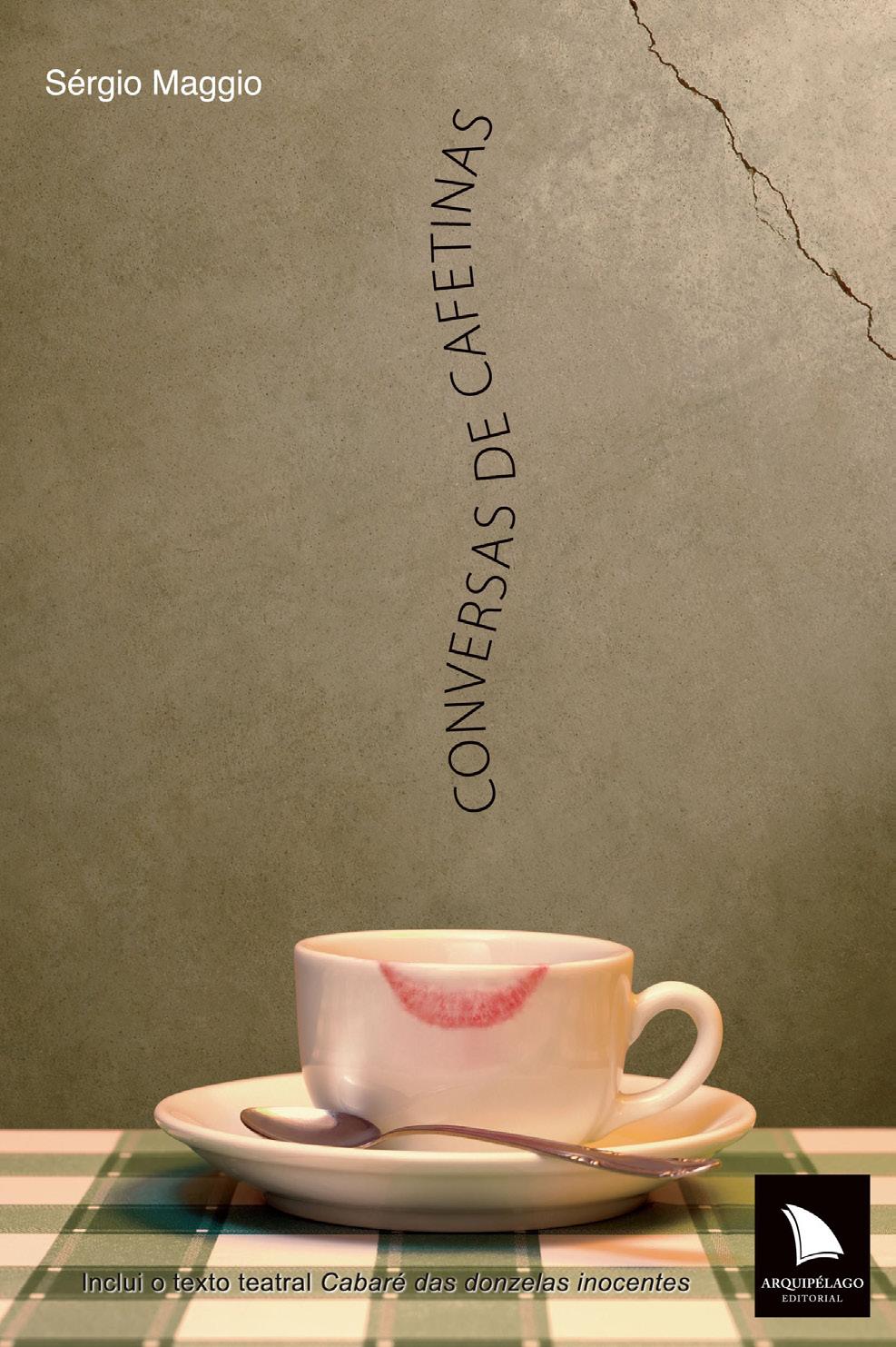10 minute read
Editorial
Editorial
Por Heitor Rocha
Advertisement
Diante da omissão de responsabilidade do seu caótico governo em todas as áreas de atuação, será a incansável repetição de Bolsonaro de que é o presidente (Quem manda sou eu! Quem tem a caneta sou eu!) para convencer os outros, a si próprio ou ainda para estimular, com um espetáculo de demagogia populista de direita, como um bufão, a sua claque de celerados? O desastre da atual administração do país é evidente na falta de liderança para combater a pandemia do Covid-19 e comandar a população no cumprimento das recomendações das autoridades médicas (o traquina até de forma irreverente subverte as prescrições e se arvora a ter conhecimento médico para incitar o uso de medicamento não reconhecido pela medicina); na omissão no combate ao desmatamento e às queimadas na Amazônia e no Pantanal, protegendo os garimpeiros, pecuaristas e outros criminosos ambientas que invadem as terras indígenas, ao inibir e desarticular o IBAMA e outros órgãos de preservação do meio ambiente, bem como nas cavilosas acusações contra as ONG’s que atuam em defesa da floresta, sem levar em conta os protestos da comunidade internacional, inclusive de grandes corporações que importam produtos brasileiros, que até chegaram a cortar seus repasses de recursos ao fundo de defesa da Amazônia, e das empresas nacionais que estão sofrendo retaliações devido à postura predatória do governo Bolsonaro, ou seja, cinicamente indiferente aos prejuízos econômicos que provoca ao país. Isso tudo sem falar na sistemática conspiração contra os interesses nacionais com relação à Petrobrás e às reformas para ampliar a cumulação do capital e a precarização da qualidade de vida da imensa maioria da população.
É preciso distinguir entre o exercício da liderança do chefe de quadrilha, baseada na ameaça de represália violenta à desobediência, e o reconhecimento da autoridade legítima conquistada através da propriedade e consequência das decisões tomadas. O capitão demonstra não saber distinguir a dignidade da autoridade do líder verdadeiro da postura do chefe de milícia que precisa humilhar seus subordinados, seja o ex-ministro Sérgio Moro na famosa reunião ministerial de março de 2020 (Quem não quiser fazer o que eu mando, peça para sair ou vai ser colocado para fora), seja agora com o general que ocupa o Ministério da Saúde, que foi obrigado a se submeter à insânia do celerado e negar a compra da vacina chinesa, afirmando a máxima patrimonialista da barbárie: um manda (quem pode) e o outro obedece (se tem juízo, para não sofrer as consequências). Este constrangedor espetáculo evidencia um prazer sádico de um oficial de baixa patente, recalcado pela história fracassada no exército, contra oficiais graduados que se somaram a sua turma para ganhar um dinheirinho a mais no soldo e aceitam ser humilhados para não ser despedidos.
O general Carlos Alberto dos Santos Cruz, no dia 29 de outubro, classificou como “desrespeito” a atitude de Bolsonaro com as Forças Armadas e a população brasileira.
“O problema não é o tratamento com os militares. Não pode haver diferença de tratamento entre militares e civis. Não pode haver esse tipo de discriminação. Isso aí tem que ser visto no contexto mais amplo. É o desrespeito geral aos cidadãos brasileiros e às instituições. É desrespeito geral, por despreparo, inconsequência e boçalidade”.
A instabilidade psicológica do “rapaz”, que aparenta ter a idade emocional correspondente à de um adolescente, e a sua incontinência verbal provocaram tamanho constrangimento no ex-porta-voz da Presidência da República Otávio Rêgo Barros que o levou a reconhecer que “o poder inebria, corrompe e destrói”. Neste desabafo, Rêgo Barros atribuiu parcela de culpa nesses episódios de falta de decoro aos assessores e aliados, criticando-os por se comportarem como “seguidores subservientes” ao ex-capitão que não aceita posicionamentos diferentes dos seus.
É por essas e outras o Brasil está de volta ao mapa da fome.
Heitor Costa Lima da Rocha, Editor Geral da Revista Jornalismo e Cidadania, é professor do Departamento de Comunicação Social e do Programa de PósGraduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.
O Brasil na contramão: fogo, queimadas e negligência estatal
Por Marcos Costa Lima
A mais ninguém, com algum grau de bom senso, pode parecer que estamos vivendo uma crise ambiental passageira. Os alertas têm chegado de toda parte, dos centros de estudos e pesquisas avançados dos países ricos, da ONU, da UNESCO, das universidades qualificadas e de centenas de Organizações Ambientais idôneas de todo o mundo: “A nossa casa – o planeta - está em Chamas”. Em um breve período de tempo, a questão climática passou a ser considerada como um dos problemas mais importantes do mundo e o aumento da temperatura média no planeta – resultante das ações humanas - tem um efeito irradiador tremendo: aumento e aquecimento das águas dos oceanos, derretimento das geleiras, aumento das secas e processos de desertificação, das enchentes, dos incêndios; perda massiva da biodiversidade; comprometimento da qualidade do ar e das águas. Tudo isto ocorrendo sistêmica e cotidianamente (Ferreira, Leila, 2017; IPCC, 2019).
O historiador indiano Dipesh Chakrabarty (2009) adverte justamente contra a arrogância antropocêntrica, dos que advogam que esta nova força geofísica que vem alterando o mundo é impensada e não intencional, como uma “besta” que os humanos soltaram, mais do que criaram. Longe de escapar dos laços de uma Terra passiva, os humanos são revelados como os criadores de um poderoso processo predatório, que hoje lhes foge do controle.
Na visão antropocêntrica convencional, a cultura humana sempre foi vista como infinitamente criativa e mutável, além de inesgotável, enquanto tudo mais no planeta era entendido como passivo e fixo – simples “recursos naturais”, ou “matérias primas”, também a serem exploradas infinitamente. Dada essa interpretação, os fenômenos sociais como poder social, inteligência ou inovação, jamais poderiam ser entendidos como coisas materiais. Mas para o indiano, a distinção entre ontologias humanas e naturais para ele está no fim.
Um engenheiro de sistemas complexos, chamado Brad Werner, participando de uma secção no encontro da União dos Geofísicos Americanos, em São Francisco 2012, foi muito direto e simples: o capitalismo global “tornou o esgotamento dos recursos tão rápido, conveniente e livre de barreiras que esses ‘sistemas terra-humanos’ estão se tornando perigosamente instáveis em resposta. Sua pesquisa evidencia que todo o nosso paradigma econômico é um permanente problema a ameaçar a estabilidade ecológica” (Naomi Klein 2013).
Estamos aqui para falar dos incêndios no Pantanal, mas não podemos deixar de mencionar que estes reduzem a quantidade de água no planeta. A complexidade está em que à medida que queimamos florestas, a questão da água ampliará sua escassez. Mundialmente, há uma visão generalizada de que a água é um recurso inesgotável. Trata-se, entretanto, de enorme engano porque os recursos hídricos, embora renováveis, são limitados. É importante destacar que, dos 70% da água que compõem o planeta Terra, apenas 2,5% é doce. Destes 2,5%, cerca de 24 milhões km3 (ou 70%) estão sob a forma de gelo (zonas montanhosas, Antártida e Ártico), 30% estão armazenados no subsolo (lençóis freáticos, solos gélidos e outros) representando 97% de toda a água doce disponível para uso humano.
De toda a água doce disponível, apenas 0,4% está em lagos, rios, ou seja, disponíveis para as pessoas usarem. Cerca de 70% da água doce é utilizada na irrigação, um problema adicional, 22% na indústria e apenas 8% no uso doméstico. (Alcoforado, 2015).
Segundo estudos, nos últimos anos, os focos de incêndio passaram a ser desproporcionais, ganhando dimensões nunca antes observadas. Em todo o ano de 2009, a região do pantanal, no município de Cáceres, apresentou 625 focos de incêndio, enquanto que já em 2019 esse número chegou a 21.688, um aumento de 3.000% em uma década.
Nos últimos anos, houve uma mudança nos períodos de ocorrência de focos de incêndio. Antes concentrados entre os meses de agosto e dezembro, o fogo começou a aparecer já no mês de março, devido à redução na quantidade de chuvas. Entre 2009 e 2019, o número de focos de calor no pantanal cacerense passou de 6 para 160.
O Pantanal passa pela sua fase mais crítica das últimas décadas. O bioma enfrenta uma de suas maiores secas da história recente, sofre com o desmatamento e tem o pior período de queimadas desde o fim dos anos 90 (Lemos, 2020).
A atual situação do Pantanal, maior área úmida continental do planeta, preocupa ambientalistas e os commons. O bioma, localizado na Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai (BAP), teve seu principal rio atingindo o menor nível em quase cinco décadas. A chuva foi escassa, o desmatamento cresceu, os incêndios au-
mentaram e a fiscalização por parte do poder público, segundo entidades que atuam na preservação da área, diminuiu. Com os níveis baixos do rio, a quantidade de água que chega ao Pantanal também é reduzida e pouco da planície é inundada.
Um dos fatores associados à falta de chuva no Pantanal e em outros biomas brasileiros é a degradação da Amazônia. “Com a aceleração do desmatamento da Amazônia, ao longo dos anos, o período de chuvas tem encurtado e as secas se tornaram mais severas na região central e sudeste do país”, explica Vinícius Silgueiro, do Instituto Centro de Vida (Lemos, 2020). Um grande problema sistêmico, seja ligado à abertura para a pecuária e a soja, destruindo as matas.
O crescente desmatamento da Amazônia afeta duramente o fenômeno conhecido como “rios voadores”, no qual a corrente de umidade que surge na floresta origina uma grande coluna de água, que é transportada pelo ar a vastas regiões da América do Sul. A Amazônia, segundo Silgueiro, “dá vida a, praticamente, todos os biomas do continente, incluindo o Pantanal. À medida que a floresta vai diminuindo e perdendo suas funções ecológicas, esse ‘serviço ambiental’ que ela presta também vai sendo alterado e se perdendo” (Lemos, 2000).
Segundo o INPE, até o ano passado foram desmatados 24.915 km² do Pantanal, correspondente a 16,5% do bioma. O número equivale, por exemplo, a pouco mais de quatro vezes a área de Brasília, sendo que uma boa parcela do desmatamento é considerada ilegal.
A causa maior de desmatamento da região é o agronegócio, pois hoje sabe-se que 15% do Pantanal virou área de pastagem. Biólogos e agrônomos apontam para o plantio de braquiária e da soja, o que muda o perfil e prejudica a biodiversidade da área. Tudo isto se vê facilitado pela negligência dos governos estaduais e pelo desestímulo que vem de Brasília. As instituições de controle foram desmontadas, o que gera um clima favorável ao desmatamento.
De janeiro a julho deste ano, foram registrados 4.218 focos de incêndio em todo o Pantanal. Nos mesmos meses em 2019, foram 1.475 registros. Os dados são do INPE. Até então, o maior registro no período, desde o início da série histórica do instituto, havia sido em 2009, quando o monitoramento localizou 2.527 focos.
Do primeiro dia deste ano até 4/08, 1.100.000 hectares do Pantanal foram atingidos pelo fogo na área pertencente a Mato Grosso do Sul — que abriga cerca de 65% do bioma no país. Segundo declarações do biólogo André Luiz Siqueira: “Quem põe fogo no Pantanal é o homem. O fogo natural acontece por causa de raios, sempre associado ao período de chuvas. Como não tem chovido, então é claro que o homem é o grande causador disso”, afirma o biólogo.
Um grande problema associado são as comunidades indígenas que ali vivem. “Largados à própria sorte, os índios guatós já perderam quase todo o seu território para o fogo que devasta o Pantanal” (Maisonnave e Almeida, 2020). A população mais antiga da região sofre com a escassez de água, falta de luz, assistência médica precária e desemprego. Tiveram 83% de sua área destruída nas últimas semanas, uma área equivalente a 16 mil hectares. Plantações de banana, mandioca, cana, abacaxi e outros produtos estão destruídas.
“Espia como está a nossa natureza, a nossa saúde. Estamos descobertos de tudo, esquecidos por tudo”, diz a liderança Sandra Guató, 63. “O fogo devastou também dentro de mim, eu sinto uma angústia.” (Maisonnave e Almeida, 2020)
Marcos Costa Lima é Professor do Programa de PósGraduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco.