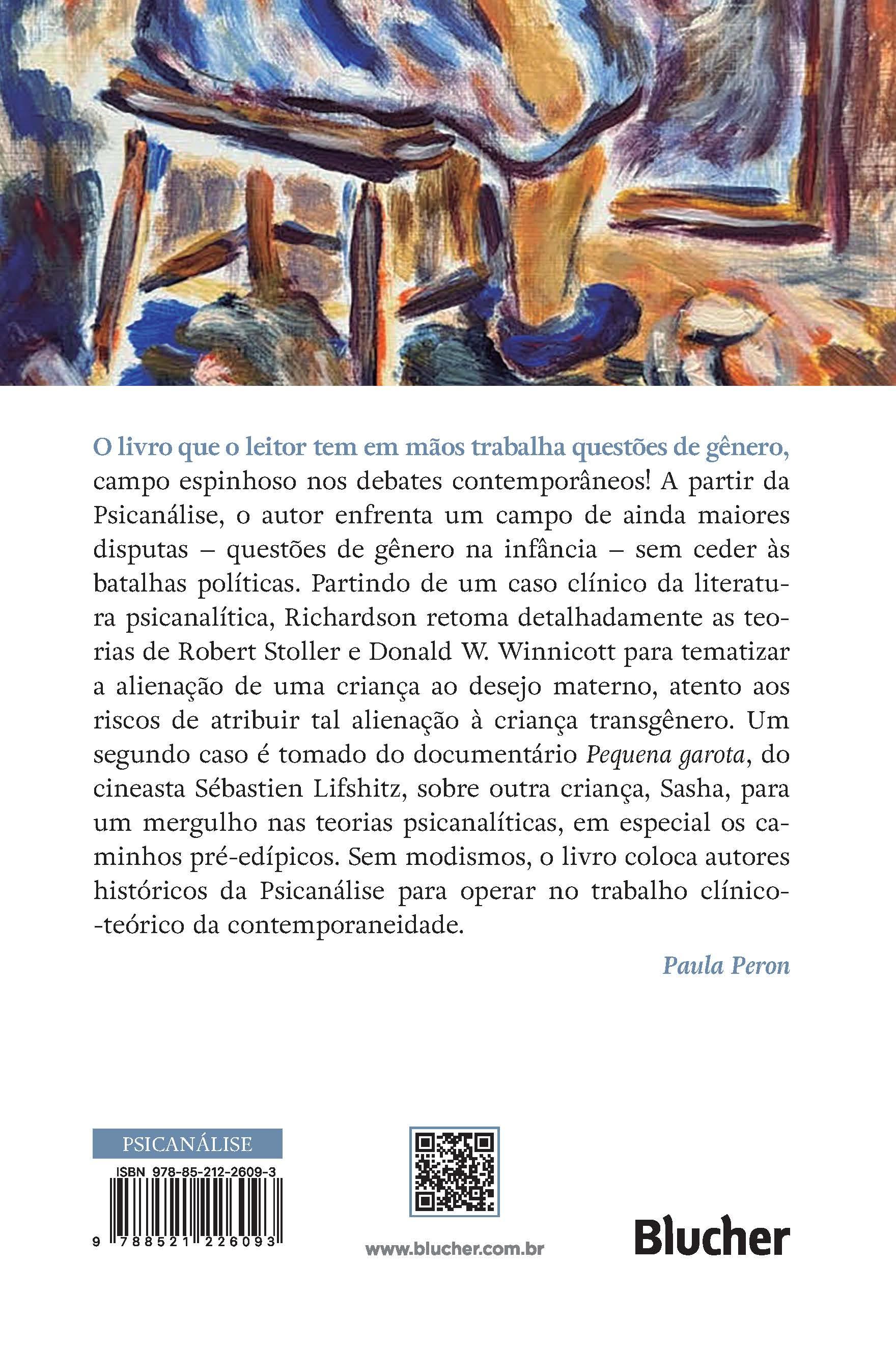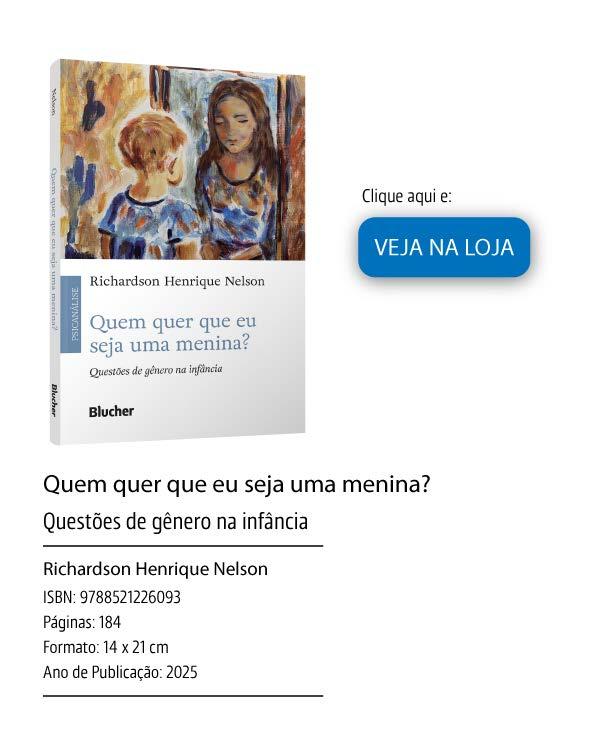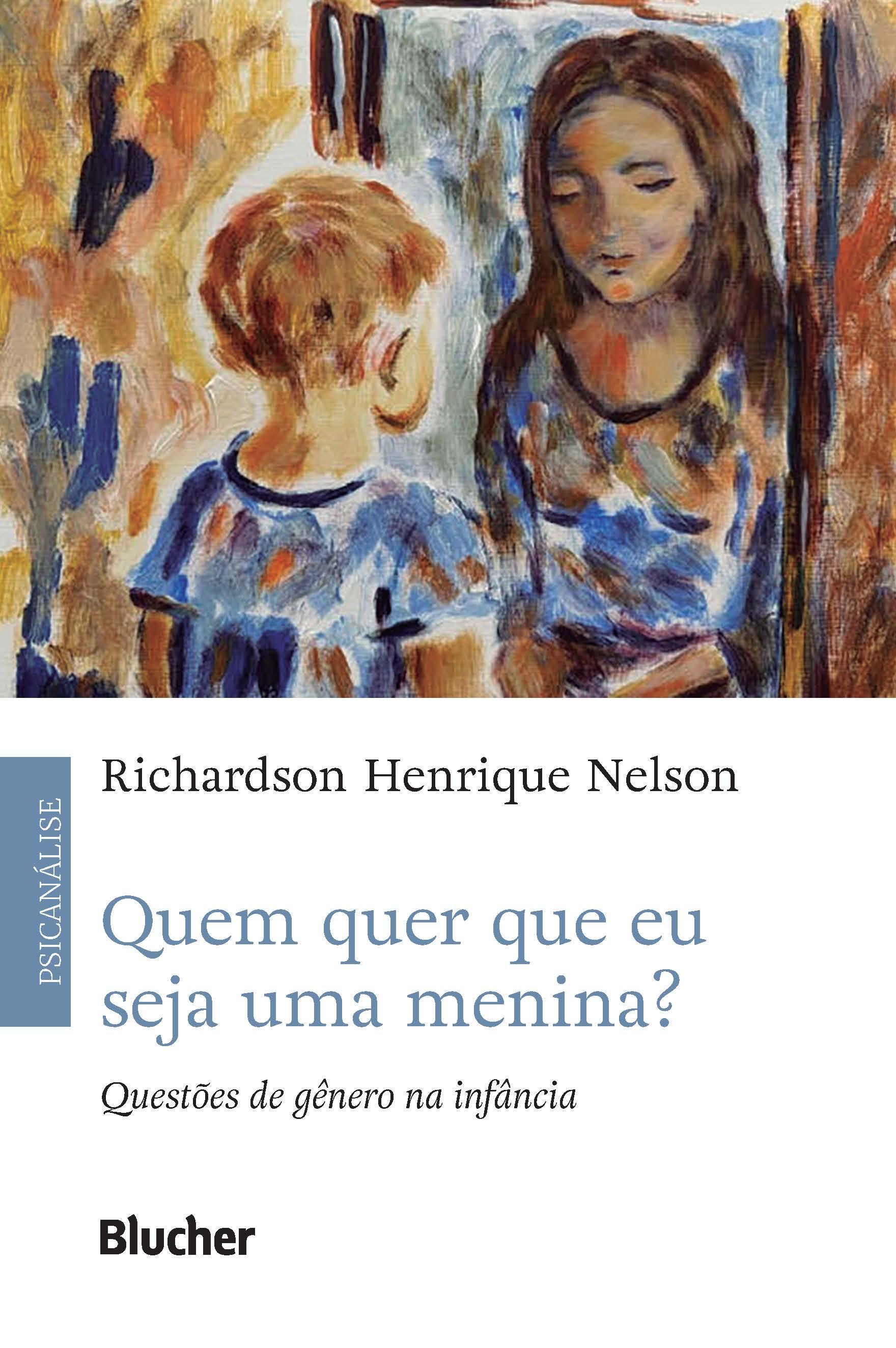
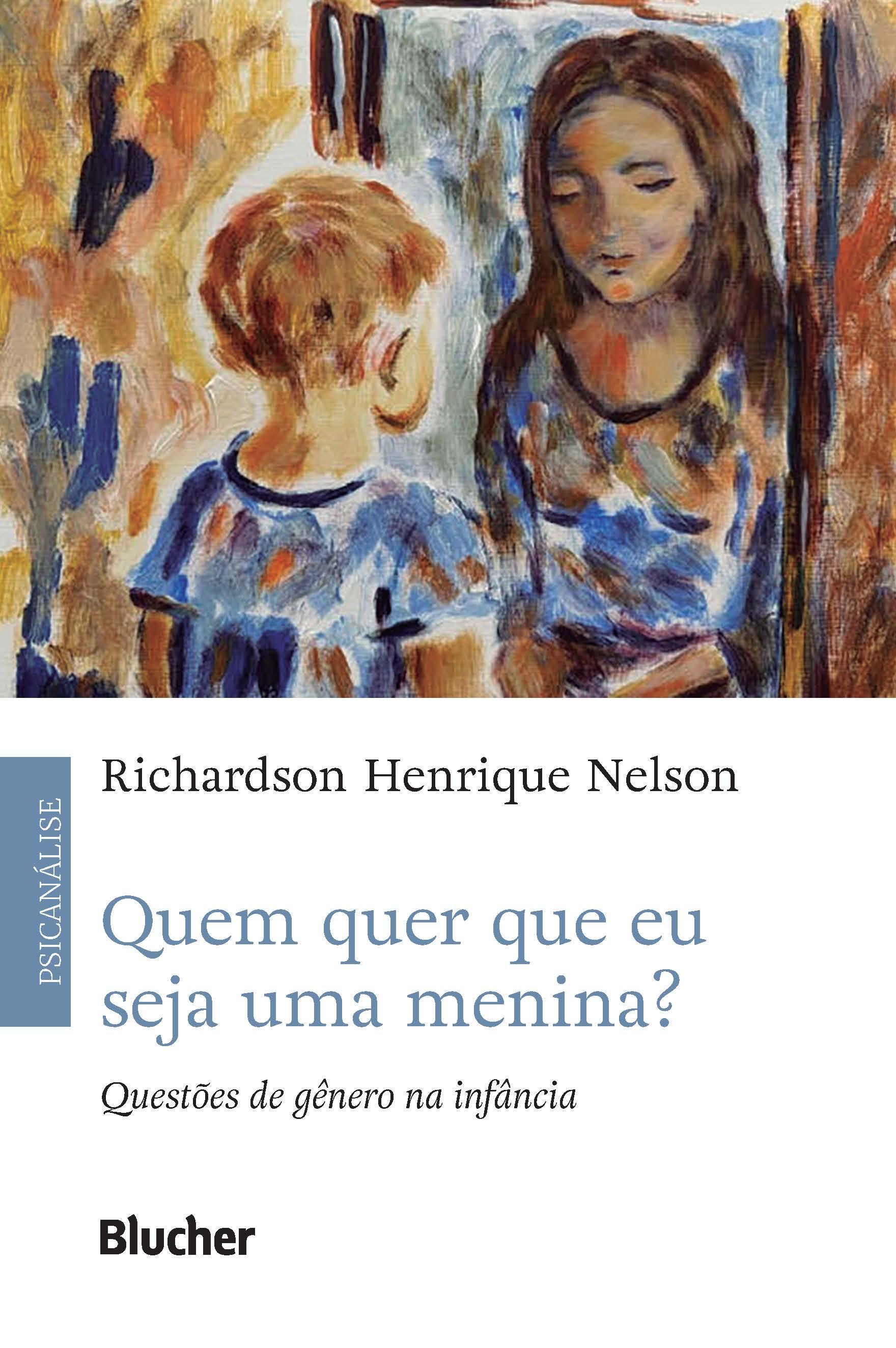
QUEM QUER QUE EU SEJA
UMA MENINA?
Questões de gênero na infância
Richardson Henrique Nelson
Quem quer que eu seja uma menina? Questões de gênero na infância
© 2025 Richardson Henrique Nelson
Editora Edgard Blücher Ltda.
Publisher Edgard Blücher
Editor Eduardo Blücher
Coordenação editorial Rafael Fulanetti
Coordenação de produção Ana Cristina Garcia
Preparação e revisão de texto Equipe de produção
Diagramação e capa Juliana Midori Horie
Imagem da capa “Quem quer que eu seja?”, de Gisele Sperb, 2025 – 40,6 x 30,5 cm, acrílica sobre papel de algodão textura linho
Rua Pedroso Alvarenga, 1245, 4o andar 04531-934 – São Paulo – SP – Brasil Tel.: 55 11 3078-5366 contato@blucher.com.br www.blucher.com.br
Segundo o Novo Acordo Ortográfico, conforme 6. ed. do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, Academia Brasileira de Letras, julho de 2021.
É proibida a reprodução total ou parcial por quaisquer meios sem autorização escrita da editora.
Todos os direitos reservados pela Editora Edgard Blücher Ltda.
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Heytor Diniz Teixeira, CRB-8/10570
Nelson, Richardson Henrique Quem quer que eu seja uma menina? : questões de gênero na infância / Richardson Henrique Nelson. –São Paulo : Blucher, 2025.
184 p. : il.
Bibliografia
ISBN 978-85-212-2609-3 (Impresso)
1. Psicanálise. 2. Análise da criança. 3. Crianças transexuais. 4. Constituição do sujeito. 5. Identidade (Psicologia). 6. Alienação parental. 7. Relações de pais e filhos. 8. Estudos de gênero na psicanálise. 9. Clínica psicanalítica. I. Título.
CDU 159 964 2
Índice para catálogo sistemático: 1. Psicanálise CDU 159.964.2
Conteúdo
Prefácio – A problemática complexa dos indivíduos trans 13
Alfredo Naffah Neto
1. Protagonismo da figura materna 33
2. As origens do comportamento transgênero de B. e Sasha 67
3. Uma possível masculinidade ameaçada 111
4. Demanda de amor e hostilidade pela mãe em B. e Sasha 137
Considerações
Posfácio – Psicanálise em devir: um convite ao inacabado 173
Alexandre Patricio de Almeida Referências
1. Protagonismo da figura materna
Foco na mãe de Sasha. A câmera posicionada ao lado do interlocutor convida o espectador à escuta atenta, colocando aquele que assiste ao filme quase no papel de um duplo do psicanalista. A mãe de Sasha diz:
E aí, um dia, ele me pediu um vestido. Fomos comprar o vestido. Eu fiquei constrangida. Senti vergonha na loja. Não me orgulho disso. Fiquei com vergonha e com medo do que as pessoas pensariam. Aí, a Sasha experimentou o vestido [faz um certo maneirismo com a cara, se gabando do gesto da criança, com misto de orgulho e alegria]. Era um vestido da Minnie. Ela se olhou no espelho de vestido, com tanta... com tanta felicidade, que a opinião dos outros já não importava. (Lifshitz, 2020, 00:11:09 – 00:11:39, colchetes meus)1
1 Tradução do francês para o português presente na legenda do próprio filme disponibilizado na plataforma Google Play. É importante ressaltar que, em francês, não se usa o artigo definido ‘a’ ou ‘o’ na frente de nome próprio como em português.
34
Quem quer que eu seja uma menina? Questões de gênero na infância
Corta para a cena do piquenique com a família de Sasha aparentemente sozinha num parque no interior da França. Close nos pais, na Sasha e nos irmãos. A cena volta para a mãe que diz:
Eu me questionei se a culpa era minha por ter desejado tanto uma menina. Depois, pensei que talvez, por eu ter perdido algumas meninas, tenha sido a forma que Sasha encontrou de sobreviver… fazendo todo mundo achar que ele era menino. Os testículos não tinham descido… Essas coisas existem. Por que ele é o único dos meus filhos que tem um nome unissex? No fim das contas, acho que era para ser. (Lifshitz, 2020, 00:12:09 – 00:12:35)2
Abre para cena de Sasha como bebê recém-nascido no colo, acariciado possivelmente por sua mãe.
Nesses pequenos trechos, a mãe de Sasha – criança identificada como transgênero no documentário – explicita e elucubra sobre o quanto a sua vontade de ser mãe de uma menina e, as várias tentativas anteriores de ter uma criança biologicamente mulher, pudessem ter contribuído para que Sasha acreditasse agora, aos 7 anos, ser uma menina. Como forma de apaziguar e reparar a culpa que sente, a mãe se agarra a uma fantasia na qual Sasha tivesse vindo ao mundo em forma de menino, como a única maneira de sobrevivência, a única maneira de ser. O que sobrevive certamente na sua fala é o desejo intenso, externo e muito anterior ao nascimento de Sasha de ter uma menina. Ao experimentar o vestido da personagem da Disney Minnie na loja, Sasha se depara com uma mãe que, mesmo envergonhada, se vangloria da atitude da criança de se vestir literalmente de menina. Na verdade, Sasha enroupava em seu corpo não um simples vestido, mas sim a vontade da mãe e o credo de que realmente era uma menina.
2 Idem.
2. As origens do comportamento transgênero de B. e Sasha
O presente capítulo relata e analisa criticamente cada caso, articulando os conceitos winnicottianos apresentados no capítulo anterior. O objetivo é investigar evidências que corroboram a hipótese de que ambos desenvolveram um comportamento transgênero por meio de um falso self patológico, como resposta ao desejo inconsciente da mãe de ter uma menina em vez de um menino.
Exploro como as personalidades transgênero de B. e de Sasha podem ser consideradas construções de falso self, resultado dos avanços inconscientes da vontade materna de não separação. Investigo possíveis exemplos de elementos patológicos desse protagonismo materno e destaco as prováveis respostas e mecanismos de defesa do Eu nessas crianças, apontando o não respeito ao seu gesto espontâneo e a imposição do desejo materno, que geram falhas ambientais significativas no processo de desenvolvimento emocional.
Caso B.
Enfim, chegou o momento! Foi uma gravidez muito planejada, que aconteceu depois de 4 anos de casamento, várias tentativas regadas a
68 Quem quer que eu seja uma menina? Questões de gênero na infância
um tratamento médico intenso, que durou mais de um ano, para que tudo desse certo. A mãe tinha certeza de que o primeiro filho seria uma menina. O grau de convicção era tão grande que a mãe recusou, durante toda a gestação, a possibilidade da confirmação do sexo do bebê pela ultrassonografia. Seria uma menina! O enxoval foi preparado com muito cuidado. Cada detalhe do quarto pensado. Tudo muito curtido e desejado pelo casal. Eis que chega o momento do parto. O pai acompanha tudo no centro cirúrgico. Sempre esteve ao lado da esposa em todos os momentos. Parto normal. O pai lembra: “Eu não sei... eu fiquei... não foi vergonha... eu fiquei com receio de falar...” (França, 2017, p. 36). Era um menino!
B. foi levado à análise pelos seus pais já com 4 anos e 7 meses de idade porque gostava de se vestir com as roupas e adornos da mãe, de brincar com bonecas e por ter um comportamento feminino; fantasiava ser uma menina, a ponto de usar papel higiênico na cueca como se fosse um absorvente íntimo. Fato esse que serviu como gatilho definitivo para a mãe buscar uma psicóloga para o filho.
Mesmo havendo um desejo ávido da mãe em ter uma menina antes e durante toda a gestação, na anamnese, os pais contam que, quando souberam que era um menino, a mãe disse não ter se importado muito e “retrucou que isso foi uma bobagem dele [pai] e que, apesar de o bebê não ser uma menina, ela até achava que tinha aceitado bem a surpresa e nunca mais pensara no assunto” (França, 2017, p. 36, colchetes meus).
Durante a análise de B., a psicanalista mostra que, na verdade, o desejo da mãe de que seu filho fosse uma menina sempre esteve ali. França promove a hipótese, que se corrobora ao longo da jornada analítica da criança, de que o desejo de ter uma menina continuava operando no inconsciente materno, num processo de recalcamento que produzia seus efeitos não só na constituição psíquica do filho (Naffah Neto, 2024), mas também no ambiente em volta. A posição passiva do pai diante das vontades da mãe permitia igualmente que
3. Uma possível masculinidade ameaçada
No capítulo anterior, apresentei detalhadamente as evidências que visam sustentar a hipótese de que tanto B. quanto Sasha desenvolveram uma identidade transgênero, como resultado da formação de um falso self patológico. Essa condição é derivada de um elemento feminino puro, cindido do restante de suas personalidades, que surge em resposta ao desejo intenso, invasivo e inconsciente das mães de que eles fossem meninas, muito antes de seus nascimentos.
Tendo esses elementos como pano de fundo, pretendo agora avançar mais um passo. Lanço mão de uma nova hipótese da qual, com os empecilhos impostos pelas mães de B. e de Sasha no processo de desidentificação, não houve espaço para a elaboração da angústia de simbiose, gerando assim uma forte ameaça à conquista da masculinidade. Esse fenômeno resultaria na não entrada de B. e de Sasha no complexo de Édipo, tornando-o suspenso e marcado pela exclusão definitiva da figura do pai. Isso manteria mães e filhos amalgamados e fusionados pelo sentimento de ambivalência: a demanda de amor pela mãe e hostilidade inconsciente da criança pela condição da não separação imposta pela figura materna.
Para sustentar essa nova hipótese, pretendo me valer de alguns conceitos da teoria de Robert J. Stoller. Psiquiatra, psicanalista e
112 Quem quer que eu seja uma menina? Questões de gênero na infância
pesquisador estadunidense, Stoller dedicou boa parte da sua vida à pesquisa sobre a teoria psicanalítica da sexualidade na Universidade da Califórnia, sendo o primeiro a cunhar o conceito de identidade de gênero no sentido psíquico e social, se distanciando da ideia de gênero associado ao sexo biológico. Clínico e pesquisador por excelência, sempre desenvolveu seus estudos a partir do que observava por meio da sua prática clínica e de estudos empíricos.
Da sua relevante produção teórica, usarei os conceitos de angústia de simbiose, falha rumo à conquista da masculinidade, trauma infantil da não separação da mãe e a nova dinâmica do complexo de Édipo proposta pelo autor, marcada pelas diferenças em relação ao pensamento clássico freudiano. Pretendo também, em certa medida, recorrer ao conceito stolleriano de mecanismos de defesa do Eu da ordem do perverso, atravessado pela hostilidade à figura materna. Friso que o farei “em certa medida”, pois terei uma tarefa importante de propor um alargamento das noções originais de perversão e hostilidade usadas originalmente por Stoller para analisar os casos de B. e de Sasha. Isso porque não tenho a intenção de classificar a identidade transgênero dos casos estudados aqui em uma estrutura psíquica perversa, o que seria um equívoco conceitual de minha parte.
Faço a escolha por Stoller por encontrar, em certo sentido, alguns pontos de conexão e aproximação com a visão psicanalítica de Winnicott, uma vez que Stoller faz referências, muitas vezes em seus trabalhos, à linhagem psicanalítica inglesa, em especial a Masud Khan, principalmente nos trabalhos clínicos e teóricos relacionados ao entendimento das perversões. Além disso, Stoller também enfatiza em sua teoria o papel fundamental da mãe no desenvolvimento saudável da criança, bem como a importância dos conceitos de verdadeiro e falso selves como avanço significativo na prática clínica. (Stoller, 2014, p. 175). A articulação e a aplicação das ideias de Stoller à análise, juntamente com minha interpretação dos casos de B. e de Sasha, à semelhança do que fiz com os conceitos de Winnicott nos
4. Demanda de amor e hostilidade pela mãe em B. e Sasha
Neste capítulo, explorarei os conceitos de Stoller ao analisar os casos de B. e de Sasha, destacando os sentimentos de raiva, medo e hostilidade que os infantes supostamente desenvolveram em relação às suas mães e ao ambiente. Em um movimento ambivalente, as crianças respondem aos anseios e vontades inconscientes da mãe, buscando conquistar seu amor, mas também experimentam raiva em relação à sua identificação inicial com ela, têm medo de não conseguirem escapar de sua influência e sentem um desejo de vingança, pois a culpam por colocá-las nessa situação.
Nos casos de B. e Sasha, a hipótese é que a conquista da masculinidade foi dificultada pelos obstáculos impostos pelas mães no processo de desidentificação, pela suspensão do complexo de Édipo e pela ausência da figura paterna. Esse processo resulta em um trauma infantil completo que pode, potencialmente, alimentar sentimentos ambivalentes de amor e ódio, constituindo um terreno fértil para o desenvolvimento de mecanismos de defesa da ordem do perverso na vida adulta.
O trauma se converte em hostilidade
Cerimônia de casamento. A criança comandava a direção. O roteiro sempre envolvia a “mãe/aranha”, aquela que fazia uma teia e prendia
138 Quem quer que eu seja uma menina? Questões de gênero na infância a todos. B. sempre era a noiva (uma boneca de pano), que se casava enrolada numa toalha de rosto e uma peruca. Tinha o noivo, outro boneco de pano preparado pela psicanalista; o pai da noiva, representado por um toquinho de madeira; os daminhos, um menino e uma menina, nomeados “os filhos da noiva” e, claro, o padre, que celebraria o casamento, caracterizado por um tubo de cola e que ganhava vida na interpretação da psicanalista.
Após a celebração do matrimônio, a noiva virava uma vampira, maltratando o marido inclusive com agressões físicas, pegando os filhos e os colocando debaixo da saia, não deixando o pai chegar perto. A psicanalista interpreta: “A mãe-aranha armou a teia, o pai caiu, fez filhos nela e agora que ela não precisa mais dele, vai matá-lo” (França, 2017, p. 104). B. sorri sadicamente e faz a noiva arremessar o noivo. Na sequência, uma cena revela o marido/pai na cama batendo com um pau no meio das pernas da “daminha” que, mesmo gritando de dor, segue apanhando. A noiva, representada por B., fica brava e “daminho” arranca a dentadas a cabeça do pai, que depois presta ajuda, levando-o ao hospital e colando seu pescoço com fita adesiva.
Essa foi uma das dramatizações que marcaram o segundo semestre da análise de B., e que mais pareciam verdadeiros ensaios teatrais, pois se repetiam e ganhavam riqueza de detalhes à medida que eram representadas ao longo das sessões. Por meio dessas atuações, a psicanalista propunha a ideia de que a mãe tinha como ambição ser a única proprietária dos seus filhos, além de reivindicar a posse da alma de B., revelando uma vontade de drenar e vampirizar tanto o marido quanto a criança:
O riso sádico que se seguiu à minha interpretação [a mãe-aranha que armou a teia. . .] era muito mais um riso angustiado, nervoso, e que talvez anunciasse o efeito psíquico sobre ele dessa mãe vampiresca: ficava mergulhado em angústias muito primitivas, angústias de despedaçamento,
Considerações finais
Durante a elaboração desse texto, chamou a minha atenção como o tema transgênero na infância suscitava, para quem eu comentava sobre o meu trabalho de pesquisa, uma certa inquietude. Um incômodo inicial sempre surgia, seguido de uma necessidade, muito grande e imediata, de se posicionar acerca do assunto, fossem as pessoas do meio psicanalítico ou não.
Por um bom tempo, acreditei que isso se devia ao fato de que o tema transgênero estivesse em voga e, com a maior visibilidade, as pessoas tinham passado a se sentir mais autorizadas, ou até, socialmente compelidas a falar e a opinar sobre a questão. Mesmo quando não tivessem, necessariamente, um lugar de fala ou um conhecimento teórico que as habilitasse, ainda mais, a emitir opiniões e certezas.
Ao estudar os casos de B. e de Sasha e, concomitantemente, me aprofundar nas teorias científicas de Freud, Winnicott, Stoller e outros importantes autores da psicanálise, cujas postulações me ajudaram a pensar o tema deste livro, percebi que esse desconforto que as pessoas sentiam era algo mais amplo e profundo. Nada tinha a ver com a maior visibilidade das discussões sobre a condição transgênero atualmente.
166 Quem quer que eu seja uma menina? Questões de gênero na infância
Falar sobre o intrincamento entre a infância, o comportamento transgênero e a possibilidade de ser, é, de algum modo, falar sobre o desenvolvimento emocional humano. O complexo processo de identificações primárias, pela qual todos passamos, independentemente de sexo, identidade de gênero ou prática sexual, é algo que nos marca ao longo da nossa evolução como indivíduos. Em outras palavras, pensar sobre B. e Sasha é também refletir sobre a condição humana em todos nós. É, por isso, que o assunto desperta tanto interesse nas pessoas. Uma inquietação que considero positiva, mesmo quando se apresenta de forma um pouco inquisidora e, às vezes, com certo viés ideológico.
Como em um processo regressivo, a temática nos traz, mesmo que inconscientemente, as situações pelas quais passamos na infância, na construção da nossa identidade sexual, suscitando todas as incógnitas, fantasias, descobertas e sentimentos que surgiram ao longo desse período crucial do desenvolvimento da nossa vida psíquica. Qual menino nunca se pegou mexendo na gaveta de roupas íntimas da mãe, na bolsa de maquiagem ou experimentando seus sapatos de salto alto? Qual menina nunca se viu admirando um objeto do pai, como um boné, uma gravata ou, até mesmo, tentando usar itens de trabalho como uma pasta ou uma caixa de ferramentas?
Comigo não foi diferente. Lembro-me, quando era criança, de experimentar escondido um colar que a minha mãe guardava na gaveta da sua mesinha de cabeceira. Ela o usava pouco, mas o conservava com muita estima – sim, fui eu quem quebrou o fecho do colar na ânsia de tirá-lo antes que alguém me visse usando-o e desfilando no seu quarto. Desculpe, mãe!
Apesar do objetivo principal do estudo ter sido analisar o caso de B. e de Sasha sobre a perspectiva winnicottiana e stolleriana, ele acabou por fomentar perguntas que envolvem a construção da identidade primária e sexual na sua totalidade, independentemente da questão transgênero. Ao estar seguro de que deixo, com esse trabalho,
Posfácio
Psicanálise em devir: um convite ao inacabado
Alexandre Patricio de Almeida1
Somos como um pôr do sol sem óculos de sol. O nosso brilho embaça, cega quem nos olha e assusta. (Villada, 2021, n.p.)
Ao finalizar a leitura deste livro – o qual tive a honra de acompanhar desde o início, participando, inclusive da banca de defesa da dissertação de mestrado que o originou –, é impossível não ser atravessado por uma multiplicidade de perguntas, sensações e reflexões. O texto que o encerra é, ele próprio, um convite ao questionamento, ao movimento interno de revisitar não somente algumas das nossas principais teorias psicanalíticas, mas também as narrativas que construímos sobre a condição humana, sobre o desejo e sobre o que significa existir no mundo.1
1 Psicanalista, membro da International Winnicott Association. Mestre e doutor em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Autor de diversos artigos científicos e do livro Perto das trevas: a depressão em seis perspectivas psicanalíticas (Blucher, 2022), além do best-seller Psicanálise de boteco: o inconsciente na vida cotidiana (Paidós, 2022), entre outros. Criador do podcast Psicanálise de Boteco. Finalista do Prêmio Jabuti, em 2023.
174 Quem quer que eu seja uma menina? Questões de gênero na infância
Em tempos de polarizações e opiniões rápidas, um estudo que deixa mais dúvidas do que certezas é um alento à reflexão e um lembrete da própria natureza da psicanálise: uma ciência que não oferece verdades definitivas, mas que se permite permanecer em devir.
Em um texto recente, escrevi:
Outro aspecto importante é a questão da patologização da transexualidade. A medicalização da experiência trans impôs um rótulo psiquiátrico, levando à criação de diagnósticos como “transtorno de identidade de gênero” ou “disforia de gênero”. Embora isso tenha permitido o acesso a certos tratamentos médicos, também trouxe limitações significativas. A patologização impõe uma visão reducionista, que busca enquadrar as complexas experiências de gênero em critérios clínicos rígidos. Isso gerou uma espécie de “produção” de pacientes que tentam se adequar a esses critérios, como apontam alguns estudos. Os chamados “verdadeiros transexuais” são frequentemente definidos por características específicas, como a aversão a seus genitais ou o desejo absoluto pela cirurgia de redesignação sexual – ou seja, trata-se, pois, de uma definição geral que não se aplica a todos os casos. (Almeida, 2024, p. 38)
Logo, ao definir o que seria um “transexual verdadeiro”, o campo médico-jurídico desqualifica a vivência de quem não se enquadra nesse modelo, criando uma hierarquia dentro da própria comunidade trans.
Essa visão patologizante foi historicamente adotada por muitos psicanalistas, especialmente aqueles influenciados pela psicanálise lacaniana (Porchat, 2014). Nos anos 1990 e no início do século XXI, a transexualidade era frequentemente diagnosticada como uma psicose, com base na avaliação da relação do sujeito com a castração