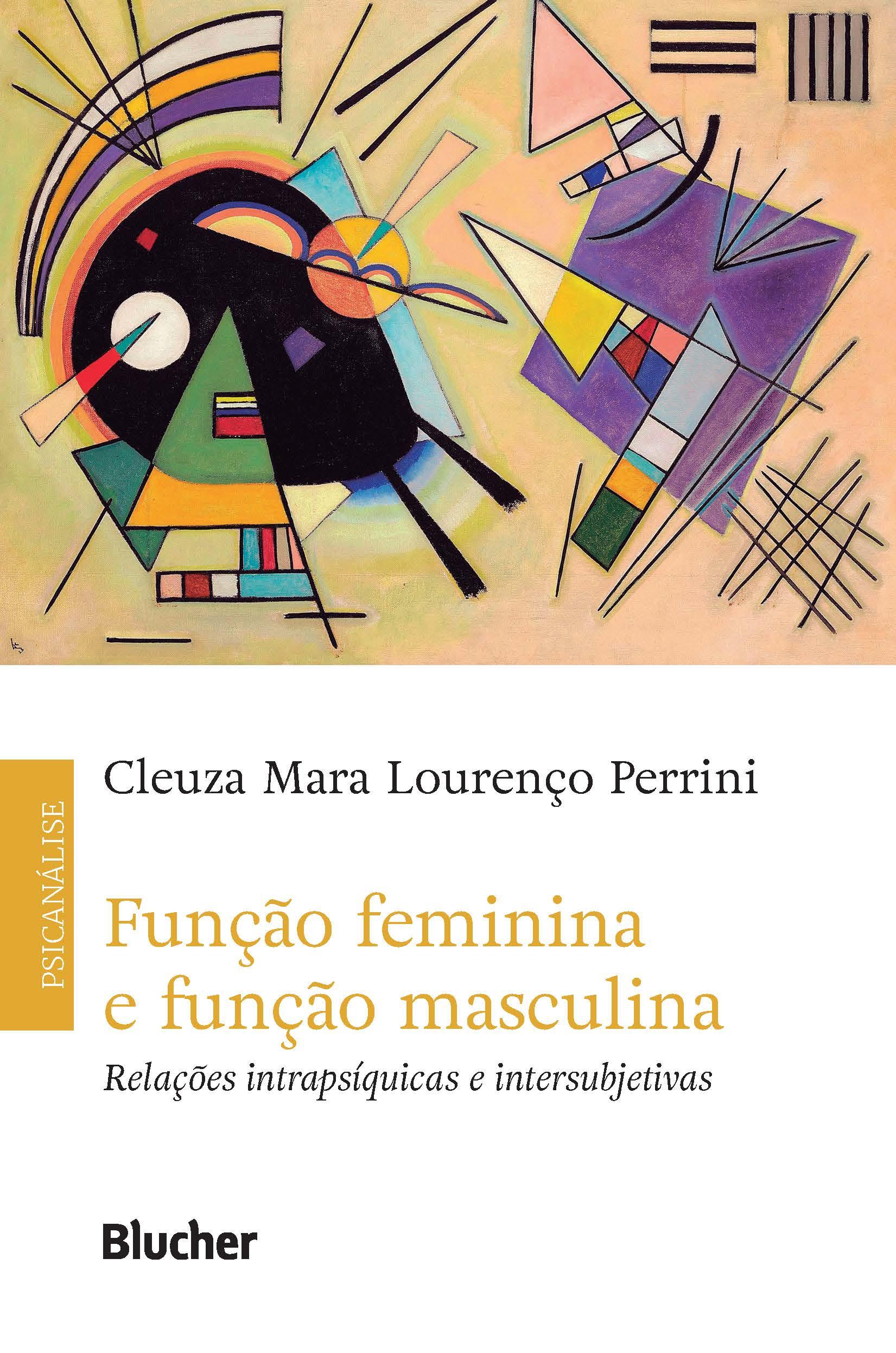
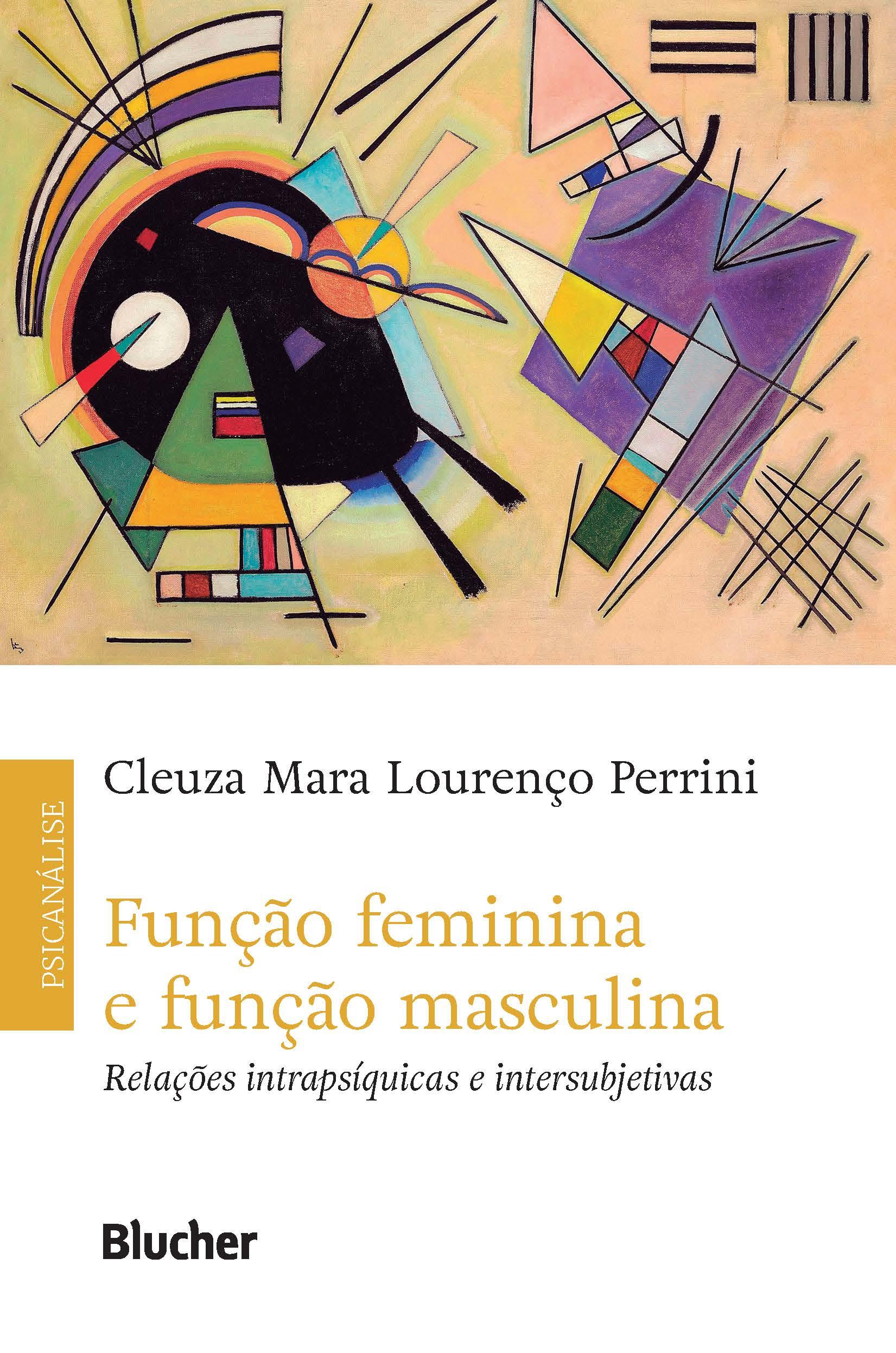
FUNÇÃO FEMININA E FUNÇÃO MASCULINA
Relações intrapsíquicas e intersubjetivas
Cleuza Mara Lourenço Perrini
Função feminina e função masculina: relações intrapsíquicas e intersubjetivas
© 2025 Cleuza Mara Lourenço Perrini
Editora Edgard Blücher Ltda.
Publisher Edgard Blücher
Editor Eduardo Blücher
Coordenação editorial Rafael Fulanetti
Coordenação de produção Ana Cristina Garcia
Preparação e revisão de texto Equipe editorial
Colaboração Mireille Bellelis
Diagramação Mônica Landi
Capa Juliana Midori Horie
Imagem da capa Pintura abstrata “Preto e violeta” (Black and Violet), criada por Wassily Kandinsky em 1923
Rua Pedroso Alvarenga, 1245, 4o andar 04531-934 – São Paulo – SP – Brasil Tel.: 55 11 3078-5366 contato@blucher.com.br www.blucher.com.br
Segundo o Novo Acordo Ortográfico, conforme 6. ed. do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, Academia Brasileira de Letras, julho de 2021.
É proibida a reprodução total ou parcial por quaisquer meios sem autorização escrita da editora.
Todos os direitos reservados pela Editora Edgard Blücher Ltda.
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Heytor Diniz Teixeira, CRB-8/10570
Perrini, Cleuza Mara Lourenço Função feminina e função masculina : relações intrapsíquicas e intersubjetivas / Cleuza Mara Lourenço Perrini. – São Paulo : Blucher, 2025.
192 p. : il. Bibliografia
ISBN 978-85-212-2652-9 (Impresso)
ISBN 978-85-212-2649-9 (Eletrônico – PDF)
ISBN 978-85-212-2650-5 (Eletrônico – Epub)
1. Psicanálise. 2. Psicanálise e mulheres. 3. Estudos de gênero na psicanálise. 4. Subjetividade. 5. Clínica psicanalítica. I. Título.
CDU 159.964.2
Índice para catálogo sistemático: 1. Psicanálise
CDU 159.964.2
PARTE I
1. Algumas considerações sobre o feminino↔masculino no interior da vida psíquica 23
2. Medusa – Função feminina: conter, mediar, intuir e proteger 45
3. O feminino em nós, uma experiência interminável 65
4. O masculino em nós, uma almejada e ameaçadora
5. Penélope e a odisseia do feminino interminável
PARTE II
6. O nascer do outro na mente ↔ o nascer da própria mente: antes… agora… e depois? 107
7. Dor psíquica: ficção ou realidade 127
8. Os retirantes, de Cândido Portinari: o esforço para ser humano é o que nos torna vivos 143
9. Associações estéticas como representação do mundo mental sem palavras 151
10. Sobre o significado clínico da experiência estética: a beleza poderia ajudar? 163
11. A transitória igualdade e a incerta diferença 173
1. Algumas considerações sobre o feminino↔masculino no interior da vida psíquica1
Penélope
E então se sentam lado a lado para que ela lhe conte a odisseia da espera. Marques, 2021, p. 142 Ulisses Escuta. Sua odisseia da volta está escrita na chama de seu olhar.
A autora
1 Publicado em 2015 na Revista Brasileira de Psicanálise, 49(4), 155-168.
Nossa experiência humana de convívio torna-se mais complexa pela presença do componente dinâmico da ambivalência, bem como do binômio da completude/incompletude (complementariedade), entre tantas outras questões. Para abordar o tema proposto, procurarei descrever o interjogo entre as funções feminina e masculina da personalidade, que passam por experiências sensório-fisiológico-anatômicas, em conjunto com as socioculturais. Estas deixam marcas indeléveis, expressas no exercício da vida, por meio de uma sofisticada interação com os fenômenos psíquicos inter e intrassubjetivos, presentes nas relações humanas, como nos aponta Freud (citado por Sandler, 1999) quando escreve sobre sexualidade: “uma função natural onde realidade material e psíquica estão constantemente conjugadas” (p. 461). Convém igualmente frisar que Freud (1905/1996) considerou ser a bissexualidade um elemento fundante da vida sexual. Como o que aqui proponho não é uma questão de gênero, nem de genitalidade, essa colocação pode nos levar ao conceito da existência de uma “bissexualidade psíquica” (Chasseguet-Smirgel, 1975), correspondente a mesclas de elementos ativos e receptivos, independentes de caracteres biológicos.
Nessa parte primeira do trabalho, procuro fazer um corte na altura dos fenômenos apreensíveis, contextualizando-os, e, na segunda, procuro integrá-los no que tange o convívio das funções feminina e masculina, analiticamente, no interior da vida psíquica. Para esse propósito alio-me a Bion (1963/2004) que sugere que o embrião da vida psíquica ocorre com a interação do feminino (♀) e do masculino (♂) na mente, ao transformar o até então conteúdo (ocorrido na relação), em continente-contido (♀♂). Os poemas da epígrafe, “Penélope e Ulisses”, procuram expressar a união desse fenômeno, apreensível por meio do encontro emocional vivido por ambos.
Anatomia
Determo-nos sobre questões anatômicas sem nos esquecermos do vértice psicofísico, permite-nos deparar com algumas surpresas. Por
2. Medusa – Função feminina: conter, mediar, intuir e proteger1
Antes do mito propriamente dito, a Medusa sempre me atraiu, como figura estética. No entanto, o que encontrava como seu significado, de petrificar quem a fixasse com o olhar, me provocava afastamento e recusa.
Atribuo essa repulsa ao fato de não assimilar o que dela se dizia e preferir permanecer com o que ela me evocava, instigando-me por fim a “encarar” o meu genuíno interesse, com menos temor de me petrificar. O intuito de romper esse pacto mortífero, por meio do enfrentamento, buscou preservar o embrião da reciprocidade estética a fim de possibilitar sua ressignificação (Sapienza, 2006).
Começo com Perseu, que foi convocado para decapitar Medusa com a ajuda dos espíritos de Hermes e Athena, que lhe forneceram os meios necessários para cumprir a promessa. Athena lhe ofereceu um
1 Publicado em 2020 no Jornal de Psicanálise, 53(98), 257-272.
escudo semelhante a um espelho, e o aconselhou a não olhar a Medusa de frente, pois seria petrificado imediatamente; o olhar devia ser indireto, mediado pelo escudo, pelo qual visualizava sua imagem. Hermes lhe dá sandálias aladas e uma espada.
Medusa era a única mortal das três Górgonas, “demônio-feminino de olhar terrível” (Brandão, 1997, p. 470). Seus olhos flamejantes e o olhar penetrante eram espantosos e temidos não só pelos homens, mas também pelos deuses. Vale apontar que, em momento anterior da narrativa, o mito contempla o fato de que Poseidon, fascinado que estava pela beleza de Medusa, violou-a dentro do templo de Athena, e a engravida. Indignada pela profanação do seu santuário, Athena pune a concorrente transformando-a em Górgona. Esse ato culmina por encerrar os filhos concebidos com Poseidon dentro dela.
Para realizar a tarefa que lhe cabia, Perseu pairou acima dos três monstros, que dormiam, e, sem olhá-la diretamente, refletiu a cabeça de Medusa no escudo, conseguindo decapitá-la. De seu pescoço ensanguentado saíram os dois filhos: o cavalo Pégaso e o gigante Crisaor. O sangue que escorreu do pescoço do monstro foi recolhido pelo herói, pois esse sangue tinha propriedades mágicas: o que correu da veia esquerda era um veneno mortal, instantâneo; o da veia direita era um remédio salutar, capaz de ressuscitar os mortos.
Ao retornar vitorioso, Perseu devolveu as sandálias aladas, o alforje e o capacete a Hermes e a cabeça de Medusa a Athena, que a colocou no centro de seu escudo.
Algumas reflexões com base na clínica
Tamara chegou como quem chega do nada. De compleição física de impor respeito, se escondia encurvada no próprio corpo. Lentificada no andar e na fala, apresentou-se como “deprimida”. Jovem senhora com feição circunspecta, olhar assustado, cabelo escorrido e ralo
3. O feminino em nós, uma experiência interminável1
Adler colocou em uso, para o homem, a apropriada designação de “protesto masculino”; mas penso que “rejeição da feminilidade”, desde o início, teria sido a caracterização exata desse traço notável da psique humana.
Sigmund Freud, Análise terminável e interminável
O título e a epígrafe deste capítulo expressam meus pensamentos, com base nas reverberações surgidas em mim sobre os elementos comumente atribuídos ao feminino, como conter, intuir, mediar e proteger. Um dos últimos escritos de Freud, “Análise terminável e interminável” (1937/2018), me estimulou a refletir sobre o ponto em comum vivido pelo homem e pela mulher, não obstante a diferença dos sexos, da rejeição da feminilidade, expressa na mulher pela inveja
1 Trabalho publicado em 2022 na Revista Brasileira de Psicanálise, 56(1), 169-178.
do pênis e no homem pelo temor de ser passivo diante de outro homem.
O fato que salta aos olhos é de que Freud incluiu a rejeição da feminilidade como uma atitude psíquica de negação da diferença dos sexos, como o maior obstáculo para o fim de uma análise bem-sucedida, por conter forte fator de resistência do ser humano a se submeter a outrem, pai e analista, para não se sentir em dívida. Advertiu ainda que, mais do que considerar uma análise como um processo sem fim, e mais do que encurtá-la, devemos cogitar o seu aprofundamento.
Passei a observar que é recorrente na clínica a valorização da ação, do fazer, do conteúdo (♂), próprio da função masculina, e não do ser, do continente (♀), o que prejudica o possível encontro criativo entre os dois. Bion contempla essa preocupação quando diz que, “nos eventos do consultório, antes que ♀♂ possa funcionar, é necessário encontrarmos o continente (♀)” (1963/2004, p. 53). Também me inspirei em Winnicott (1953/1975), que afirmou: “O elemento masculino faz, ao passo que o elemento feminino (em homens e mulheres) é, [sendo ambos vividos nas identificações primárias com a mãe, em que se] estabelece a experiência de ser” (p. 115).
Freud adotou como pilar de sua teoria o monismo sexual fálico, isto é, o pênis como centro, e tê-lo ou não o ter como sua premissa. Mesmo com a proposta de Klein de considerar que temos um “conhecimento inconsciente da vagina e do útero” (citada por Birksted-Breen, 1996, p. 99), o falocentrismo permaneceu como elemento principal.
André (1996) sugere que o primado do falo, longe de promover a aceitação da diferença dos sexos, concorre para a sua negação. No entanto, quando Freud abordou a rejeição da feminilidade no homem e na mulher, forneceu um caminho para levar em conta questões psíquicas que tenho vivido na clínica. Embora ele tenha
4. O masculino em nós, uma almejada e ameaçadora experiência1
Sabe lá o que é não ter e ter que ter pra dar. Djavan, Esquinas2
Freud (1925/2012) elegeu o falocentrismo como central na sua teoria. Em “Algumas consequências psíquicas da diferença anatômica entre os sexos”, pondera que ter ou não o pênis, assim como a ameaça de perdê-lo, traz uma consequência psíquica que “requer urgentemente verificação, para que se reconheça se tem valor ou não” (p. 286).
Com base em sua ideia central, considero que o almejado pênis – não o real, físico, palpável, mas aquele cuja qualidade e função lhe confere força e firmeza – pode ficar ameaçado adiante da necessidade de ter um abrigo natural, um continente que o acolha. Birksted-Breen
1 Publicado em 2022 na Revista Brasileira de Psicanálise, 56(4), 105-116.
2 As demais epígrafes deste capítulo são da mesma canção.
78 função feminina e função masculina
(1996) procura distinguir o que seria o pênis-como-ligação (Eros) do phallus (Tânatos, que destrói a ligação), pois ambos pertencem a organizações psíquicas diferentes. Relaciona o phallus à falta inerente, à incompletude da condição humana, que representa uma completude ilusória. Associado à “potência fálica”, o phallus pode se assentar mais no poder e no domínio, e menos no vigor da penetração com finalidade de ligação. No entanto, a autora ressalta que, em ambos os casos, eles vêm acompanhados de angústia pelo sentido de passividade inerente à busca por recepção e consequente abrigo.
Essa angústia com sentido de passividade sugere pensar que o pênis, sob o signo da falta (Gibeault, 1998), configuraria a sua incompletude ao necessitar ser contido, desconstruindo a sexualidade do menino como “completa” ao ter um “órgão sexual adequado” e uma “sexualidade específica desde o começo”. Pretendo, desse modo, que o diálogo proposto entre o físico e o psíquico permita a interface dos fatores de conjunção e disjunção diante do almejado e ameaçado masculino em nós.
O continente (♀), ao aceitar e receber o conteúdo (♂), não o impede de ter mobilidade. O espaço/limite encontrado possibilita o movimento. Só assim poderá haver o embrião da vida mental, como Bion (1963/2004) preconiza, com a ocorrência da interação do feminino (♀) com o masculino (♂) na mente, ao transformar o até então conteúdo (ocorrido na relação) em continente/contido (♀♂). No entanto, quando existe a fantasia de uma superioridade masculina (complexo de masculinidade na vida mental), esta fica ameaçada e, muitas vezes, se expressa nas relações interpessoais pelo controle e desprezo, como prenúncio aversivo à considerada “inferioridade” feminina, sentida como mutilada.
A epígrafe musical pretende anunciar essa almejada atração humana, que igualmente atemoriza: “Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar”. Isso se manifesta, intrapsiquicamente e intersubjetivamente, revelando a temida castração (dentro do monismo sexual
5. Penélope e a odisseia do feminino interminável1
A verdade, senhores ouvintes, nunca é certa –Vamos espiar atrás da cortina! Atwood, 2020, p. 95
A odisseia de Ulisses foi escrita não somente por Homero, pois originalmente o material era mítico, oral e local, além de existirem outras versões e leituras particulares. Costumamos considerar a dimensão de tal travessia diante do périplo vivido por Ulisses/Odisseu – e como ele nos contagia – ao nos aproximar de nós mesmos em direção a Ser.
Ulisses retorna a sua terra natal depois de dez anos, e, nesse percurso, sua ausência teve como estímulo a guerra impetrada pelo rapto da bela Helena, que curiosamente não é personagem de destaque nos quase 15 mil versos do poema. Destaco, a princípio, duas
1 Publicado em 2023 na revista Ide, 45(76), 37-46.
figuras femininas: Penélope, a inspiradora da Odisseia de Ulisses e seu retorno, e Helena na Ilíada, causadora da guerra de Troia, e pergunto: de qual guerra de fato falamos e que tanto interesse desperta? Seria uma curiosidade sobre essas mulheres enigmáticas e o que elas representam, epíteto para a ofensa do narcisismo ferido? Seria a manutenção da guerra sexual diante de seus domínios e temores? E qual retorno reiteradamente proclamamos, em verso e prosa? O convite é para pensar nas experiências narradas que a epígrafe evoca, levando em conta mais a existência de sonho dentro de uma realidade psíquica imaterial, e menos de uma realizada ação acontecida de forma factual.
Com Penélope e a odisseia do feminino interminável, parto da chegada de Ulisses a Ítaca, quando ele ordena exterminar, além dos pretendentes, as doze serviçais de Penélope (Atwood, 2020). E incluo Freud (1937/2018) nessa caminhada. Naquele momento ele considera que “desde o início seria o repúdio à feminilidade . . . a descrição correta dessa notável característica da vida psíquica dos seres humanos”, tanto na mulher quanto nos homens. Característica tão rejeitada quanto seguidamente desejada.
Privilegio aqui a expressão “repúdio ao feminino” mais que “repúdio à feminilidade”, que me parece também ter sido a ideia desenvolvida por Freud, mesmo que tenha utilizado o termo “feminilidade”, um adjetivo substantivado. Feminilidade é mais condizente com as qualidades do feminino do que com sua função, que é como pretendo desenvolver essa odisseia de Penélope, a que tece: o feminino interminável, através de mares por nós navegados, mares reveladores de nossa incompletude e desamparo, eterna busca/retorno às origens de nós mesmos.
6. O nascer do outro na mente ↔ o nascer da própria mente: antes…
Agora… E depois?1
Na prática clínica tenho me deparado com pacientes com um padrão de funcionamento onde sobressai uma precária e/ou quase ausência de vida psíquica própria, bem como uma estéril experiência da presença do outro. Estes costumam chegar à análise, com grande exigência, ansiosos e insatisfeitos com suas relações. E tudo isso permeado por um pensamento com funcionamento mágico que se alimenta de uma insuportável contrariedade diante das intempéries da vida. Apresento Petra (há seis anos em análise), por esta presentear a nós duas com esses vívidos momentos, alguns aqui relatados, como ilustração dessa dramática vivência de ser.
1 Publicado em 2011 no Jornal de Psicanálise, 44(81), 109-125.
Antes: muitas procuras, poucos encontros e alguns abandonos apresentam Petra
Durante mais de um ano, Petra oscilou entre idas e vindas às sessões, sem conseguir deixar seus horários pré-agendados. Marcar horários significava vínculo e compromisso que ela refutava veementemente. Como houve em mim um espaço interno para essa experiência, as sessões foram marcadas, nesse período, semana a semana. Ela ausentava-se em função de “justificadas” viagens, sem perceber que era essa a sua forma de lidar também com sua família, quando se sentia cansada e contrariada: ela ignorava o significado que essas “viagens” tinham na sua vida e a que se referiam o “cansaço” e a insatisfação tão frequentes.
Se é que é possível sintetizar um período, no qual a dinâmica da relação entre nós revelava um padrão de ameaças, controles, cobranças, procuras, abandonos e persistência, esse período evidencia o que Bion (1967/1988) abordou em “Diferenciação entre a personalidade psicótica e a personalidade não psicótica”. Ele nos aponta os aspectos que têm a ver com relações de objeto prematura e precipitada aparecendo na transferência como um vínculo tenaz e tênue, como os vividos intensamente nesse período com Petra.
Petra demonstrava sua insatisfação e sua busca por métodos místicos e por pensamentos mágicos e onipotentes. Contou-me que a busca por análise era a sua nova tentativa para tratar essa insatisfação, já que tinha experimentado diversas terapias, como de grupo, comportamental, cognitiva, psicodramática, além de vários tipos de religião, e toda sorte de terapias alternativas que apareciam ou que procurava na sua vida. Nessa época, seu funcionamento mental arcaico negava a realidade psíquica com fortes sentimentos de onipotência. Essa é uma das características, segundo Melanie Klein (1946/2006), do funcionamento da mente primitiva. Essa
7. Dor psíquica: ficção ou realidade1
Viver dói
Existem pessoas que são tão intoleráveis à dor ou à frustração (ou em que dor ou frustração são tão intoleráveis) que sentem a dor, mas não a sofrem e, portanto, não se pode dizer que a descobrem… Bion, 1970/2007, p. 26
O poeta é um fingidor Finge tão completamente Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente. Fernando Pessoa, 1978, p. 104
1 Publicado em 2016 na Revista de Psicanálise de Porto Alegre, 18(1), 17-28.
Era excitante o que vivia, e fazia-lhe bem, como a todas as pessoas interiormente frias, deixar que as ondas ardentes da paixão quebrassem ao seu redor, mas sem com isso arder ela própria Zweig, 2014, p. 20
O paciente que não sofre dor é incapaz de “sofrer” prazer. Bion, 1963/2004
Começo meus comentários entrelaçada pelo tema: dor psíquica, ficção ou realidade, e me pergunto: Será que é ficção? Ou VIVER DÓI. Se partirmos da premissa que o princípio do prazer conflita com o princípio da realidade, esse confronto por si só é doído. E essa dor é a DOR PSÍQUICA, que passa a comportar uma vida mental (com a interação dos dois princípios) e não mais o princípio absoluto do prazer. O viver vivido só é real se for com vida mental. Não estou querendo fazer apoteose da DOR. Falo do SOFRER como emoção humana de quem está e-mo-ci-o-nal-men-te no mundo. As epígrafes são expressões do vértice que procurarei me deter. Desse modo, o trabalho proposto poderia chamar-se “Prazer/Dor: sofrimentos psíquicos”. No entanto, me deterei sobre o sofrer DOR, privilegiando o vértice que Bion nos aponta: a impossibilidade, na vivência real, de a dor tornar impeditiva a vivência do real prazer.
Como viver/sofrer dor e não somente senti-la? A personagem da epígrafe, da novela “Medo”, de Stefan Zweig, se excita, faz-lhe bem, mas, no entanto, não se deixa arder na chama da paixão. O foco que aponto é distinto de sentimento − que tem a ver com os sentidos − mesmo que aparentemente conflitem-se. A dor psíquica está relacionada com o viver as emoções. Como dar-se conta e dar conta da dor mental? A experiência é um tipo de movimento que pode ser vivenciado em períodos de transição entre sentir dor e sofrê-la. Se, portanto, ficar no limiar entre uma e outra, se situará mais como limítrofe
8. Os retirantes, de Cândido Portinari: o esforço para ser humano é o que nos torna vivos1
Porque o que é bonito é o que captamos enquanto passa. É a configuração efêmera das coisas no momento em que vivemos ao mesmo tempo a beleza e a morte. Ai, ai, ai, pensei, será que isso quer dizer que é assim que temos de viver a vida? Sempre em equilíbrio entre a beleza e a morte, o violento e seu desaparecimento? Estar vivo talvez seja isto: espreitar os instantes que morrem. Barbery, 2008, p. 293
Perda
e recuperação
Em tempos em que os imigrantes são considerados persona non grata em quase todo o mundo, nunca Portinari esteve tão atual na sua arte de Os retirantes. 2
1 Trabalho publicado em 2019 na revista Ide, 41(67/68), 275-281.
2 Imagem disponível em: masp.org.br/acervo/obra/retirantes (acesso em: 15 jun. 2025).
função feminina e função masculina
Todos nós somos retirantes após a cesura do nascimento, quando excluídos pisamos nesta terra pós-mundo uterino. Seremos eternos imigrantes em busca da terra prometida.
Nos estados primitivos da mente, os processos de (des)integração são caracterizados por experiências recorrentes de perda e recuperação (Klein, 1957/2006). O sentimento de “estar perdido” é equivalente ao medo da morte. A perda do objeto externo, como a pátria mãe, o chão que habita e é habitado, desempenha um papel na solidão ao longo da vida. A dor que acompanha os processos de integração contribui também para a solidão, intensificada na vivência da posição depressiva. Junto à desintegração, ao aniquilamento e à cisão, existe desde o início da vida humana à natural tendência à integração.
Se nos remontarmos aos primórdios da espécie e ao nosso parentesco com os peixes, tão bem expresso por Ferenczi em “Thalassa” (1924/2011), proponho que Portinari retrata a saída da vida intrauterina, em parte pelo conhecimento filogenético inconsciente de descendermos de vertebrados aquáticos e que nos denomina retirantes. A tela expressa essa dor da passagem da vida aquática para a seca paisagem, nos obrigando à sobrevivência e à adaptação a uma vida terrestre que exige respirabilidade através dos nossos próprios pulmões.
Nesse sentido, o simbolismo marinho da mãe possui um caráter mais arcaico, mais primitivo, ao passo que o simbolismo da terra reproduz aquele período mais tardio em que o peixe, lançado à terra em consequência da secagem dos mares, tinha de se contentar com a água que se filtrava desde as profundezas do subsolo (o qual, ao mesmo tempo, o alimentava) (Ferenczi, 1924/2011).
Avento que Portinari, ao pintar uma família pródiga com seis filhos, retrata a fertilidade do casal, algo como uma busca talâmica do mundo intrauterino vivido por meio da relação sexual. Esse “retorno temporário” (Ferenczi, 1924/2011) ao seio materno, a repetição dos perigos inerentes ao nascimento, a luta e a adaptação à vida nos enternecem em sua pintura. O coito se encarrega por si só da satisfação do
9. Associações estéticas como representação do mundo mental sem palavras1
O mundo somente pode ser suportado se for transformado em um fenômeno estético. Uma filosofia que não pretende explicar o mundo, somente se pode originar da experiência estética do mundo. Schopenhauer citado por Safranski, 2011, p. 398
A obra de arte resulta de um comportamento amoroso para com sua própria intimidade.
Andreas-Salomé citado por Ferreira, 2000, p. 196
Onde crio sou verdadeiro.
Rilke citado por Ferreira, 2000, p. 174
1 Publicado em 2017 na revista Ide, 40(64), 247-256.
Não é possível pensar sem imagens. No grego a palavra ideia vem do verbo ver. Portanto ideia é uma imagem mental, e não por acaso, a palavra imaginação vem do mesmo radical de “luz”, e como aponta Aristóteles a imaginação é um movimento produzido pela sensação em ato. E uma vez que a visão é o sentido por excelência, a imaginação (em grego phantasia) tirou seu nome de luz, pois sem luz é impossível ver-se.
Menezes citado por Moreschi, 2014, p. 14
Ela nos diz que, como os sonhos, a arte representa a realidade, sendo uma forma de conhecê-la, de comunicá-la, mas também cria uma realidade que ela mesma torna passível de expressão.
Nosek, 2014, p. 6
Imagens são palavras que nos faltaram.
Barros, 2013, p. 241
A arte não reproduz o visível. Torna-o visível. Klee, 2012, p. 6
As manifestações estéticas são formas de expressão para tornar o mundo suportável? Elas são uma forma de aproximação amorosa à própria intimidade psíquica? Uma forma de contato com o eu verdadeiro? Um objeto intermediário para o pensar? Uma transformação do mundo mental sem palavras em imagem, poema ou música, para nominá-la e, como os sonhos, representar e/ou criar a realidade psíquica? Envolvida por essas aproximações do pensar sobre a estética, partilho uma breve observação sobre um material clínico.
Chegou como uma concha e deitou-se espreguiçando como quem abre possibilidades. Conta que tudo continuava igual e que estava cansada de seu desânimo e da demora para melhorar.
A descrição por si só dessa experiência, vivida no início de uma sessão de análise, apresenta a apreensão de uma imagem estética:
10. Sobre o significado clínico da experiência
estética: a beleza poderia ajudar?1
Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadloff, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul.
Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza.
E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: – Me ajuda a olhar! Galeano, 2021, p. 15
1 Publicado em 2021 na Revista Bergasse 19, 11(2), 57-63.
função feminina e função masculina
Começo parafraseando Likierman (1989/1994) ao utilizar o mesmo título de seu trabalho, publicado inicialmente no International Journal of Psychoanalysis, em 1989, com um acréscimo, “a beleza poderia ajudar?”. Likierman considera a estética como experiência primária, presente desde o nascimento, originalmente com a mãe, vivido pelo bebê como algo essencialmente bom. Esclarece ainda que o bebê “não pode saber o que é bom”, mas pode ter uma experiência direta dos seus sentidos, inundados por prazer ilimitado e registrar mentalmente isso de modo puramente estético, como “bom” – sublime. E, assim, internalizado, promove (re)encontros, quando possível, no decorrer da vida, na busca de, mais do que saciar a “fome”, estabelecer relações de objeto. Essa autora considera ainda que a experiência estética não surge como resultado de crescimento psíquico, mesmo que possa ser uma de suas pré-condições, pois mesmo antes que o indivíduo comece a reconhecer a experiência, ele já está sujeito a ela. Só depois, na integração depressiva, é que o bebê transfere a experiência estética inicial para a percepção de mundo total bom/mau, em exercício mais amplo. Essa experiência estética é vista por Likierman (1989/1994) “como uma capacidade fundamental humana presente em todos com variações individuais e culturais em sua natureza fenomenológica” (p. 294), precursora primitiva de todas as nossas vivências posteriores de beleza e, também, da posterior criatividade artística. Do ponto de vista psicanalítico, é nessa largada da vida em que inicialmente ela é apreendida pelo sensorial, que contém em si a dimensão psíquica dessa experiência estética como matéria-prima da mente.
Ogden caminha nesse viés, com base na descrição feita por Edgar Allan Poe (citado por Ogden, 2020) que aponta na direção de que há certos tipos de “pensamentos não pensados que são as almas dos pensamentos” (p. 38), essa frase captura a essência paradoxal do conceito de Bion (1992/2000) em que as “impressões sensoriais cruas” são impressões ainda não processadas da experiência emocional. Essas impressões, não vinculadas ao processo do
11. A transitória igualdade e a incerta diferença1
Já vivi bastante para ver que a diferença gera ódio… Stendhal, 1830/2021, p. 231
Um apólogo
Era uma vez uma agulha, que disse a um novelo de linha:
– Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo?
– Deixe-me, senhora.
1 Publicado em Alter, 40(1 e 2), 9-23, 2025
– Que a deixe? Que a deixe, por quê? Por que lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça.
– Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha.
– Mas você é orgulhosa.
– Decerto que sou. Porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão eu?
– Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu?
– Você fura o pano, nada mais; eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados… diga-me quem é que vai ao baile, no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá.
Parece que a agulha não disse nada; mas um alfinete, de cabeça grande e não menor experiência, murmurou à pobre agulha:
– Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico.
Contei esta história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça: – Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária!
(Assis, 1994, texto resumido)


