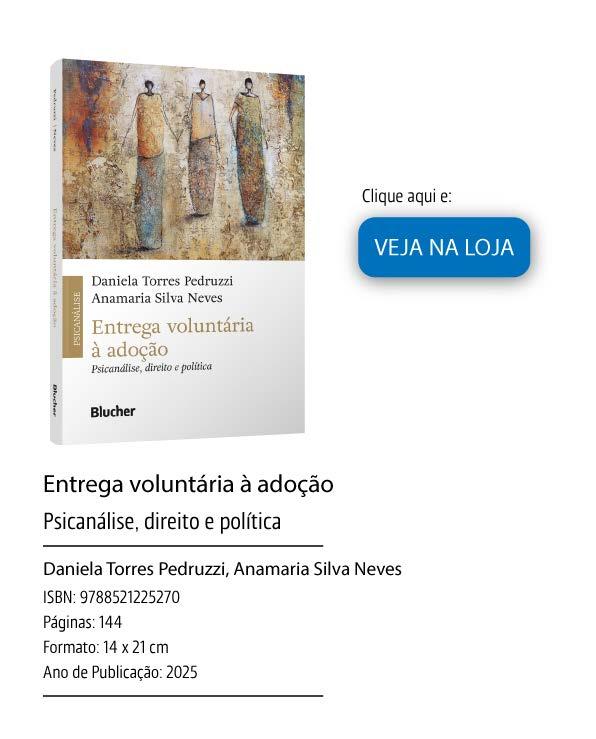Entrega voluntária à adoção
Psicanálise, direito e política
Daniela Torres Pedruzzi
Anamaria Silva Neves
E ntrega voluntária à adoção
Psicanálise, direito e política
Daniela Torres Pedruzzi
Anamaria Silva Neves
Entrega voluntária à adoção
© 2025 Daniela Torres Pedruzzi e Anamaria Silva Neves
Editora Edgard Blücher Ltda.
Publisher Edgard Blücher
Editor Eduardo Blücher
Coordenação editorial Rafael Fulanetti
Coordenação de produção Ana Cristina Garcia
Produção editorial Kiyomi Yamazaki e Andressa Lira
Preparação de texto Regiane da Silva Miyashiro
Diagramação Estúdio dS
Revisão de texto Maurício Katayama
Capa Laércio Flenic
Imagem da capa iStock
Rua Pedroso Alvarenga, 1245, 4o andar 04531-934 – São Paulo – SP – Brasil
Tel.: 55 11 3078-5366 contato@blucher.com.br www.blucher.com.br
Segundo o Novo Acordo Ortográfico, conforme 6. ed. do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, Academia Brasileira de Letras, julho de 2021.
É proibida a reprodução total ou parcial por quaisquer meios sem autorização escrita da editora.
Todos os direitos reservados pela Editora Edgard Blücher Ltda.
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Heytor Diniz Teixeira, CRB-8/10570
Pedruzzi, Daniela Torres
Entrega voluntária à adoção : psicanálise, direito e política / Daniela Torres Pedruzzi, Anamaria Silva Neves. – São Paulo : Blucher, 2025.
144 p.
Bibliografia
ISBN 978.85.212.2527-0 (impresso)
ISBN 978.85.212.2526-3 (eletrônico - Epub)
ISBN 978.85.212.2525-6 (eletrônico - PDF)
1. Psicanálise. 2. Psicanálise clínica. 3. Psicanálise e mulheres. 4. Adoção. 5. Serviços de saúde materna. 6. Direito das mulheres. 7. Psicologia jurídica. I. Título. II. Neves, Anamaria Silva Neves. III. Série
CDU 159. 964.2
Índice para catálogo sistemático: 1. Psicanálise
CDU 159.964.2
2. A escuta psicanalítica nos contornos da cena jurídica
3. Nas malhas da maternidade: a complexa trama
1. A entrega voluntária à adoção
A formalização jurídica de um fenômeno social
A circulação de crianças acontece desde tempos bíblicos. Segundo Fonseca (1995), essa expressão designa toda a transação na qual a responsabilidade por uma criança é passada de um adulto a outro. Situações em que as mães não permanecem junto aos seus filhos após o nascimento se mostram como um fenômeno social que se repete ao longo da história, assumindo em cada momento e em dada sociedade um discurso específico com significação simbólica própria, marcado pelos contextos políticos e econômicos; contudo, de maneira geral, transfigurando-se como repetição, no sentido psicanalítico, de um sintoma social, revelador das desigualdades sociais e das diferentes formas de articulação no laço (Serra, 2003; Motta-Maués, 2012).
A Roda dos Expostos, primeiramente descrita em 1198, era um dispositivo onde se colocava o bebê pelo lado de fora e, rodando-a, a criança podia ser recolhida pelo lado de dentro. As crianças eram colocadas nas instituições asilares de maneira anônima, apesar de relatos da existência de cartas ou bilhetes deixados junto ao bebê (Porto, 2011).
No Brasil do século XVIII, as Santas Casas de Misericórdia instalaram as Rodas dos Expostos especialmente preocupadas em minimizar a morte de bebês pagãos, sendo que a primeira providência ao receber uma criança na Roda era a realização do seu batismo. Portanto, esse dispositivo apresentava inicialmente um cunho religioso e, posteriormente, também assistencialista.
No Brasil, o Código de Menores de 1927 extinguiu o anonimato da Roda dos Expostos, passando a ser exigida alguma identificação da genitora ou da família para se deixar uma criança nas instituições asilares (Viana, 2021). A última Roda que se tem notícia no Brasil localizava-se em São Paulo e foi extinta em 1950 (Arantes, 2020).
A extinção da Roda não significa a eliminação dos dispositivos asilares de acolhimento de crianças abandonadas, tratando-se apenas de modificar os meios de inserção neles. Sob a Legislação Menorista, conhecida como “Código de Menores”, promulgado em 1927, e que permaneceu vigente até 1990, crianças em situação de pobreza, abandono ou irregularidade eram destinadas a instituições criadas dentro da lógica assistencial, mas também correcional e preventiva de comportamentos criminosos. Esse período consagra a vinculação entre infância pobre e a delinquência, com início desde o Brasil colônia (Arantes, 2020).
Mais recentemente, no ano 2000, dispositivos similares à Roda dos Expostos ressurgiram em diversos países da Europa com a instalação de berços aquecidos e monitorados por enfermeiras nas proximidades de hospitais, mas com o mesmo objetivo de receber os bebês indesejados (Evans, 2012). Áustria, França e Itália, por outro lado, passaram a acolher o parto anônimo, no qual a gestante abdica do filho após dar à luz sem que haja qualquer registro oficial que vincule o nome da mãe ao bebê, levando ao completo ou quase completo apagamento da história de origem da criança (Arantes, 2020). A Organização das Nações Unidas se posiciona contrária a tais dispositivos em razão da perda de possibilidade de ulterior identificação da história
2. A escuta psicanalítica nos contornos da cena jurídica
Psicanálise e Justiça, um encontro de saberes
O encontro dos saberes psicanalíticos com os saberes da área jurídica tem origem remota e pertence ao passado histórico que se atualiza e reatualiza a cada movimento da sociedade e cultura, em cada local. Na obra freudiana, essa dialética do sujeito com o campo social é apresentada inicialmente a partir do mito da horda primitiva em Totem e tabu (Freud, 1913/1996) e, posteriormente, em Psicologia das massas e análise do eu (1921/2020) e em Mal-estar na cultura (1930/2020). No texto de 1921, Freud afirmou que toda psicologia individual também é social. No ensino de Lacan (1950/2003), a inscrição do Nome-do-pai e entrada do sujeito no campo da linguagem marcam a necessária divisão do sujeito e submissão às leis da cultura. Essas acepções assinalam a existência da perda ou renúncia subjetiva a ser assimilada pelo sujeito e que permite a ele estar em sociedade.
Isto porque a realidade humana não é apenas obra da organização social, mas é uma relação subjetiva que, por estar aberta à dialética patética que tem de submeter o
voluntária à adoção
particular ao universal, tem seu ponto de partida numa dolorosa alienação do indivíduo em seu semelhante, e encontra seus encaminhamentos nas represálias da agressividade. (Lacan, 1950/2003, p. 128)
A primeira lei que organiza o social, segundo Freud (1913/1996), advém da proibição do incesto. Essa lei fundante reúne seu caráter simbólico enquanto lei mediadora da subjetividade, balizadora das relações, à qual todos os sujeitos estão submetidos.
Gomes e Aguiar (2018), em artigo sobre o sujeito do Direito e o sujeito da Psicanálise, aludiram que Hans Kelsen, ao conceituar o Direito, apresentou que a norma fundante é o imperativo de obediência às leis e que todos estão submetidos aos ditames legais que regulam as relações na sociedade. Aqui as acepções sobre as leis se aproximam, mas o direito segue o curso da objetividade e universalização, enquanto a Psicanálise caminha sobre os trilhos que a levam a pensar o sujeito no um a um; mesmo que inserido no campo social, ele está submetido à lei do inconsciente, marcado pelo desejo. Portanto, a Psicanálise se propõe a pensar nas incidências subjetivas do social, das leis no humano. Lá, onde o Direito universaliza, a Psicanálise faz furo e faz emergir o singular.
Ainda de acordo com Gomes e Aguiar (2018), o sujeito a quem o direito se dirige, aplicando a ele um poder coercitivo e regulador a partir das normas, é o sujeito objetivo, observável e racional. Entretanto, ao impulso de tudo controlar, a sociedade responde com o mal-estar evidenciado em violências, crimes, conflitos familiares, naquilo que escapa às leis. Aquilo que não responde a essa moção totalizadora aponta para existência do sujeito do inconsciente, movido pelo desejo, que não se submete completamente às normas.
A Psicanálise convoca, desse modo, os operadores do Direito a suportar a dificuldade do sujeito diante da relação
3. Nas malhas da maternidade: a complexa trama do tornar-se mãe
A maternidade na Psicanálise
Pensar a maternidade é adentrar o campo para onde convergem afetos diversos, ideais e discursos sociais que se organizam na trama complexa, tomada pelo sujeito de modo singular. É um desafio conceituar e definir a maternidade, pois trata-se de uma experiência múltipla e diversa, vivenciada sobre o tecido social que lhe dá contornos e que toca afetivamente as representações subjetivas mais arcaicas. Para o fulcro desta pesquisa, mostrou-se necessário assumir qual é a compreensão sobre a maternidade que se revela como balizadora para pensar as experiências da entrega voluntária à adoção, voltando-se inicialmente às construções históricas e sociais em torno da mulher e da maternidade.
Elisabeth Badinter (1985) expôs que o amor materno, entendido como inato às mulheres, foi construído ao longo do desenvolvimento da sociedade, especialmente a partir da industrialização. Por essa razão, a autora o chama de “mito do amor materno”, apontando sua estrutura de ficção. Badinter (1985) destacou como a relevância atribuída à infância e à família nuclear enquanto maneira de evitar o
à adoção
alto índice de mortalidade infantil na sociedade pré-industrial teve impacto no entendimento e na valorização da maternidade enquanto função da mulher. Era necessário que alguém assumisse a responsabilidade pela infância, seguindo o modelo higienista para promoção da sobrevivência das crianças. Esse lugar foi delegado às mulheres, apoiado na difusão do discurso social e religioso que enaltecia a santidade ligada à mulher e à maternidade. Portanto, as mulheres foram levadas a acreditar que ser mãe era destino e finalidade.
Conforme proposto por Badinter (1985), o “mito do amor materno” emerge em um momento histórico marcado pelo advento da modernidade, com desenvolvimento do capitalismo, fortalecimento do patriarcado e dos movimentos expansionistas da Europa, a partir da colonização. Esses fenômenos sociais compõem o Outro do inconsciente com o qual cada sujeito se relaciona em sua estruturação subjetiva. Apesar das intensas transformações sociais ocorridas desde então, efeitos desse período histórico ainda se encontram presentes no imaginário social e se oferecem às idealizações identificatórias das mulheres de nossa época. Em sua singularidade, cada mulher será atravessada pelos ideais culturais e pelas suas experiências primordiais, que comporão o pano de fundo para as experiências biológicas da gestação e seus desdobramentos.
Na Psicanálise, a abordagem da maternidade se inicia com os estudos freudianos sobre a sexualidade. Freud (1905/1996) elabora a teoria da sexualidade fundamentada, inicialmente, nos conceitos das pulsões, escolhas objetais, narcisismo e processos de identificação. Posteriormente, o autor fez acréscimos e apresentou a concepção sobre a inveja do pênis a partir da percepção infantil da menina em não ser possuidora do órgão sexual. Ambos os sexos, masculino e feminino, são interpelados pela castração e assumirão posições entre a masculinidade e feminilidade, de acordo com a não aceitação da ausência do pênis ou a aceitação da castração (Freud, 1923/1996). Ao final, Freud não se remeteu especificamente ao órgão sexual em si,
4. Metodologia da pesquisa
A pesquisa em Psicanálise
De acordo com Campos (2021), a pesquisa em Psicanálise, definida como aquela que instrumentaliza a escuta psicanalítica a partir da transferência, configura-se tanto como intervenção quanto construção teórica e não está adstrita ao contexto clínico. Incluída nesse delineamento metodológico, insere-se a investigação de fenômenos da cultura em sua dimensão sociopolítica e a aplicação do método e da escuta psicanalítica em intervenções institucionais, que caracterizam a Psicanálise em extensão, seguindo terminologia lacaniana, e a Psicanálise aplicada, conforme apresentado pelo criador da Psicanálise. Para apreensão do fenômeno em questão, esse estudo amparou-se na abordagem que privilegia o caráter de extensão da Psicanálise e sua aplicação em contexto institucional. A temática pesquisada está apresentada por meio da discussão de três casos, dentre os sete casos atendidos. Trata-se de três mulheres gestantes que foram encaminhadas à Vara da Infância e Juventude porque tinham a intenção de entregar o bebê para a adoção.
à adoção
A escolha dos casos que compuseram este estudo se fez a partir das questões que suscitaram o desejo de refletir sobre o tema e dos efeitos de inquietações que insistiram em emergir, mesmo após concluído o acompanhamento das gestantes, convocando à investigação. Foram as experiências de solidão, desamparo e impotência apresentadas pelas participantes que, pelos efeitos transferenciais, conduziram à escolha das três, especialmente para a investigação proposta. Portanto, as pesquisadoras, encontram-se implicadas na pesquisa, posto que também são atravessadas transferencialmente pelo tema em questão e pelas reverberações das experiências que acontecem ao longo do percurso (Iribarry, 2003). Dessa forma, o trabalho que se apresenta contempla as ressonâncias inconscientes que os casos em investigação provocaram nas autoras enquanto pesquisadoras e sujeitos da pesquisa em Psicanálise.
A chegada de gestantes ao Programa e os primeiros passos da pesquisa
A entrada das gestantes no Programa Entrega Legal do TJMG se processa com a apresentação das mulheres à Vara da Infância e Juventude, no Fórum. Para chegarem até lá, elas podem ser encaminhadas pelos serviços da atenção básica, hospitais ou procurarem espontaneamente a Vara. Ao se apresentarem no Fórum, as gestantes são acolhidas pela equipe de Comissários da Infância e Juventude. Nesse primeiro momento, elas informam os dados pessoais e, de maneira superficial e objetiva, as razões que as levaram a manifestar o desejo de entregar os bebês à adoção. Coletadas essas informações e fornecidas as orientações básicas sobre o Programa, é autuado um processo judicial, imediatamente remetido aos Setores de Psicologia e Serviço Social, para dar início aos acompanhamentos dos setores.

A entrega voluntária merece ser tratada, no Poder Judiciário, como uma brecha, um furo no circuito da repetição ao propor esse cuidado com a gestante. Entretanto, é fundamental que esse trabalho viabilize ampliar a discussão relativa à maternidade e à exclusão social, pois pode ocorrer um desvelamento de questões que se encontram no cerne das situações da entrega voluntária à adoção, que suplantam as condições subjetivas da mulher e abarcam o laço social.
A temática da entrega legal – para além da identificação e do reconhecimento do desejo feminino como não adstrito a tornar-se mãe – envolve reflexões sobre as condições de precariedade social e desamparo que permeiam o fenômeno, bem como as possibilidades de essas mulheres chegarem aos dispositivos para anunciar suas escolhas.
A responsabilidade ética do analista incide em se despir de seu lugar na classe social para escutar as mulheres sem repetir as forças de exclusão existentes na posição que ocupa e, também, considerar como lhe incidem subjetivamente os ideais da maternidade e a naturalização da mulher e mãe.