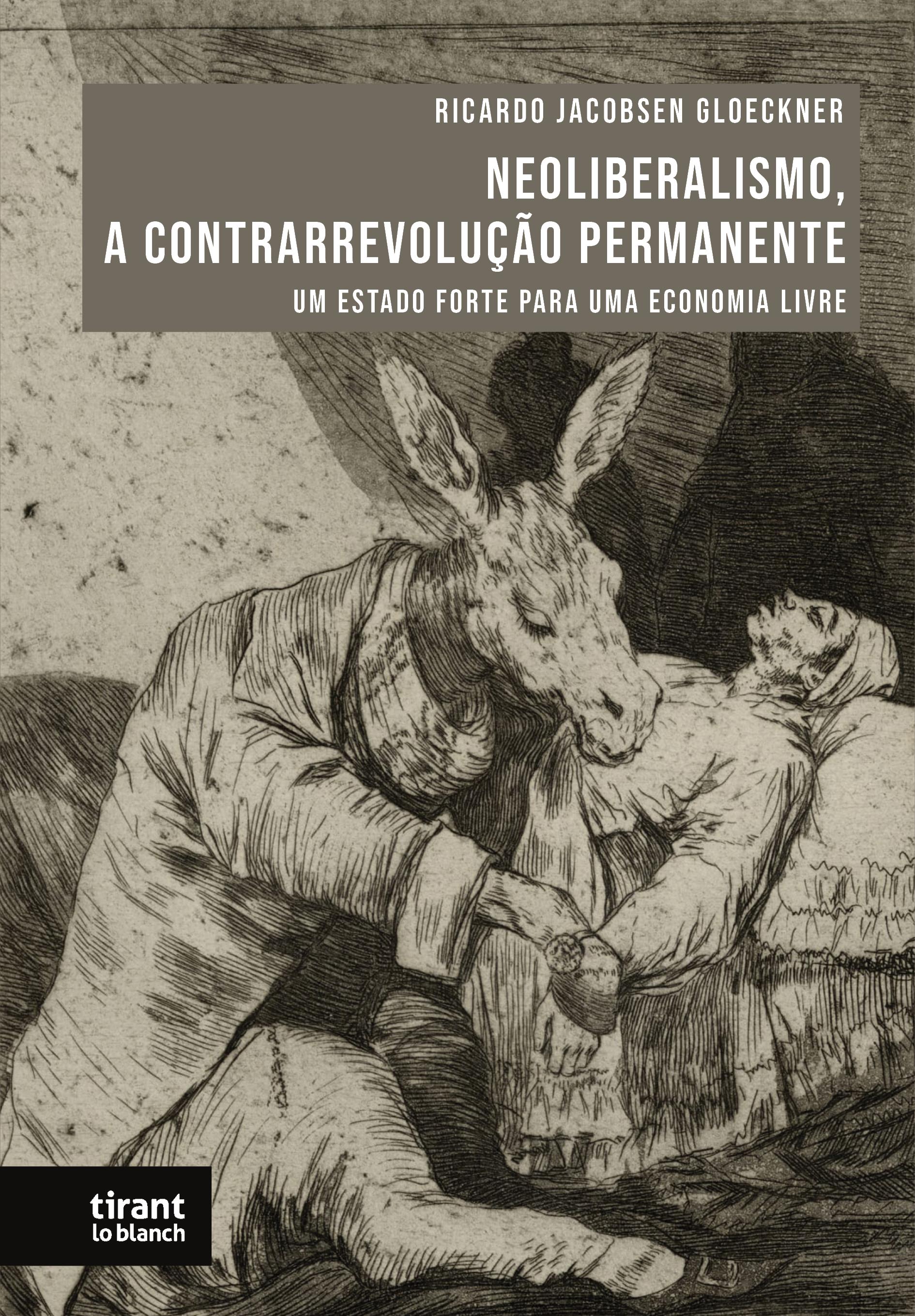 Ricardo Jacobsen Gloeckner
Ricardo Jacobsen Gloeckner
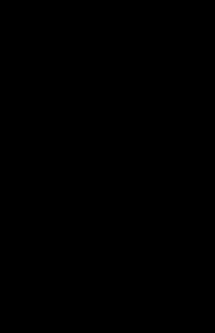

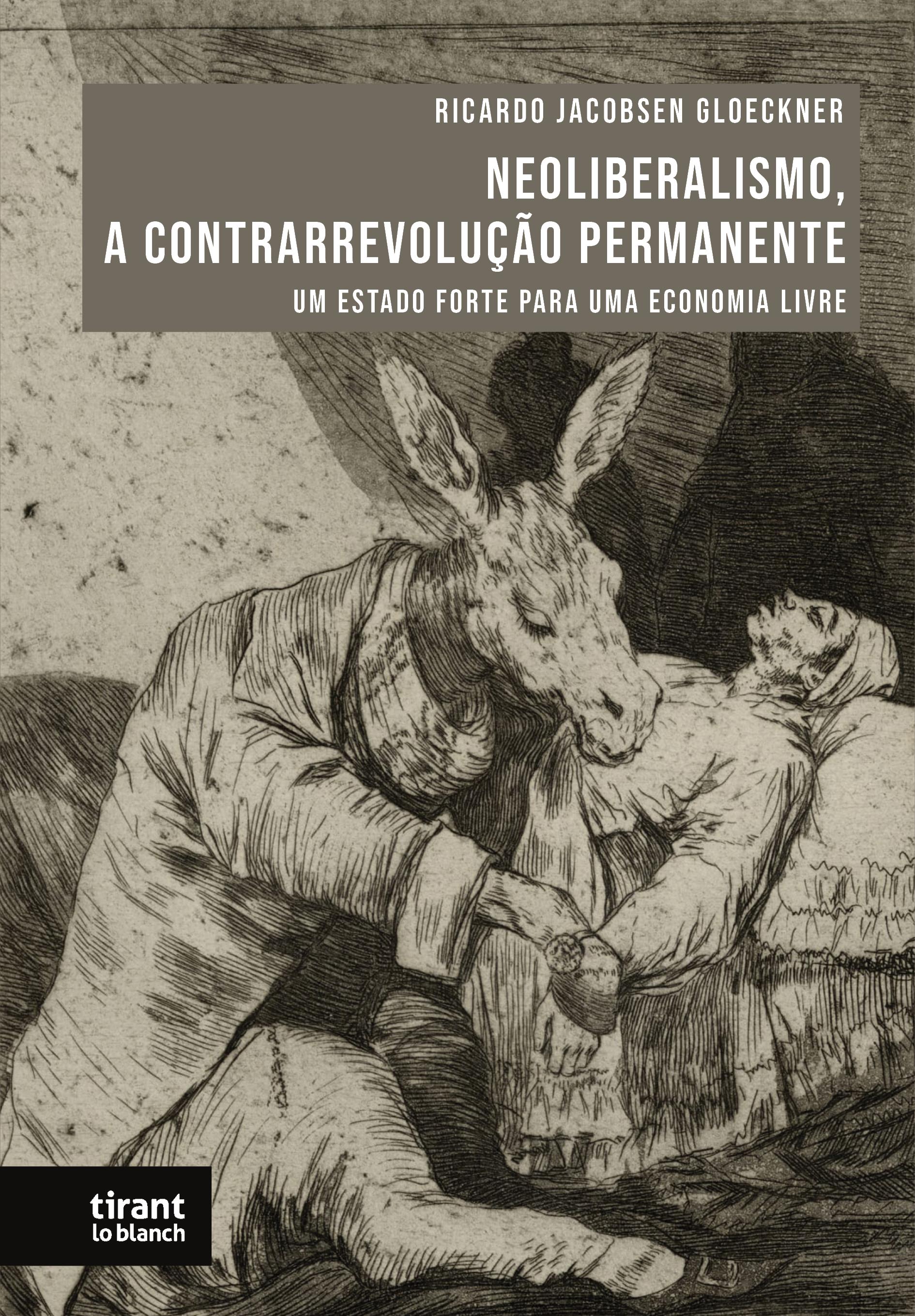 Ricardo Jacobsen Gloeckner
Ricardo Jacobsen Gloeckner
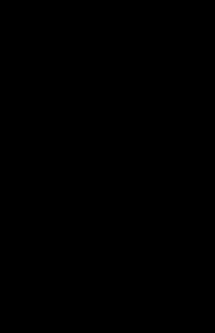
Um estado forte para Uma economia livre
Copyright© Tirant lo Blanch Brasil
Editor Responsável: Aline Gostinski
Assistente Editorial: Izabela Eid
Capa e diagramação: Analu Brettas
eduardo Ferrer maC-GreGor Poisot
Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Investigador do Instituto de Investigações
Jurídicas da UNAM - México
Juarez tavares
Catedrático de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil
luis lóPez Guerra
Ex Magistrado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Catedrático de Direito Constitucional da Universidade Carlos III de Madrid - Espanha
oweN m. Fiss
Catedrático Emérito de Teoria de Direito da Universidade de Yale - EUA
tomás s. vives aNtóN
Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência - Espanha
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ
G48n
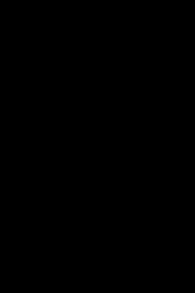
Gloeckner, Ricardo Jacobsen
Neoliberalismo, a contrarrevolução permanente [recurso eletrônico] : um estado forte para uma economia livre / Ricardo Jacobsen Gloeckner. - 1. ed. - São Paulo : Tirant Lo Blanch, 2023. recurso digital ; 1 MB
Formato: ebook

Modo de acesso: world wide web
ISBN 978-65-5908-566-8 (recurso eletrônico)
1 Neoliberalismo - Brasil 2 Brasil - Política e governo - Séc XXI 3 BrasilCondições econômicas 4 Livros eletrônicos I Título
CDD: 320 5130981
23-83783
CDU: 330.831.8(81)
Meri Gleice Rodrigues de Souza - Bibliotecária - CRB-7/6439
DOI: 10.53071/boo-2023-05-25-646f5b6048bd5
03/05/2023 09/05/2023
É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art.184 e §§, Lei n° 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei n°9.610/98).
Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch.
Fone: 11 2894 7330 / Email: editora@tirant.com / atendimento@tirant.com tirant.com/br - editorial.tirant.com/br/ Impresso
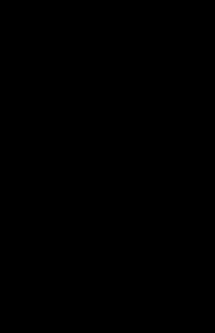
Um estado forte para Uma economia livre
Não são poucas as pessoas a quem devo agradecer. Cada uma a seu modo contribuiu decisivamente para esta versão final. Uma crítica, um ponto de vista, diálogos, indicações de referências, enfim. É muito provável que eu esqueça vários nomes. Mesmo assim desejo agradecer nominalmente à Joseane, pela paciência, carinho e amor. Ao Jeferson e Marco Antônio pela amizade inabalável. Ao Edgar, companheiro de preocupações democráticas. Guto e Fernanda, para além da academia, a amizade. Gostaria de agradecer também a todos os colegas do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da PUCRS, acadêmicos e acadêmicas que contribuíram, cada qual a seu modo, no estímulo à esta pesquisa. Nominalmente, gostaria de também agradecer à Jadia Larissa Timm dos Santos pela valiosa revisão dos originais; ao Felipe Lazzari pelo fraterno diálogo em torno de uma tema comum; ao prof. Maurício Dieter pelo suporte para que eu pudesse acessar várias referências, ao Rafael Dezidério de Luca pela utilíssima contribuição com fotocópias de obras junto à biblioteca da USP. Ao Luiz Eduardo Cani e à Luiza Borges Terra pelo auxílio com uma importante e difícil referência. Agradeço ainda a PUCRS pelo suporte na confecção desta pesquisa bem como à Aline e à editora Tirant lo Blanch, pela confiança.
“Lo único libre son los precios. En nuestras tierras, Adam Smith necesita a Mussolini. Libertad de inversiones, libertad de precios, libertad de cambios: cuanto más libres andan los negocios, más presa está la gente”. (GALEANO, Eduardo. Días y Noches de Amor y de Guerra).
“A corrente do anti-intelectualismo é uma constante ameaça espreitando através da nossa vida política e cultural, alimentada pela falsa noção de que democracia significa “minha ignorância é tão boa quanto o seu conhecimento”” (ASIMOV, Isaac; A Cult of Ignorance)
“muitas vezes eu vi mais liberdade cultural e espiritual sobre os regimes autocráticos do que em certas democracias.” Friedrich Hayek, que apoiou intelectualmente o regime ditatorial de Pinochet no Chile.
Apenas o autor do livro poderá explicar às leitoras e leitores o motivo pelo qual convidou este modesto professor de processo penal para prefaciar uma obra tão potente, transdisciplinar, densa e necessária sobre o neoliberalismo e suas vocações antidemocráticas.
Claramente trata-se de uma empresa – para me valer da gramática economicista – acima das minhas competências.
Apesar disso aceitei com imensa alegria. Vi no chamado oportunidade única de manifestar muito do que, com bastante mais qualidade e estilo, Montaigne expressou quando escreveu o ensaio “Da amizade”, em homenagem a La Boétie.1
O texto que se segue tomará a forma de ensaio, escrita livre, um tanto autobiográfico do prefaciador, que toma essa liberdade um pouco como Montaigne tomou de “empréstimo a Étienne de La Boétie algo que honrará, em suma” o autor.
O texto de La Boétie, por meio do qual Montaigne o homenageava, era o “A servidão voluntária”. Creio que é de justiça, nesse paralelo, reproduzir a seguinte passagem:
“Escreve-o [‘A servidão voluntária’] La Boétie em sua adolescência, a fim de se exercitar em favor da liberdade e contra a tirania.”
Ricardo Gloeckner concebe e realiza seu “Neoliberalismo, a contrarrevolução permanente: um Estado forte para uma economia livre” no auge da maturidade do grande pensador latino-americano que é. Obra de fôlego, o livro é também um libelo contra as tiranias, como o foi o de La Boétie a seu tempo.
Dito isso, registro que as circunstâncias das nossas vidas nos aproximaram de início pela afinidade ao tema comum das nossas preocupações jurídicas: o direito processual penal. Depois, sem embargo da distância que separa o Rio de Janeiro do Rio Grande do Sul, por que amigos da democracia, da justiça social e
inimigos das ditaduras. E amigos da democracia, da justiça social e inimigos das ditaduras não se conhecem, mas se reconhecem.
Mais uma vez recorro a Montaigne: “A amizade nutre-se da comunicação... Na amizade a que me refiro, as almas entrosam-se...”.
Nenhuma síntese do livro supera a introdução preparada pelo autor e é dela que retiro o ponto de contato para o presumido móvel do convite. Afirma Ricardo Gloeckner, citando a obra anterior que igualmente apresentei:
“Portanto, ao seu início, o presente texto não pretendia ser mais do que uma mera recuperação da memória neoliberal, voltado muito mais à apuração de suas conexões políticas e morais do que qualquer outra coisa. Todavia, esta parada metodológica se expandiu e acabou assumindo proporções que tornariam difícil a sua inserção em um mesmo texto dirigido ao ‘novo autoritarismo processual penal brasileiro’ (especialmente devido ao tamanho que assumiria) bem como a própria autonomização das ideias aqui contidas, que podem ser levadas a um público mais amplo e que não esteja interessado ou ligado, de forma imediata, ao direito processual penal.” De fato, o presente livro poderá ser lido de forma autônoma em relação ao anterior – Autoritarismo e Processo Penal: uma genealogia das ideias autoritárias no processo penal brasileiro – e por um público não necessariamente interessado em conhecer o direito processual penal. O trabalho, sem dúvida, é riquíssimo e dele falarei adiante.
Recomendo, no entanto, aos que estudam processo penal, que insiram a presente obra em sua bibliografia obrigatória, priorizando a leitura. Está na moda, não sei por que temores acadêmicos, intelectuais ou políticos, dissociar os estudos de processo penal do conhecimento das ideias políticas que sempre constituíram o solo e os limites do mencionado campo do saber jurídico.
A propensão a tratar como jurídico-processuais assuntos estritamente concernentes à interpretação quase puramente semântica dos textos legais e de muitas quase indecifráveis decisões judiciais e de escantear conteúdos transdisciplinares indissociáveis das práticas penais, incluindo aí a própria interpretação/ aplicação das regras processuais penais, está condenando o saber processual penal à condição inferior àquela do tempo dos glosadores dos recuperados textos de direito romano, entre os séculos IX e XII da nossa era, na Europa.
O desentendimento entre o mundo da vida e as limitadas recomendações pseudo-dogmáticas encontram nas “funções do direito em um ambiente neoliberal” uma clara explicação na obra de Ricardo Gloeckner. E podem estar seguros, esta explicação, com a qual concordo, desabona o labor de parte da doutrina processual.
Daí que o mergulho neste livro me parece essencial também para os que militam no sistema de justiça criminal e que trabalham com o direito processual penal. Em algum momento a alienação pseudo-dogmática cobra seu preço.
Antes de me referir ao que me tocou na obra justifico a aceitação do convite a partir da memória pessoal. A memória, aliás, é o melhor antídoto contra as ditaduras.
No final da minha infância, nos últimos anos da década de 60, me causava perplexidade a normalização do que, aos olhos inocentes, mas não tolos, era uma evidente contradição: nosso país, comandado por uma Junta Militar e depois por um general não eleito, ufanava-se das relações fraternas estabelecidas com a “mais antiga democracia do Ocidente”, pranteava o assassinato do presidente Kennedy e aplaudia a ocupação norte-americana no Vietnã.
Os ecos do explosivo ano de 68 ainda não podiam ser compreendidos pela criança, tudo era um tanto assustador, mas, claramente, tudo também era um tanto estranho e inexplicável.
Com a adolescência e a juventude chegaram as notícias do golpe de estado no Chile, reverberado na epígrafe do prefácio e referido no corpo do livro, a notícia da tortura e morte do jornalista Vladimir Herzog, em 25 de outubro de 1975, a morte do operário Manoel Fiel Filho, em 17 de janeiro de 1976, e o fechamento do Congresso Nacional pelo general-presidente Ernesto Geisel.
A “Revolução dos Cravos”, de 25 de abril de 1974, contrabalançava as más notícias, enquanto a vitória da oposição nas eleições parciais – vitória que, afinal, provocara o fechamento do Congresso e o “Pacote de Abril” – e a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e de movimentos religiosos ecumênicos e de parte da sociedade civil denunciavam a olho nu o que a censura aos meios de comunicação não permitia publicizar.
A ditadura desfilava à nossa frente, mas a conjuntura nacional e mundial estava forçando uma rearrumação institucional que nos levaria a 1985, com a eleição indireta do oposicionista Tancredo Neves, e à Constituinte de 19871988, não sem os sobressaltos terroristas das explosões em bancas de jornais, os atentados do Riocentro, em 30 de abril de 1981, no “show de 1º de Maio”, e à OAB, no Rio de Janeiro, em 27 de agosto de 1980, que vitimou a secretária da Ordem Lyda Monteiro.
A década de 80 foi efervescente no Brasil e no mundo. Uma nova parte geral do Código Penal e a Lei de Execução Penal, em 1984, precederam a Constituição de 1988. Eleições diretas em 1989 pareciam colocar o Brasil na rota das democracias. Aliás, a «democracia» como ideia parecia beneficiar-se de um consenso global até então desconhecido.
Interessante notar que de uma forma ou de outra, com muitas lacunas e escamoteamentos, essa parte da história contemporânea era referida pela doutrina
criminal brasileira (penal e processual penal). No caso do processo penal, logicamente as «garantias processuais» declaradas na Constituição converteram-se em temas de estudos, debates, controvérsias acadêmicas e jurisprudenciais.
Devido processo legal, presunção de inocência, proibição de provas ilícitas e juiz natural, se fossem personificadas, dificilmente poderiam imaginar que estariam no centro do debate político que tomou conta do Brasil nas duas primeiras décadas do século atual e que ditariam o rumo do país... ou o tirariam do «prumo democrático».
Lá nos anos 90 as referidas garantias eram assunto de juristas. Quando muito, frequentavam a crônica policial da comunicação social que, reativamente, já havia provocado um retrocesso institucional via leis ordinárias, como foi o caso da Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), contendo e restringindo a eficácia da própria Constituição.
Entre os e as processualistas penais a narrativa histórica que desembocava na constitucionalização das garantias processuais penais e no reconhecimento da função normativa dos Pactos Internacionais de Direitos Humanos, em 1992, partia da reação ao nazismo, ao fim da II Guerra Mundial, com a paulatina cristalização de uma aparente cultura orientada à tutela dos «direitos humanos».
O autoritarismo era associado a governos ditatoriais. As liberdades públicas, cuja defesa dominava o noticiário, identificavam-se às políticas, sem que estivessem em geral referidas às formas históricas de exclusão e vulnerabilidade presentes e bastante visíveis, como, no caso brasileiro, as que derivavam diretamente da escravização da população preta e indígena.
Supostamente os governos eram autoritários, as sociedades não.
O reducionismo explicativo esbarrava na realidade e na reação de parcela da academia, no campo das ciências sociais. Especificamente no direito foram os e as penalistas e criminólogos latino-americanos a reagir desde os anos 70 ao notável esforço do mainstream jurídico de deslocar a política para a periferia do discurso na área, em geral apodando-a de não técnica ou pouco jurídica, uma heresia em termos de saber jurídico.
Nossos e nossas penalistas e nossos e nossas criminólogas não apenas resistiram à tentativa de desqualificação acadêmica, como foram responsáveis pela produção transdisciplinar de um saber jurídico que colocou no centro da discussão a problemática do neoliberalismo.
A pior forma de ter razão é estar certo na previsão de uma tragédia. E se esta tragédia é coletiva, converte-se em catástrofe de proporções inauditas, cujo desfecho é sempre uma incógnita.
Em 2015, Juarez Tavares e eu fomos convidados a emitir parecer para fundamentar a defesa da presidente Dilma Rousseff, no processo de impeachment que, ao final, em agosto de 2016, levou à cassação de seu mandato. Tratava-se de um «golpe de estado parlamentar», como à época denunciamos, expressão de autoritarismo que dispensava, ao menos para o momento, as ditaduras tão frequentes na história latino-americana do século passado.
O pano de fundo do episódio está retratado no último capítulo do livro, dedicado ao neoliberalismo brasileiro e à recente ascensão da extrema-direita em nosso país.
A ponte teórica entre a introdução do livro e seu último capítulo está, na minha modesta opinião, entre as páginas mais importantes já escritas pela ciência social brasileira.
Tendo vivido e acompanhado parte dos episódios e havendo me dedicado ao estudo do processo penal por meio de uma chave de leitura que em hipótese alguma despreza o papel da economia e do poder na formação do direito, esta “combinação cultural complexa”, como o descreve Pierre Legrand,2 entendo que o conhecimento proporcionado pela abordagem do neoliberalismo é essencial para compreender e atuar no sistema de justiça e assumo que as consequências das decisões tomadas no sistema sempre o extravasam e de uma forma ou de outra afetam toda a sociedade.
A ignorância sobre o dispositivo neoliberal não o impede de funcionar e de produzir estragos significativos na vida da imensa maioria das pessoas.
Neste sentido, é igualmente válida a advertência de Legrand acerca da epistemologia que elegemos empregar para a análise de qualquer categoria. Afirma Legrand, textualmente:
“A episteme, expressão oriunda da palavra grega para ‘conhecimento’, é de certa forma a estrutura sócio-histórica do saber, isto é, o conjunto de critérios que, em um determinado lugar e em uma dada época, tornam possível distinguir entre os diferentes tipos de conhecimento, preservando alguns por serem legítimos e descartando outros por serem ilegítimos.” 3
Uma maneira de apresentar este livro é dizer que parte dele identifica «tipos de conhecimentos ilegítimos» e suas práticas sociais, por meio dos quais justifica-se socialmente um processo de destruição das condições de vida, a partir de considerações ligadas à acumulação de riqueza, causando danos à maior parte da população do planeta e à própria natureza.
Em uma passagem precisa Ricardo Gloeckner menciona uma “antropologia da desigualdade como mecanismo de regulação da sociedade”, proposta teórica neoliberal de Friedrich Hayek sobre o papel do Estado e sua recusa a levar a cabo políticas igualitárias, proposta que bem se enquadra na ideia de desprezo antropológico e ecológico que caracteriza o pensar e a ação neoliberais.
O livro é excepcional e denso. As várias conceituações acerca do neoliberalismo, e as críticas que lhes são endereçadas, incluindo a de que o neoliberalismo como categoria ou ferramenta analítica não se sustenta teoricamente, são dissecadas e enfrentadas com lealdade intelectual.
Multidimensional e multifacetado, dinâmico e resistente à apreensão em uma única chave conceitual, o neoliberalismo é tratado pelo autor desde a perspectiva da “governamentalidade disciplinar” à de sua “racionalidade política”; de uma “teoria das práticas políticas e econômicas” ao ângulo que mira a “ideologia”; dos efeitos e consequências geradores de uma “intervenção estatal permanente” à identificação de seu poder de “refundação do papel do direito”.
Para além das contradições que estão presentes no neoliberalismo, nas suas diversas manifestações, um elemento comum se destaca e o autor o coloca em evidência: “... o neoliberalismo como racionalidade política atacou frontalmente os fundamentos da democracia liberal, substituindo os princípios do constitucionalismo, da igualdade, das liberdades civis e políticas e, em última instância, da própria autonomia política dos sujeitos, por critérios como custo-benefício, eficiência, lucratividade.” (grifo meu)
Em outro trecho, que pode muito bem ser reconhecido à luz dos fatos de 2016-2022, no Brasil, Ricardo Gloeckner sublinha que “[a] tarefa do direito seria, então [no contexto neoliberal], atuar como uma espécie de protetor da economia contra a democracia”, iluminando, ainda, o pensamento de Alliez e Lazzarato no sentido de que “o neoliberalismo promove uma pós-democracia autoritária e policiada pelo mercado.”
A “contrarrevolução permanente” ou a “contrarrevolução sem revolução” guia a leitora e o leitor pelas pulsões de destruição neoliberais.
O livro é riquíssimo de informações. O patrimônio de conceitos e noções recomenda uma leitura degustativa, que se faz sem pressa, sempre reflexiva, transitando de uma história das ideias à das instituições, sem descuidar das autorias individuais e das Escolas que referendam escolhas políticas como se fossem deliberações incontornáveis da natureza das coisas.
Particularmente sobre Escolas, encontros fundacionais e seus atores, o livro proporciona informações bastante úteis sobre o Colóquio Walter Lippmann de 1938, a história do “ordoliberalismo alemão” e o vínculo de vários de seus
protagonistas com o nazismo, a perseguição nazista aos economistas liberais, as “Escolas de Chicago e Virgínia”, a de Freiburg e a de Genebra. Entende-se bem o presente e o quanto determinada prática anti-intelectualista e antidemocrática é o reflexo de estratégias comunicacionais e econômicas que nos afetam intensamente.
Este Tomo se encerra com uma percuciente análise do neoliberalismo brasileiro. Convém percorrer todo o caminho teórico que o autor pacientemente pavimentou para seus leitores e leitoras para encontrar neste último capítulo uma espécie de espelho refletor da nossa angustiante realidade.
Escrevo este prefácio entre o primeiro e o segundo turno das imprevisíveis eleições presidenciais brasileiras de 2022, ano do bicentenário da nossa independência.
Qualquer que seja o resultado das eleições, fato é que a extrema-direita avançou, e não somente no Brasil.
Recuperar o rumo democrático e levar a democracia a toda a população brasileira é o desafio das próximas gerações. Caminhar nessa direção não é tarefa isenta de receios, mas esses não podem nos incapacitar e imobilizar.
Um movimento possível passa pelo “bem pensar”, pela capacidade de interpretar a realidade sem temer a sua complexidade, antes, advertidos dela, a enfrentar bem equipados. E não tenho a menor dúvida de que estaremos muito bem equipados com “Neoliberalismo, a contrarrevolução permanente: um Estado forte para uma economia livre”.
Me despeço de leitoras e leitores recorrendo mais uma vez a Montaigne para, referindo-me a Ricardo Gloeckner, parafrasear e asseverar que “nas questões de neoliberalismo, tenho mais confiança em Ricardo que em mim mesmo.”
Gratíssimo, Ricardo, pelo prazer imenso de prefaciar seu belíssimo livro e o poder ler em primeira mão. Muito obrigado mesmo!
Em 04 de outubro de 2022, véspera dos 34 anos da Constituição democrática brasileira.
– A propósito de “Neoliberalismo, a Contrarrevolução Permanente: um Estado Forte para uma economia livre” de Ricardo Jacobsen Gloeckner
Ricardo, há muito tenho dito – para além do natural comprometimento da amizade que nos atravessa –, é aquele que produz o que existe de mais importante no processo penal brasileiro. Felicidade imensa de ver este vigor transbordado, agora explicitamente, para analisar a questão neoliberal, numa obra propriamente de filosofia política que não deveria sequer ser objeto de qualquer antecipação escrita. Guardada as devidas diferenças que o estilo e aproximações temáticas entre nós apontam, algo me parece que sempre nos arregimentou: a postura incisiva para estudar o fenômeno jurídico, exatamente por sua complexidade, como um laboratório, uma junção de vários universos e, ao mesmo tempo, como uma das montagem das nossas formas sociais, postura que não se presta ao conforto neutro e enganoso daqueles que apontam o polegar para o sol com a certeza de poder escondê-lo.
Meu amigo é um leitor do tipo “universitário”, afeito ao rigor necessário com as fontes para a reflexão dos textos que apresenta. Reconheço-me nisso, em alguma medida, porém com muito menos virtude para tanto. Enciclopédico e quase exaustivo, o que bem pode comprovar o leitor com este livro que deverá compor o rol de referências necessárias ao tema, sabe-se, porém, do problema que isso comporta.
Para que um limitado prólogo como este não se perca numa glosa que replique ou procure dizer mais do que a própria obra (não) pretendeu, seja domesticando o leitor ou oferecendo leituras apressadas, apontaria para uma inspiração a qual sou provocado pela leitura: o movimento da tradução da realidade, muito para além da transposição mecânica de um problema de signos linguísticos. Se por um lado, não raro, podemos tomar a realidade a partir do texto, como se as ideias pudessem servir apenas para serem aplicadas, como se fossem blocos de sentido que encaixotam e leem, por assim dizer, a realidade, por outro, perdemos uma dimensão importante dos textos e suas ideias quando a apresentamos como explicações da realidade, olvidando propriamente que são ações que a transformam e intensificam nossas práticas. Ainda, em outras palavras, presente está o risco de converter o texto em lei – algo que somos talhados juridicamente – em que a experiência deve se ajustar. Preocupados com os mais diversos textos, podemos ser atraídos pelo “que”, pelas palavras do autor, para escutar as informações
contidas no texto, pronto para dele ser extraída a interpretação correta dele e da realidade. Por outro lado, atrai-me um diferente problema de tradução: escutar o ritmo da realidade, o “como” o corpo faz a linguagem. Avesso a uma certa ordem que os discursos e seus autores procurarão deflagrar, importa antes escutar o ritmo da realidade. Com suas intensidades, é fazer com o que o novo dela não se perca, o inusitado que, portanto, fará ver de outro modo e transformar a mirada, ou seja, mudar nossa maneira de fazer e pensar. Desta forma é que para mim se poderia valorizar o recolhido de mais rico no livro.
Mais do que indagar “o que” é o neoliberalismo, interessante perceber “como” ele se engendra, que ritmo emprenha e faz vibrar nossas formas de vida, até mesmo para tão logo um “novo ver, um novo ouvir, um novo pensamento” seja possível1. Mais do que uma ideologia, um regime político ou ainda esquema econômico, importa insistir que se trata de um modo de vida que forja nossas relações consigo e com os outros. Longe de uma derivação coordenada de classe dominante, está mais afeita aos conflitos concretos. Assim, a pergunta central deve ser dirigida a apontar através de que técnicas se exercem cotidianamente suas violências.
Ao menos desde a sua publicação, mesmo que tardia do curso de FOUCAULT de 1978-9 apenas em 20042, este tipo de estratégia universal neoliberal está longe de ser a expressão de uma fé na naturalidade do mercado, um anti-intervencionismo ou mesmo um mero desmonte de instituições. Sobretudo, ele produz subjetividades e formas de existência. A maneira de nos comportar e nos relacionar é concebida, como bem destaca o texto desde DARDOT e LAVAL3, através da competição generalizada como norma de conduta e a empresa como modo de subjetivação. Eis o seu governo pela liberdade. Se o interesse de FOUCAULT nesta altura era perceber o âmbito da racionalidade política na qual a biopolítica apareceu, ou seja, o liberalismo, foi para insistir no “naturismo” (dogmatismo do laissez-faire) do mercado visto a partir do XVIII que o colocou como local de veridição, ou seja, como princípio econômico de racionalização governamental. Mas o mais importante estava na sua incursão contemporânea nas “novas” formas que ele identificava nesta arte de governar, ponto que entra o exame do neoliberalismo alemão e americano (corrigido precisamente por DARDOT e
1 HARDT, Michel. “The Common in Communism”. In: Douzinas, C. ; Zizek, S. (Eds. ). The Idea of Communism. London: Verso, 2010, p. 141.
2 FOUCAULT, Michel. Nascimento da Biopolítica: curso dado no Collège de France (1978- 1979). Edição Estabelecida por Michel Senellart; sob direção de François Ewald e Alessandro Fontana; tradução de Eduardo Brandão; revisão de tradução Cláudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
3 DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.
da Segunda Grande Guerra4), principalmente para ver naquele uma “economia social de mercado” regulada institucional e juridicamente e neste a ampliação de seus esquemas de mercado como critério de decisão em todos os campos.
Em suma, no neoliberalismo, deve-se governar para o mercado sob intervenção estatal, nada a ver com o espontaneísmo do mercado em seu espaço natural. Portanto, não se trata apenas do mercado como organizador do Estado em que a questão central seria, em havendo o Estado, saber como limitá-lo pelo mercado, mas como legitimar o Estado pela economia, e ainda mais, como implementar uma forma de governo da sociedade desde este tipo de política vital da empresa e da competição. *
Insistira ademais num aspecto por vezes marginalizado desta questão: o que o capital deve sempre obstruir? O que necessariamente ele bloqueia? Para encontrar uma resposta minimamente aceitável, importará atentar para o verdadeiro objetivo, ao menos nos últimos 40 anos, que se buscou exorcizar do horizonte comum. Se o capitalismo é um sistema que gera escassez artificial para produzir escassez real e vice-versa, hoje muito bem estampada na escassez real de recursos naturais e na escassez artificial de tempo generalizado, o triunfo do neoliberalismo requereu a cooptação do conceito de liberdade. Digamos de outro modo, das potencialidades sufocadas pela administração da subjetividade. Como ressaltava FISHER5, um dos mais agudos críticos da nossa condição, a verdadeira meta do neoliberalismo não foram seus inimigos oficiais, como as ruínas do welfare state, mas a destruição de qualquer condição para se pensar uma espécie de comunismo libertário que aflorava nos sessenta e setenta, ao ponto de torná-lo impensável. Usando as lições de MARCUSE, “exorcizar o fantasma de um mundo que pode ser livre”6.
Não será à toa que se poderá apontar para a consolidação daquilo que consagrou chamar de “realismo capitalista”7 na violenta demolição do governo de Allende no Chile em 73 e sua experiência de um socialismo democrático. Extirpar esta ideia e fazer consolidar o neoliberalismo como único modo “realista” de organizar a sociedade requer enorme esforço cultural. Sua inevitabilidade sem
4 DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo, p. 71 ss. .
5 FISHER, Mark. K- Punk – Volumen 3. Escritos reunidos e inéditos (Reflexiones, Comunismo ácido y entrevistas). Editado por Darren Ambrose; prólogo de Matt Colquhoun. Buenos Aires: Caja Negra, 2021, p. 124- 5.
6 MARCUSE, Herbert. Eros y Civilización. Madrid: Sarpe, 1983, p. 95.
7 FISHER, Mark. Realismo Capitalista: é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. São Paulo: Autonomia Literária, 2009.
dúvida passou pelo fracasso das esquerdas naquele momento com o repúdio dos sonhos desatados pela contracultura e sua incapacidade de se ver implicada neles. Antes de dizer de maneira falsa que os sessenta conduziram ao neoliberalismo –como costuma indicar um relato facilista sempre em momentos de profunda experiência de abertura e oportunidade –, melhor entender a habilidade, a energia e a imaginação despregadas nestes momentos, até mesmo para melhor ler como opera a contrarrevolução neoliberal. O “novo espírito do capitalismo”8 provém exatamente disto: de como estas forças reacionárias souberam amarrar, digamos melhor, vampirizar9 e obstruir projetos, fazendo desaparecer futuros possíveis.
A crença de que não há alternativa ao neoliberalismo por mais tragédia que se acumule no seu horizonte é exatamente viável porque ele estabeleceu um futuro, procurou se vender como único viável e logrou êxito. O neoliberalismo capturou e absorveu exitosamente o descontentamento com o esquerdismo burocrático centralizado, bem exposto pelo maio de 68 francês (que na Itália, por exemplo, se estendeu por quase uma década10). Mais, sobretudo, soube metabolizar os desejos de liberdade e autonomia que ali emergiam, longe de poder se dizer que estes conduziram a ascensão daquele, muito mais estando em sintonia com o fracasso diante das novas aspirações.
Percebendo este sintoma é que talvez encontremos uma encruzilhada preciosa de ser analisada. BIFO11 a relembra através do ano em que o “futuro morreu”: 1977. Quando os Sex Pistols cantaram pela primeira vez a provocação “no future”, talvez nunca se tivesse imaginado o quanto isso se tornaria senso comum, fruto de uma espécie de esgotamento de energias e solapamento de imaginação. Nosso estreitamento de habilidades de produção de futuros parece ter-se tornado flagrante.
No 68 francês, estendido no 77 italiano, porque não dizer também em algum sentido no 2013 brasileiro e noutros vários acontecimentos – no sentido forte –, expressões como “sejam realistas, exijam o impossível” acabaram por se conformar à publicidade. Retomar os fundamentos desta cena política requereria, segundo BIFO, na implícita mensagem antiautoritária da contracultura, “ampliar a área do possível”12. A ampliação da esfera do possível passa por se perceber que além das necessidades ligadas à evolução previsível da realidade neoliberal presente, há uma dimensão que sempre pode ser libertada de suas formas. É a
8 BOLTANSKI, Luc; CHIAPELLO, Ève. O Novo Espírito do Capitalismo. Trad. Ivone C. Benedetti. Rev. tec. Brasílio Sallum Jr. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
9 MARX, Karl. El Capital, Libro primero. Volumen 1. Buenos Aires, Siglo XXI, 1975, pp. 278- 9.
10 BALESTRINI, Nanni; MORONI, Primo. L´orda d´oro 1968- 1977. La grande ondata rivoluzionaria e creativa, política e esistenziale. Milan: Feltrinelli, 1997.
11 BERARDI, Franco. Depois do Futuro. Tradução Regina Silva. São Paulo: UBU, 2019, p. 69.
12 BERARDI, Franco. Depois do Futuro, p. 64.
própria experiência do possível que precisa se expressar, numa espécie de alargamento que surge exatamente destes movimentos, ritmos outros que, a certa altura, ampliam o pronunciável e o visível. Potência, portanto, de modelação do imaginário13 que é sempre possível a cada instante: “o ano de 1968 reivindica uma extensão do campo do possível. Só isso. A imaginação é a atividade de extensão do campo do possível”14.
Apenas acrescentaríamos que, esta potência de “futurabilidade”15, por assim dizer, habilidade para criar futuros possíveis, que fujam das tendências finitas e que percebam as capacidades comuns, não deixa de ser interrogada pelo que impinge seus mecanismos de emergência. Para se pensar propriamente seu regime de possibilidade, quer dizer, a estrutura destes espaços de possibilidade16, não poderá a pergunta se dirigir somente ao “possível”, por justiça ao lema. A exigência não deixará de ser convocada desde o impossível. Para que esta diferença política radical possa ser possível e atualizável, para que não se ampute o acontecimento, é do impossível que se fala, de algo que atravessa assimetricamente, que não espero vir, irredutível a qualquer horizonte de projeção17. Os limites do possível sempre dependerão do porvir impensável, indizível, irrepresentável e inconcebível, mesmo que vinculado a ele numa contaminação inextrincável: aporia que o dis-põe como assimétricos e complementares. Em última medida, esta contaminação sempre está lá. Há impossível no possível: in-posible.
Dos inumeráveis méritos que este livro têm, um a meu ver merece destaque. Ricardo leva a sério os apontamentos neoliberais. Nada de paradoxal nisso, a não ser que queiramos ignorar suas estratégias. A superioridade moral que avassala grande parte das esquerdas ao menosprezar os ensinamentos neoliberais normalmente é uma péssima conselheira. Vale a pena aprender um pouco com isso para quem sabe entender porque um regime febril, moribundo, que se arrasta como zumbi, como lembra Mark Fisher18, teima em se manter como única alternativa e difícil de matar.
13 BERARDI, Franco. Depois do Futuro, p. 43.
14 BERARDI, Franco. Depois do Futuro, p. 66.
15 BERARDI, Franco ´Bifo´. Futurability: The Age of Impotence and the Horizon of Possiblity. London/ New York: Verso, 2017.
16 DeLANDA, Manuel. Philosophy and Simulation. The Emergency of Syntetic Reason. London/ Nwe York: Continuum, 2011.
17 DERRIDA, Jacques. Canallas: Dos ensayos sobre la razón. Traducción de Cristina de Peretti. Madrid: Trotta, 2005, p. 163.
18 FISHER, Mark. K- Punk – Volumen 2. Escritos reunidos e inéditos (Música y política). Buenos Aires: Caja Negra, 2020, p. 401.
Dificilmente se esquece a entrevista clássica da Hayek ao jornal chileno
“El Mercúrio” em 12 de abril de 1981 que, através do sua honestidade inegável, comentando sobre as ditaduras como formas de transição para democracias “livres de impurezas”, assume a que veio: “às vezes é necessário que um país tenha, uma forma ou outra de poder ditatorial. Como você entenderá, é possível que um ditador governe de maneira liberal. E também é possível que uma democracia governe com total falta de liberalismo. Pessoalmente, prefiro um ditador liberal a um governo democrático sem liberalismo”19. Entretanto, insistira ainda, de fato, na lição mais aguda que seu discípulo Milton FRIEDMAN colocou no prefácio de 1982 em sua obra prima “Capitalismo e Liberdade”: “Somente uma crise – real ou percebida – produz transformações verdadeiras. Quando uma crise ocorre, as ações que se tomam dependem das ideias que estão aí. Essa, creio, é nossa função básica: desenvolver alternativas às políticas existentes, mantê-las vivas e disponíveis até que o politicamente impossível se transforme no politicamente inevitável.”20 .
Mais do que mera provocação da minha parte, talvez se deva criar as condições para a emergência a partir dos recursos de seu inimigo21 onde as suas observações sirvam menos para serem subestimadas e mais como inspiração. Lembrando o alerta de Benjamim: “A grotesca subestimação do adversário, na qual se baseiam suas provocações, mostra até que ponto a posição desta inteligência radical de esquerda está de antemão perdida”22. A lição conduz ao âmago do que viemos insistindo: qualquer ideia de um modo realista politicamente que pretenda enfrentar a condição neoliberal deve-se haver com o sintoma do fracasso em responder adequadamente ao descontentamento neoliberal e encarar uma certa “melancolia de esquerda” que condena o neoliberalismo como única política, em favor de uma força real que reivindica o impossível até que se transforme no politicamente inevitável.
Não existe um desejo natural ao neoliberalismo23. É de montagem libidinal, a rigor, que se trata. Mais do que propriamente uma identificação positiva com neoliberalismo, trata-se em geral de sua naturalização através da despolitização operada por sua visão de mundo. Seu realismo está neste tipo de apelo: cada um por si, fracasso e o sofrimento psíquico são problemas individuais, afinal “não há uma coisa como sociedade (...) apenas indivíduos, homens e mulheres,
19 HAYEK, Friedrich von. “El Mercurio”, Santiago de Chile, 12 de abril de 1981, p. D8- D9.
20 FRIEDMAN, Milton. Capitalism and Freedom. Fortieth Anniversary Edition With a new Preface by the Author. With the Assistance of Rose D. Friedman. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2002 [1962], p. xiv (grifo nosso).
21 Cf. a parte 3 “Zombie time” de LAND, Nick. Suspended Animation. Urbanatomy E- publications. Urban Futures Pamphlets – Series 1: Times Sequence (2011- 13) #3, 2013.
22 BENJAMIN, Walter. “Melancolia de Esquerda”. In: Documentos de Cultura, Documentos de Barbárie (escritos escolhidos) Seleção e apresentação de Willi Bolle. Tradução de Celeste de Sousa et. al. . São Paulo: Cultrix/ Editora da USP, 1986, p. 139.
23 FISHER, Mark. K- Punk – Volumen 2. Escritos reunidos e inéditos (Música y política), p. 482.