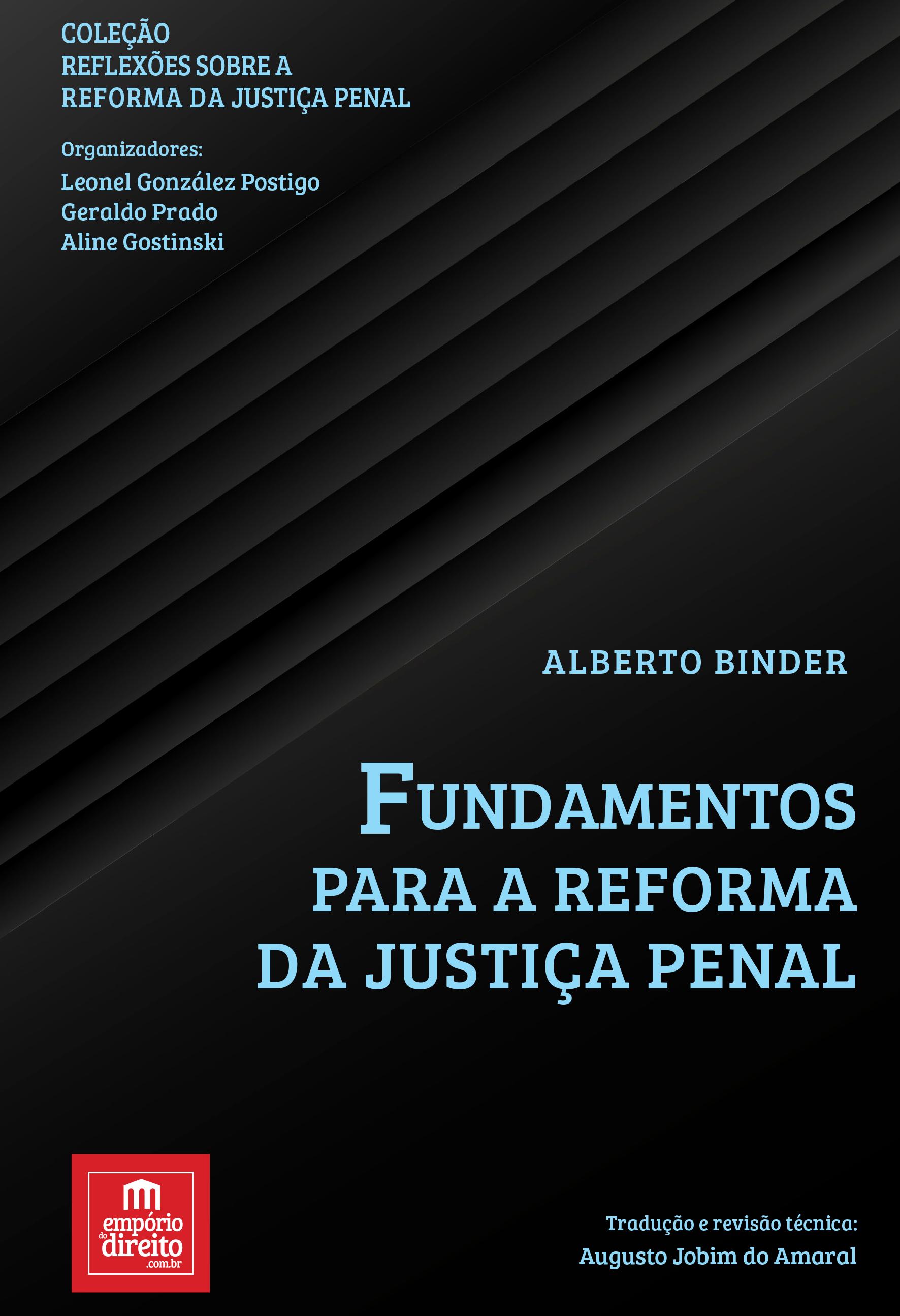
Organizadores: Leonel González Postigo
Geraldo Prado
Aline Gostinski

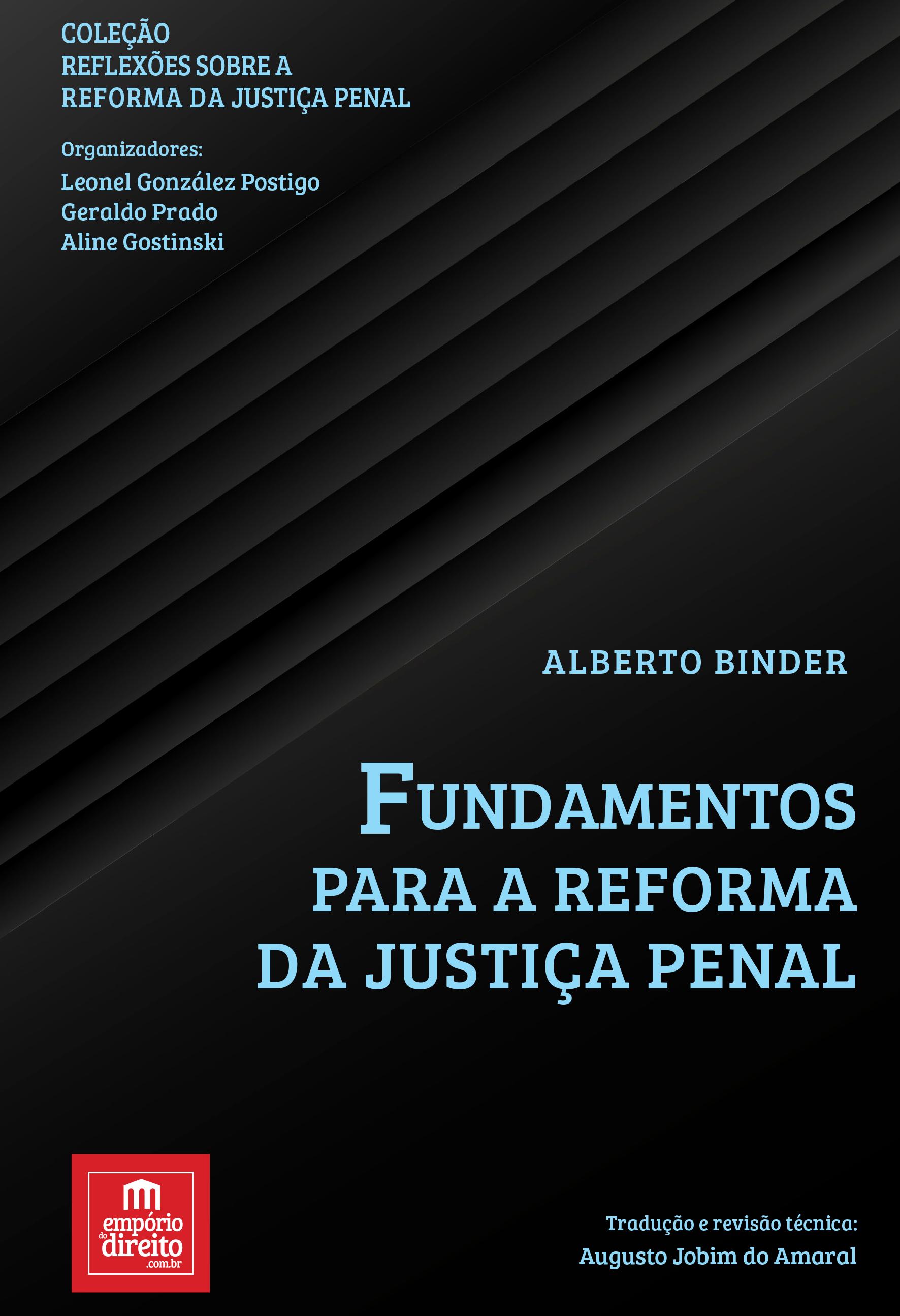
Organizadores: Leonel González Postigo
Geraldo Prado
Aline Gostinski
SOBRE A REFORMA DA JUSTIÇA PENAL
VOLUME I

ALBERTO BINDER
Tradução e revisão técnica: Augusto Jobim do Amaral
Copyright© Tirant lo Blanch Brasil
Editor Responsável: Aline Gostinski
Assistente Editorial: Izabela Eid
Diagramação: Jéssica Razia
CONSELHO EDITORIAL:
Aldacy Rachid Coutinho (UFPR)
Aline Gostinski (UFSC)
Antônio Gavazzoni (UNOESC)
Aury Lopes Jr. (PUCRS)
Eduardo Lamy (UFSC)
Juan Carlos Vezzulla (IMAP-PT)
Julio Cesar Marcelino Jr. (UNISUL)
Marco Aurélio Marrafon (UERJ)
Orlando Celso da Silva Neto (UFSC)
Rubens R. R. Casara (IBMEC-RJ)
Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino (IMED)
Alexandre Morais da Rosa (UFSC e UNIVALI)
André Karam Trindade (IMED-RS)
Augusto Jobim do Amaral (PUCRS)
Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva (ESMESC)
Jacinto Nelson de Miranda Coutinho (UFPR)
Juarez Tavares (UERJ)
Luis Carlos Cancellier de Olivo (UFSC)
Márcio Staffen (IMED-RS)
Paulo Marcio Cruz (UNIVALI)
Rui Cunha Martins (Coimbra-PT)
Thiago M. Minagé (UNESA/RJ)
B499f v. 1
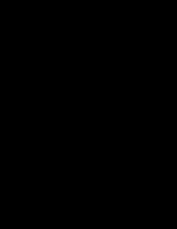
Binder, Alberto
Fundamentos para a reforma da justiça penal / Alberto Binder ; organização Aline Gostinski , Geraldo Prado , Leonel González Postigo ; tradução Augusto Jobim do Amaral. - 1. ed. - Florianópolis, SC : Empório do Direito, 2017.
recurso digital; 1MB
Tradução de: Fundamentos para la reforma de la justicia penal
Formato: ebook
Modo de acesso: world wide web
ISBN: 978-65-5908-660-3 (recurso eletrônico)
1. Direito penal. 2. Organização judiciária penal. I. Gostinski, Aline. II. Prado, Geraldo. III. Postigo, Leonel Gonzalez. IV. Amaral, Augusto Jobim do. V. Título. VI. Série.
17-42716
CDU: 343
Bibliotecária responsável: Elisabete Cândida da Silva CRB-8/6778
É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art.184 e §§, Lei n° 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei n°9.610/98).
Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch.
Fone: 11 2894 7330 / Email: editoratirantbrasil@tirant.com / atendimento@tirant.com tirant.com/br - editorial.tirant.com/br/ Impresso
Tradução e revisão técnica: Augusto Jobim do Amaral

O abandono do sistema inquisitorial e sua substituição por um modelo acusatório constitui a peça central da reforma da justiça criminal ao longo dos últimos 25 anos na América Latina. Este movimento histórico, que encontra suas origens na antiguidade, foi refundado recentemente e se instalou com força na região desde o início da década de 1990, com a sanção de vários códigos acusatórios orais, que inauguraram um novo e complexo caminho de reformas.
Este processo envolveu esforços de mobilização em vários níveis. Intelectualmente, a estrutura conceitual do movimento iluminista da Revolução Francesa resultou em ideias novas e frescas nos espaços acadêmicos da América Latina, que seguiram e apreenderam esse processo com muito cuidado. No século XX, uma geração de intelectuais latino-americanos e espanhóis exilados começaram a refletir sobre a necessidade de produzir mudanças concretas nos sistemas de justiça da região. Foi assim que a província de Córdoba, na Argentina, sancionou um código com traços adversariais em 1939, que serviu de modelo para muitas províncias e até para outros países, como o caso da Costa Rica. Este movimento intelectual também se traduziu na elaboração de um anteprojeto de código para a justiça nacional argentina em 1986 que, embora tenha naufragado ao nível local, proporcionou uma plataforma para debates legislativos que estavam se dando –por exemplo – na Guatemala. Este movimento também foi capaz de articular esforços institucionais desde o “Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal” que, em 1989, aprovou o “Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica”, produto de um esforço acadêmico de vários países latino-americanos. Em nível internacional, a partir de todos esses projetos, a cooperação começou a jogar um papel preponderante mediante o financiamento de atividades de socialização, capacitação e coordenação institucional na maioria dos países. O apoio da cooperação internacional permitiu a realização de projetos de pesquisa, produção de materiais, infra-estrutura e visibilidade, entre outros objetivos. Sob o nível institucional, os Judiciários, Ministérios Públicos e Defensorias criminais experimentaram profundas mudanças internas. Em alguns casos, aumentando suas funções ou recursos humanos; em outros, através da criação de escolas de formação para discutir seus novos papéis no processo penal. Além disso, desde a sociedade civil, produziram-se diversas instituições que veicularam o apoio à cooperação internacional e também desempenharam um papel central nos debates políticos para lançar as bases e orientar os processos de reforma que estavam ocorrendo.
Não obstante todos estes esforços, a forte influência dos códigos italianos de 1913 e 1930 afastaram o Brasil do debate que estava acontecendo na América
Latina. É por isso que o sistema processual atual foi concebido e desenhado num contexto ditatorial (1941), cuja conflitiviade social era completamente diferente da atual. Embora este sistema tenha sofrido mudanças normativas nos últimos anos, sua estrutura fundamental identifica-se com as características de um modelo jurídico inquisitorial, que se enquistou em cada canto do funcionamento da justiça penal.
É por isso que, com este primeiro livro de Alberto Binder1, damos início a uma Coleção que tem como objetivo geral reposicionar e alimentar o debate sobre a necessidade de reforma da justiça penal no Brasil. Este debate não é novo. Pelo contrário, tem sido alimentado pela contribuição de grandes processualistas brasileiros que insistiram e continuam a lutar por um sistema de justiça criminal democrático e compatível com as exigências impostas pela Constituição da República de 1988 e pelos Tratados Internacionais que o país subscreveu. Ademais, esta coleção tem dois objetivos específicos: por um lado, contextualizar os debates locais no movimento profundo que vem atravessando toda a região latino-americana; e, por outro, repensar a base de uma justiça penal de caráter acusatório, tornando visível que a dificuldade de sua instalação responde a uma configuração inquisitiva que vem sendo fortalecida há séculos. Daí que a luta pela “adversarialidade” é um caminho muito complexo e – como nos ensina Binder –“apenas um pensamento infantil pode acreditar que o sistema inquisitorial possa ser deixado para trás com um passe de mágica ou com uma nova legislação.” Esta ideia marca claramente que a “reforma da justiça penal” é um processo cujo sucesso ou fracasso reside em grande parte no campo das práticas dos atores envolvidos no processo penal (juízes, promotores, advogados, funcionários, polícia, funcionários de governo, sociedade civil, escolas de direito, escolas judiciais etc.). E, consequentemente, este processo requer, não apenas transformações normativas e organizacionais, mas acima de tudo, exige uma mudança cultural no modo como se compreende e se praticada o processo penal.
É por isso que, no caminho da construção de um novo sistema de justiça penal, o grande desafio é repensar nossas atuais práticas e desencadear o que Binder denomina de “duelo de prácticas”, ou seja, a identificação daquelas práticas próprias do sistema inquisitivo e sua substituição por aquela compatível com o sistema acusatório. Alguns destes “lutos” necessitarão passar inevitavelmente por uma dimensão de mudança legislativa, embora muitos outros possam ser implantados e executados mesmo sob o sistema atual (dentro do qual o CPP é apenas mais uma ferramenta, juntamente com a Constituição e os Tratados Internacionais de direitos humanos). Prova disso é a implementação das audiências de
custódia que, com seus erros e acertos, instalaram a audiência oral como marco para discussão e resolução de um dos aspectos mais sensíveis do processo penal (a prisão inicial e sua posterior validação).
A coleção que estamos lançando será integrada por autores locais e internacionais preocupados com a construção de um saber conceitual e prático que sustente estruturalmente as discussões sobre a reforma processual penal no Brasil. Através de tais obras, pretender-se-á abordar as notas centrais e características de um justiça penal adversarial, recolhendo a experiência da maioria dos países da região que passaram por caminhos semelhantes.
Por sua vez, com esta coleção, busca-se revigorar o papel das universidades, faculdades de direito, escolas judiciais, organizações científicas e outros espaços de produção de conhecimento, como articuladores e coordenadores de pesquisa e materiais que ilustrem os pontos críticos do processo penal atualmente, com a consequente e necessária geração de propostas de mudança.
O convite ao leitor está feito. Não apenas para se envolver na leitura das obras da coleção, senão para repensar e trazer novas idéias, reflexões e caminhos para a transformação definitiva do funcionamento cotidiano do sistema de justiça penal no Brasil.
Neste primeiro livro, Alberto Binder apresenta-nos um conjunto de trabalhos que abordam em profundidade as implicações do debate, projeto e implantação de uma reforma da justiça penal. O processo, que envolve uma política de longo prazo, requer uma visão abrangente que inclua todos os elementos que compõem esta agenda de trabalho. Assim, que este texto seja o primeiro da coleção e se estabeleça como um marco geral para os restantes trabalhos.
Em “Fundamentos para a reforma da justiça penal” é possível identificar duas perspectivas. Por um lado, um olhar sobre a arquitetura política do processo de reforma judicial, por meio do qual se entenderá qual é o papel desempenhado pelos diversos atores institucionais no âmbito de um novo sistema de justiça criminal. E, neste ponto de vista, pode-se também visitar a realidade latino-americana na coordenação de esforços e vontades para realizar esta mudança. E, por outro lado, o livro oferece uma abordagem teórica e prática das bases sobre as quais se constrói uma justiça de caráter adversarial. A combinação de ambas as visões é o que permite ao leitor tomar dimensão da complexidade que significa abandonar o sistema inquisitorial.
Inicialmente, o livro flui por meio de um percurso histórico que enfatiza a continuidade entre escolas de pensamento republicano dos últimos dois séculos e meio (do movimento crítico da justiça do “antigo regime” no período da ilustração até o movimento “rioplatense” e dos espanhóis exilados durante a primeira parte do século XX), cujo denominador comum versava sobre a tentativa de produzir uma reforma judicial abrangente que, definitivamente deixou para trás as práticas inquisitoriais.
Enquanto isso, as várias revoluções e rearranjos institucionais estavam gerando pactos e negociações que impediram a instalação real de uma justiça republicana e democrática. Prova disso é a versão final do Código de Processo Penal Francês de 1808 que surge como um pacto pós-Revolução Francesa. Embora tenha sido um avanço, ele consagrou um processo inquisitorial comedido que permeou posteriormente na legislação europeia e nos Códigos de Processo Penal da América Latina.
Pois bem, estas ideias não são novas, nem foram pacificadas. É por isso que insistimos em salientar que este não é um debate de modas circunstanciais, mas sim de uma cruzada histórico-política que mobilizou enormes esforços intelectuais, institucionais e econômicos nos nossos países. Todas estas vontades e contribuições não conseguiram saldar o amplo processo de mudança. Percebe-se que ainda o Brasil, Uruguai e a Justiça Federal Argentina são regulados por pro-
cessos mistos e as reformas estão em processo de discussão ou planejamento da implementação.
Sem prejuízo destes esforços, a história moderna nos mostra que o sistema inquisitorial manteve sua vigência no funcionamento diário dos processos penais, inclusive naqueles países que progressivamente foram sancionando códigos de caráter adversarial. É por isso que Binder afirma que “[...] mudar a justiça criminal não é uma alteração de um Código Processual por outro. Trata-se de inserir no campo da justiça criminal algumas novas práticas reativas à tradição inquisitorial que podem enfraquecer a estrutura atual deste campo”. Ou seja, o sucesso ou o fracasso da “Reforma Processual Penal” será dado prioritariamente no campo das práticas dos operadores, será aí onde se deve produzir o abandono decisivo das formas próprias do sistema escrito.
Por sua vez, o livro permite-nos advertir que na configuração da justiça criminal gravitam grandes tradições em torno da compreensão do “crime” e o papel do juiz no processo penal. A aproximação ao “caso penal” (posto em termos gerais) pode-se dar desde o conflito primário ou secundário, que dizer, seja considerando o dano seja enfatizando a desobediência à regra. Situar-se no primeiro cenário significará uma dinâmica processual e organizacional em que todos os incentivos (assistência médica e psicológica inicial da vítima, análise e preparação do caso por parte dos litigantes, uso e controle das saídas alternativas do procedimento, alcance e limites do papel do juiz nas audiências preliminares etc.) versarão sobre a reparação do dano ou sobre a dor causada pelo agressor, em que as próprias partes serão as donas do seu conflito. De maneira oposta, colocar-se no segundo cenário implicará que todos os incentivos (principalmente métodos de reação do poder estatal em face da desobediência da norma impostas pelo Estado) consistam na condenação dos rebeldes para evitar que voltem a transgredir a vontade da autoridade judicial.
Tais abordagens têm suas manifestações concretas nas legislações (como, por exemplo, nos princípios da legalidade processual e oportunidade), e são reações culturais que se infiltram nas práticas cotidianas da justiça penal. Neste processo, a instituição que adquire maior destaque é o Ministério Público, o qual tem sido chamado a gerir todos os casos e, em particular, o conflito ou interesse das vítimas. Enquanto os promotores têm experimentado um desenvolvimento e evolução sustentada nos últimos anos, a verdade é que, atualmente, somos confrontados com a necessidade de superar a visão individual dos casos, entendendo que o crime é um fenômeno muito mais complexo e relativo a profundas redes de vinculação e mobilização de recursos. Portanto, o autor fala das tarefas urgentes no contexto da ineficácia da persecução penal sob o enfoque político-criminal.
Ao mesmo tempo, no texto apontam-se as linhas de trabalho comum para a promoção da reforma da justiça penal e civil, como agendas que encontram certos pontos de contato, principalmente porque a ineficácia de uma impactará diretamente na outra. Mas ainda sim, consideramos, a modo gráfico, que há uma desproporção entre o número de casos tratados, nos quais a justiça penal normalmente concentra mais de um quarto do total.
Sendo assim, por que colocar este conjunto de ideias para o Brasil? Como pode ser apreciado no livro, a reforma do processo penal é um movimento inevitável na região. Todavia, claramente, esta não é a justificativa. Em que pese ser um processo majoritário, não traduz que defendamos a necessidade de incorporação ao Brasil. Na verdade, a adequação destas reflexões está relacionada com a necessidade de reforçar o debate acadêmico brasileiro desde uma perspectiva político-prática que integre as lições que a reforma da América latina nos deixou e está nos deixando.
Estas reflexões estão orientadas pelos ideais de reduzir os altos níveis de arbitrariedade do sistema de justiça criminal, de processar e julgar os fatos que prejudicam o Estado de direito, de resgatar do papel do juiz no quadro democrático, de empoderar da vítima, de instalar um Ministério Público que gerencie os seus interesses e forças de segurança que estejam a serviço dos cidadãos. Estas são as verdadeiras razões porquê promovemos este debate.
Estes esforços são os que guiam o trabalho de Alberto Binder. Não somente o trabalho acadêmico por meio de reflexões e ideias plasmadas em suas obras, senão também – e principalmente –, em cada canto dos países da nossa região, em prol de construir sistemas de justiça que sejam menos violentos e mais compatíveis com a ordem democrática e republicana. É por isso que eu tenho orgulho de apresentar este livro, que sem dúvida será uma grande contribuição para o debate no Brasil.
A história da legalidade na América Latina é a história da fragilidade da lei. Esta frase que parece dramática ou exagerada (e, sem dúvida, sua formulação é excessiva) deixa de parecê-la quando nos deparamos com um sem-número de acontecimentos cotidianos: normas claras, claríssimas, de nossas Constituições que são descumpridas sem maior problema, direitos elementares que são considerados meras expectativas ou utopias sociais (cláusulas programáticas), abusos nas relações sociais que contradizem normas indiscutíveis da legislação comum, ilegalidade no exercício da autoridade pública, privilégios legais ou administrativos irritantes, impunidade generalizada e outras tantas manifestações similares que qualquer cidadão comum não teria nenhum problema em enumerar ou lhe bastaria simplesmente repetir os ditos populares que expressam a profundidade da descrença social no valor da lei.
Este estado permanente de anemia legal não é um produto da época. Não podemos descrevê-lo como uma crise de legalidade, porque isso pressuporia que em algum momento de nossa história imperou a lei e que depois se enfraqueceu por algum conjunto de circunstâncias. Uma perspectiva dessa natureza, bastante comum nos discursos públicos que apelam para um passado de glória, nunca bem delimitado, nunca bem documentado, iria nos dar uma visão empobrecida de nosso problema. Desde seu nascimento, o Estado indiano configurou-se como um sistema de privilégios encoberto por um emaranhado de legalidade ineficaz. Alguns explicarão essa contradição como a tentativa frustrada de frear a reconstrução do sistema feudal na nova América (tentativa que finalmente produziu um sistema feudal igualmente sem legalidade feudal) outros dirão que a bondade dos monarcas e de seus sacerdotes tentou frear a cobiça dos adiantados (e finalmente produziu escravismo e servidão sem “escravos nem servos”) ou que as distâncias, os problemas de comunicação, a vastidão e veracidade de um território conspiravam contra as boas intenções da Nova ou Novíssima Recopilação. Estas e outras explicações similares – realmente de escasso valor explicativo diante de um fenômeno histórico tão complexo – serviram-nos para ocultar as novas ilegalidades que cada época histórica produzia, gerando uma sucessão cíclica de emergências que se reparavam com emergências, de ilegalidades que convocavam outras no-
vas. Até o presente, custa-nos na América Latina encontrar o caminho da força da lei e submergimo-nos permanentemente na “lógica da emergência”.
Evidentemente, fragilidade de lei tendo sido também fragilidade da razão jurídica. Não apenas porque a razão de Estado tem imperado em nossa história senão porque também nas relações sociais pouco importou a referência à lei, ou quando tenha sido ela utilizada mais para ratificar o poder do poderoso do que para fortalecer a fraqueza de quem efetivamente precisava recorrer à razão jurídica. Aqui também não podemos falar de crise senão de um longo processo histórico e social de enfraquecimento que impediu que a institucionalidade se entrelaçasse com nossa vida quotidiana como um sistema de regras igualitárias em vez de um refúgio para privilégios maiores ou menores.
Entre a fraqueza da lei e a anemia da razão jurídica moldou-se nossa cultura jurídica. Sob duas formas predominantes: uma, a forma curial que fez do saber jurídico um saber de formas, cabalas e rituais irrelevantes, e do ensino uma transmissão artesanal de gestão; a outra, o conceitualismo que permitiu criar outro saber jurídico paralelo ao curial – apesar de seu desprezo por ele – também despreocupado em dar força para a lei e entretido em milhares de classificações arbitrárias e tão irrelevantes como os procedimentos do gestor. Por outro lado, ambas as formas constituíram a cultura jurídica como uma cultura profissional e não como uma cultura da cidadania. Embora, cada vez que os defeitos e fragilidades dessa cultura jurídica se tornam evidentes, carrega-se o fardo nas costas novamente de uma cidadania que tem muito poucas razões verdadeiras para acreditar na lei e no direito. A autonomia do conjunto de práticas profissionais que constituem predominantemente o mundo jurídico e que se desentende dos efeitos sociais que produzem constituem hoje um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento de uma república democrática. Nossa cultura jurídica é, em grande parte, um conglomerado autoritário que se reproduz através de outras práticas de ensino, formal e informal, que ainda não aprendemos a criticar profundamente e menos ainda a modificar. Ela foi moldada pela tradição inquisitorial e, por sua vez, reproduz e perpetua essa tradição do modo mais forte possível, quer dizer, sem grande consciência disso.
Esta visão exagerada – deve sê-la por razões comunicacionais, para que se torne visível uma realidade que nós advogados estamos tão acostumados, está tão complexa com nossa vida quotidiana, que dificilmente é percebida, mas é pintada com cores fortes, embora essa pintura distorça alguma coisa daquilo que precisamos ver – não é o produto de circunstâncias particulares. É o modo como a primeira etapa do “estado moderno”, que se constitui em volta das grandes monarquias absolutas, resolve o problema da “gestão do novo mundo”.
Como nos ensinou Dussell, América Latina cumpre um papel importante no nascimento da modernidade. A Europa que batalhava para entrar no grande sistema inter-regional (que se encontrava ao oriente dela) e que, após séculos, em grande medida, ainda se encontrava fechado ao seu comércio e influência (Lepanto estabeleceu um status quo, mas também uma barreira intransponível). A busca de novas rotas que financiava o capital italiano teria sido totalmente diferente se a Europa não tivesse “topado” com a imensidão da América. Ali nasceu não só um novo “mundo” senão, em grande parte junto com a circunvalação completa da África, constituiu-se “o mundo”, o “sistema-mundo” (Wallerstein) que modificou totalmente a cultura e a economia do Ocidente em expansão. Para assegurar e “administrar” essa expansão, nasce um novo modelo de Estado, uma nova forma de concentração de poder que deixa para trás o sistema feudal e sua legalidade estamental, para exercer “soberania” sobre territórios mais vastos, supostamente habitados por uma nação. Nasce dessa forma o Estado-Nação, cuja crise hoje percebemos, mas que ainda não deixou de existir. Este Estado-Nação caracteriza-se por novas necessidades de gestão e, para isso, precisa também reduzir a complexidade, anular a diversidade. A “razão gestora” será o grande instrumento da modernidade para simplificar o mundo, elaborar categorias unitárias diante do diverso, abstrações em face de fenômenos particulares e concretos incontroláveis. Uma nova forma da razão instrumental que não é apenas nem principalmente produção senão, antes de mais nada, administração da diversidade em direção a fins produtivos concentrados. Simplificação, redução da diversidade, coisificação, concentração de poder, abstração, serão outras palavras para o projeto político de “uma nação, uma religião, um rei”. Deste caráter abrangente, nasce a força da modernidade inicial e a persistência de muitas de suas ilusões que hoje vemos desmoronar frente a uma nova etapa da globalização que invoca também um novo tipo de estado moderno, embora com as mesmas técnicas de simplificação e a mesma realidade de poder concentrado.
Esta primeira etapa do Estado moderno consolida um novo modelo de sistema judicial que é o sistema inquisitorial. A partir da recepção do direito romano tardio (Corpus Iuris Civile) e do projeto da igreja romana de consolidar sua primazia vão incorporando-se a partir de século XII as velhas técnicas da “cognitio extraordinem” que nunca constituíram a essência do funcionamento do sistema judicial romano senão sua adaptação às necessidades imperiais. Mas será no século XVI quando se consolidará o sistema inquisitorial como o novo modelo judicial dos Estados-Nação, administrado pela monarquia absoluta. O “Malleus Malleficarum” (1479) será a obra que dar-lhe-á sustento moral, religioso e técnico ao novo sistema, junto com as obras de Bodino, as práticas de Spina e as veleidades de Jaime I.
A incorporação do sistema inquisitorial não será a adoção de meras técnicas processuais, senão um giro copernicano a respeito das práticas judiciais anteriores, que estende seus efeitos até nossos dias. Ele se constituirá como um sistema judicial (e um sistema de legalidade) completo, que terá as seguintes características:
a. Frente à diversidade dos conflitos e às antigas formas de resolver os pleitos entre partes, nasce o conceito de infração. Este conceito é capital para entender todo o desenvolvimento do direito penal e processual penal até nossos dias. Em cada conflito (o pleito de João com Pedro –conflito primário –) se sobreporá outro, mais forte e principal, que é o pleito entre o infrator e o monarca, isto é, a relação de desobediência. (conflito secundário). A partir de então e até o presente o direito penal dirá “o que me interessa, João, não é que batesse em Pedro, mas o fato de que, tendo batido nele, desobedecesse a mim, o monarca, ou à ordem que estabeleci, essa será a causa e a razão de teu castigo.”
b. A administração da justiça organiza-se através de um corpo de profissionais, tanto os julgadores como um novo personagem que será o Procurador do rei, quem ocupa (e ocupará até o presente) o lugar da vítima, primeiro a seu lado e depois afastando-a completamente. Estes corpos de servidores públicos (que por sua vez darão nascimento à “advocacia moderna”) serão organizados de um modo piramidal, correlato à ideia da concentração do poder jurisdicional no monarca. Sucessivos estamentos dessa pirâmide terão maior poder: de qualquer maneira, o último degrau desse modelo de organização será o menos poderoso e suas decisões sempre provisórias, já que pelo sistema de consultas obrigatórias ou de meios de impugnação suas decisões sempre serão revisadas. Este modelo de verticalização que rompe com a ideia tradicional, segundo a qual o juiz é o de primeira ou única instância, continuará até nossos dias e será uma das caraterísticas mais fortes do sistema inquisitorial.
c. Guiada pela anterior, abandonam-se as formas adversariais próprias do direito romano e germânico e adapta-se o funcionamento do sistema judicial à preeminência do conflito secundário, isto é, da relação de desobediência. O duelo será entre o infrator e o restaurador da ordem (o inquisidor, representante do monarca ou de sua ordem pública). Este duelo se desenvolverá através de um procedimento (sem dúvida desigual) cujo objetivo não será a decisão final (a sentença) senão restaurar, durante o procedimento e graças a ele, a relação de obediência (confissão como submissão). Desde então, estabeleceu-se a primazia do procedimento e este como exercício de poder. Nossos atuais sistemas de justiça penal
conservam ainda esta característica e isso explica a persistência do “expediente”1 como prática fundamental e fundacional de nossos sistemas judiciais. O procedimento é a expressão material do conflito secundário.
d. Adota-se a forma escrita e secreta. Ambas dimensões são parte do mesmo. No processo inquisitorial não se estabelece um diálogo nem um debate, senão uma relação de poder direcionada a obter submissão. Daí que, desse ponto, o infrator (que já está constituído como tal, uma vez que ingressou no sistema inquisitorial, isto é, fora admitida a denúncia, algo similar ao que ocorre com o atual uso da prisão preventiva) seja um objeto que deve ser transformado (coisificação, despersonalização que dura até nossos dias). O escrito e o segredo constituem um novo mundo judicial, autorreferente, autista a respeito do meio social, com uma linguagem própria (ainda se fala nos tribunais de um modo diferente e se usam fórmulas antigas do idioma), preocupado preferencialmente com suas regras internas, com seus mandatos de adaptação, etc. Deste mundo fechado, nascerá a cultura inquisitiva que é a matriz básica de funcionamento de nossos atuais sistemas judiciais.
e. Os defensores e os juristas das nascentes universidades integram-se ao sistema inquisitivo e predomina a identidade corporativa à diferença de funções. Deste modo, o conjunto de advogados gira em torno e constrói o mesmo sistema inquisitivo, sejam eles juízes, promotores, defensores ou professores de direito. Este caráter abrangente do sistema inquisitorial, sustentado originariamente pela ideia de cruzada moral na qual não havia outra possibilidade a não ser estar em um grupo ou em outro (se o infrator é inocente Deus revelará sua inocência, se é culpado, seu defensor é seu cúmplice) mudará de formas até o presente mas deixará a marca de uma comunidade profissional também autorreferente e com fortes padrões de adesão e filiação. Isso faz com que o problema do sistema inquisitorial seja também um problema do exercício da advocacia e do ensino universitário.
f. Finalmente, toda esta organização, que parece fortemente estruturada através de normas e práticas escritas, de estamentos profissionais, de uma linguagem técnica, do segredo e a solenidade, de fórmulas inabaláveis é, ao contrário, extremamente fraca, porque toda esta estrutura se sustenta em um vértice de poder com capacidade de estabelecer exceções, de pular etapas e passos, de imperium sem fundamentação, de remover ou sancionar seus servidores públicos (que são empregados
do rei, do governo, do Estado), de perseguir defensores e juristas, enfim, uma fachada de rigidez e força que escondem uma estrutura fraca e submissa. Nos sistemas inquisitoriais, o conceito de independência judicial é inaplicável porque se trata de um modelo de administração de justiça pensado e organizado sobre a base da submissão do servidor público.
Em nossos países transportou-se este maquinário judicial, mas com caraterísticas especiais. Não tanto quanto a respeito de seu funcionamento ou organização senão quanto a sua adaptação ao sistema fracionado de poder deste vasto continente. Como já foi dito a legalidade inquisitorial não pôde sequer se cumprir como tal porque o poder concentrado não teve a capacidade de estender seu poder do mesmo modo que na Espanha recém “unificada”. Nosso sistema feudal, sem legalidade feudal, conviveu com uma legalidade inquisitiva (totalmente contrária à legalidade feudal) que não podia nem devia ser aplicada. Daí as tensões que ao longo dos séculos existiram entre a legalidade dos monarcas e as regras efetivas do Estado indiano. Isto influenciou em nosso desenvolvimento institucional de dois modos que constituem as duas caras de uma mesma moeda: por um lado, impedindo que se desenvolvesse uma legalidade e uma prática judicial que cumprisse uma função real na vida econômica e social; por outro, gerando um espaço ficcional de proclamação e falsas obediências (acata-se, mas não se cumpre) que tranquilizava os monarcas e permitia-lhes aproveitar o real (as remessas de metais preciosos) sem renunciar à legitimidade do formal (as leis das índias). Quando Espanha decide “administrar” seus reinos sob outras formas (as reformas de Carlos III) já se desencadeia o fim do império espanhol na América. Esta dupla configuração da legislação indiana teve dois efeitos que duram até o presente: um impediu o desenvolvimento de algo parecido como uma “lei da terra” (boa ou má, mas arraigada na vida social criando uma prática social de gestão de legalidade). Ao invés, a vida social ficou regida pela arbitrariedade e o interesse imediato. Por outro lado, gerou um mundo de ficções e fantasias de legalidade (as repúblicas aéreas na terminologia bolivariana), alimentado por um sistema judicial e uma corporação profissional que o converteu em seu mundo. A artificialidade do mundo da legalidade se converteu no “mundo real” da corporação jurídica. Tal como ocorre até o presente.
Nem tudo é tão linear como se expôs, pois a configuração histórica dos sistemas inquisitivos e o direito penal da infração que lhe é próprio foi objeto de agudas e permanentes controvérsias. Desde os primórdios do sistema inquisitorial, a obra teórica e prática dos inquisidores foi contestada e combatida. Não
somente os excessos de um Bartolomeu Spina, mas o próprio Malleus Malleficarum, encarregado pelo mesmo Papa aos inquisidores Sprenger e Kramer, foi considerado uma obra tendenciosa e odiosa por seus contemporâneos. Em um primeiro momento, Wyer e os movimentos vinculados a Erasmo de Rotterdamm consideraram esses livros e a perseguição que provocavam o melhor exemplo do interesse em manter a superstição e lucrar com ela. Muito mais certeira ainda foi a crítica do defensor de bruxas Francisco Spee. O nome de sua obra “Cautio Criminalis” antecipa-nos um debate que percorrerá a história até nossos dias e que surge não tanto de ideais como da constatação terrível do abuso, do castigo de inocentes, da violência sem controle e do apego a ela por parte dos déspotas e seus burocratas.
Não obstante, esses movimentos foram antecipação de algo muito mais abrangente e importante: a crítica à justiça do “Ancién régime” que levará adiante o movimento da ilustração. Da defesa de Callas por Voltaire, até o resumo de Carrara, passando por Beccaria, Filangieri, Montesquieu ou Pagano nos encontramos diante de um dos maiores esforços para desmontar o modelo inquisitorial e assentar as bases de uma justiça penal republicana, tanto no plano cultural como num projeto de uma nova engenharia institucional. Também, a partir do Plano de Legislação Criminal de Marat até o Código de Baviera de Anselm v. Feurbach assistimos à melhor tentativa de levar à prática os princípios políticos da República no âmbito da justiça penal, geralmente em condições sociais e políticas adversas. Esta geração de pensadores, que nutriu tanto o despotismo ilustrado como o republicanismo mais extremo, dispôs as bases e os grandes modelos de entendimento do problema judicial até os nossos dias.
Todavia, assim como a Monarquia absoluta encontrou na Inquisição seu instrumento de controle e dominação, o novo Estado moderno, de cunho bonapartista, projetará um novo modelo judicial, que reúne todas as características do sistema inquisitorial e lhes dá novos valores (todos os Estados europeus e latino-americanos que recém estavam entrando no século XIX agora copiarão a “legislação moderna”) e também o aperfeiçoa dotando-o ademais de uma polícia moderna e de uma pretensão de meticulosidade (expressa no conceito da ação pública) que repotencializa o direito penal de tipo infracional. O Código de Instrução Criminal de 1808 restaura a inquisição apesar dos esforços que tinham feito os ilustrados. O predomínio final dos magistrados, que a legislação francesa de 1670 considerava como ápice da sabedoria jurídica, terminou por impor seus costumes e suas práticas, funcionais ao novo modelo de poder concentrado.
É assim como se consolida o direito processual penal das grandes burocracias judiciais. As aspirações principais do pensamento liberal: o ajuizamento público, os júris, a determinação exata das leis e as penas, o discernimento claro das provas, a aplicação da razão ao julgamento penal, a taxativa divisão entre di-
reito e moral, o respeito ao foro íntimo, a abolição da tortura, a imparcialidade e independência dos juízes demorará ainda bastante em se impor na adoção formal das leis e espera ainda seu tempo diante das práticas inquisitoriais que ainda são moeda corrente em nossos sistemas judiciais.
A recepção dos modelos franceses pelo resto da Europa continental e, em especial, pelas novas “nações” Alemã e Italiana, na segunda metade do século XIX, produzirá textos processuais que renovarão a influência dos modelos franceses. Além disso, se produzirá um novo desenvolvimento teórico, que lentamente retirará o direito processual da visão curial e cedo o levará ao modelo conceitualista (do qual zombava o próprio Ihering). As novas reflexões sobre a relação jurídica processual (v. Bülow), a aplicação das categorias da então nascente Teoria Geral do Direito, a polêmica sobre a “actio” (Windsheid e Müther) e outros textos já considerados clássicos, estabelecem os cânones do novo direito processual. Levados à Itália por Chiovenda, desenvolvidos e ampliados por toda a Escola Italiana (Calamandrei, Carnelutti, Redenti, Allorio, Manzini, Florian e tantos outros) e pelos novos Códigos de 1913 e 1930, terão uma grande influência em toda América Latina guiados por Couture, Alcalá Zamora, Alsina, Sentís Melendo, Velez Mariconde e toda uma geração de processualistas que se forma com eles. No entanto, pouco se adverte que todo esse aparelho conceitual era uma teorização sobre o sistema inquisitivo: que os supostos conceitos abstratos tinham sido construídos sobre a base de um modelo determinado de processo penal e que este tinha imposto suas categorias diferenciais: o trâmite sobre o litígio, o trâmite sobre a decisão de fundo, a suposta “neutralidade” das formas processuais, a omnipotência do juiz que converteu os sujeitos processuais em “auxiliares da justiça”, a burocratização das formas, das notificações, das citações, o casuísmo convertido agora em veracidade classificatória, a ausência de uma reflexão política que escondia uma alta funcionalidade política; enfim, assim como as velhas doutrinas morais e religiosas ocultavam as verdadeiras funções da inquisição, o novo direito processual e suas teorias gerais mostravam-nos um sistema judicial muito diferente do que existia na prática e nos ocultava suas verdadeiras funções no âmbito da fragilidade da República.
Quando observamos este processo no terreno de nossos países, mais titânicos são os esforços para construir uma justiça republicana (ainda fica pendente uma investigação que resgate todos os textos sobre a administração da justiça produzidos na primeira metade do século XIX e os analise em perspectiva regional) e mais retumbante os fracassos. Evidente é que a geração republicana da América, tal como para os ilustrados, tinha claro o papel de uma reforma total da administração da justiça, que deixasse para trás definitivamente as práticas inquisitoriais.
Tinha claro, também, que essa tarefa não era só uma tarefa “jurídica” senão que era uma das maiores contribuições à fundação de repúblicas, objetivos tão caros
tal qual a própria independência. Mas todas as tentativas, desde os radicais como os “Códigos Livignston” da Guatemala, até os menos agressivos como os “Códigos de Procederes” do Marechal de Santa Cruz na Federação Boliviano-Peruana, passando por inumeráveis tentativas nas leis, nos regulamentos e nas novas Constituições, foram derrotadas pela prática cotidiana da advocacia, pela grande força das rotinas e dos procedimentos, pela visão curial (da qual a Cúria Filípica de Hevia Bolaños, usado durante muito tempo e similar em sua forma a muitos dos atuais manuais e guias práticos de direito processual) ou por um pensamento jurídico que pensava que a dogmática jurídica pouco tinha a ver com o funcionamento concreto dos sistemas judiciais.
Todo o século XX nos encontra, então, com o sistema inquisitorial vivo e potente, embora revestido de diferentes roupagens:
1. Alguns países conservavam diretamente o velho modelo espanhol totalmente escrito, secreto, com provas legais, com identidade entre acusador e julgador. Definitivamente o velho modelo da “Constitutio Criminalis Carolingia” ou a Ordenança Francesa de 1670 (Argentina em seu sistema federal e em alguns de seus Estados, Chile, Paraguai, Venezuela, Uruguai, Nicarágua – com algumas variantes –, Honduras, Guatemala.). Neles a identificação entre as práticas inquisitoriais e seu projeto formal era total.
2. Outros países foram adotando progressivamente durante o século XX as formas do Código de Instrução Criminal Francês, seja diretamente ou pela grande influência Italiana. Embora estes sistemas se encontravam muito distorcidos em suas práticas e de fato funcionavam quase como sistemas escritos (Bolívia, Equador, Peru, Brasil, El Salvador e, com adoções mais antigas diretamente do texto francês, República Dominicana e Haiti)
3. Outros países, foram adotando ou mantiveram dentro do sistema misto francês um desenvolvimento do julgamento oral mais cuidadoso, sem prejuízo da forte influência da instrução escrita (Córdoba e outros Estados argentinos, Cuba – com a lei de repressão espanhola de finais do século XIX –, Costa Rica).
4. Finalmente outros países produziram sistemas mais complexos, com componentes formais do sistema acusatório, mas com práticas inquisitoriais e escritas muito claras. Nestes países é notório a forte influência do Ministério Público que assume o papel que em outros países assumia o juiz de instrução. Mas, em realidade, o funcionamento aproxima-se muito ao dos sistemas escritos, com alguns matizes (Panamá, Colômbia, México).
Com uma roupagem ou outra, o século XX não serviu para que a América Latina deixasse para trás o modelo inquisitorial. Só faria no final do século, aproximadamente em meados dos anos oitenta e com maior força na última década, quando se renovou a preocupação republicana pela administração da justiça. Desta vez, unida além disso, à necessidade imperativa de construir sistemas democráticos efetivos e não meras fachadas ou democracias fraudulentas. Venezuela, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Equador, Honduras, Nicarágua, República Dominica, Costa Rica, Guatemala, El Salvador conseguiram finalmente remover as estruturas formais do antigo sistema processual e hoje debatem-se, com maior ou menor sucesso, na tentativa de pôr em funcionamento seus novos modelos sem cair nas velhas práticas inquisitoriais que uma vez mais demonstram sua força. Seria um novo fracasso voltar a construir uma roupagem “moderna” para o velho sistema inquisitorial. Essa é a briga que nesses países atualmente está acontecendo e se materializa em reformas e contrarreformas, em ajustes e retrocessos, numa situação dinâmica cujo resultado ainda não pode ser previsto, mas que apela para que se continue trabalhando fortemente em cada um deles. Ali, a reforma do sistema inquisitorial está em marcha e o modelo de uma justiça republicana briga, novamente em circunstâncias sociais e políticas adversas, para não ficar presa pelas práticas dos anteriores sistemas.
Em outros países começou com força o debate e a preparação dessa mudança: Brasil, México, Panamá, Colômbia – apesar da sua dramática situação de violência – ou Peru, quem deve retomar ao caminho que iniciou na década dos noventa do século passado e que o autoritarismo do regime imperante e a manipulação do Poder Judicial deixaram em suspenso. Nestes países, é imperativo que se aprenda com a experiência dos outros e que se assuma como inevitável o custo da transformação. Ninguém mudará cinco séculos de sistema inquisitorial sem uma grande batalha e uma época de traumas. O contrário é mera ilusão ou desculpa conservadora. No entanto, uma adequada preparação da mudança, uma firme concentração de forças nos pontos nevrálgicos e a sustentação do projeto de transformação persistente, mediante ajustes e uma avaliação permanente, aparecem como ferramentas imprescindíveis para encarar o abandono do sistema inquisitivo.
O que deve ficar claro desta pequena e simplificada história, cujo objetivo é mostrar-nos como o espaço do judicial se configura historicamente, é que no século XX não foi bem sucedido em remover a justiça do “Ancién Régime” e apenas conseguiu mudar de roupagens as mesmas e velhas práticas da inquisição ou no máximo desencadear em suas últimas fases o processo de mudança.
Para a América Latina, deixar para trás definitivamente o modelo inquisitorial e seus serviços ao poder concentrado será uma tarefa do século XXI.