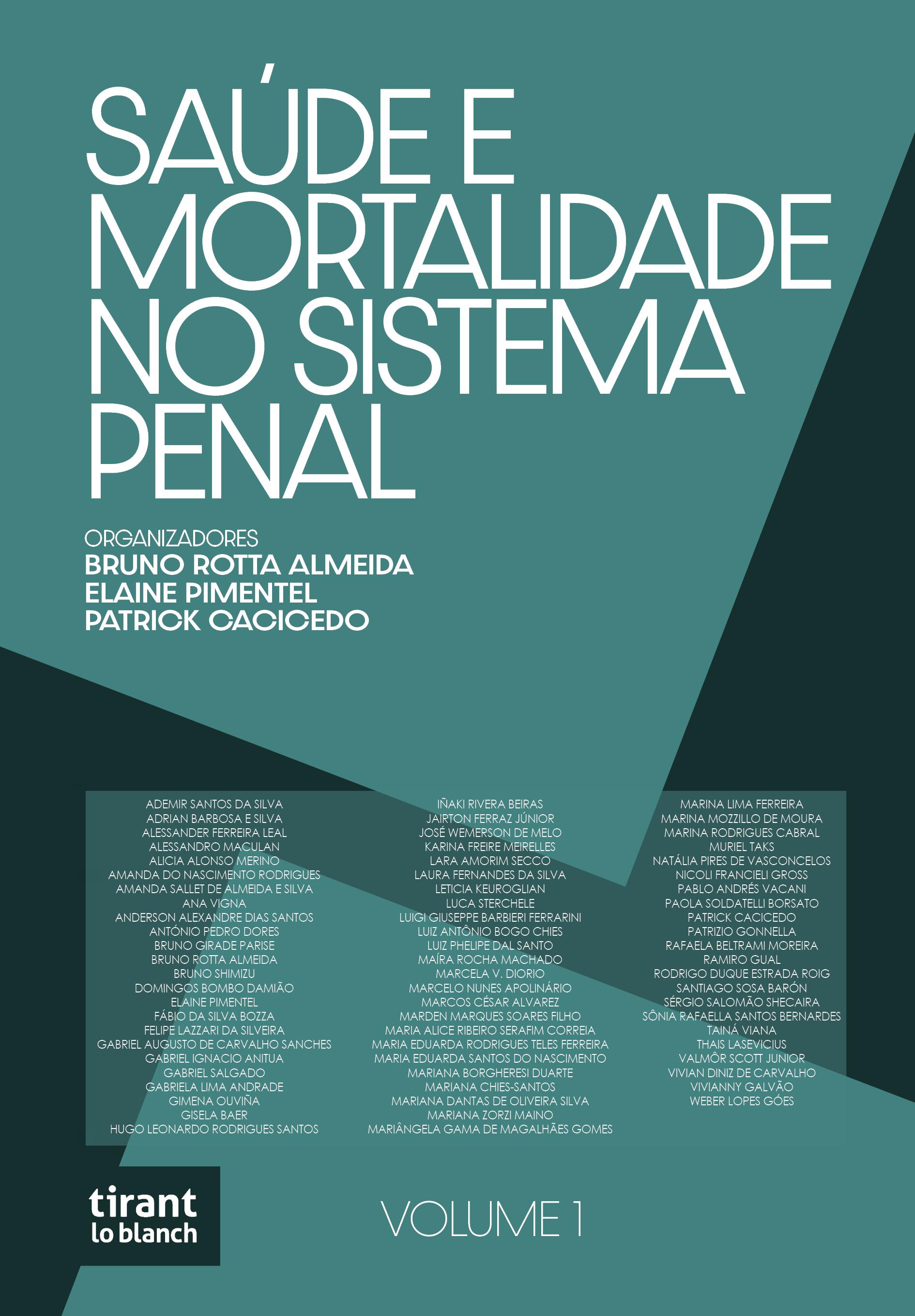
Organizadores
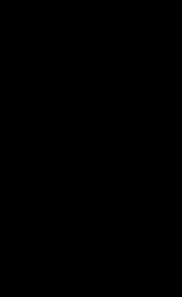
Bruno Rotta Almeida
Elaine Pimentel
Patrick Cacicedo

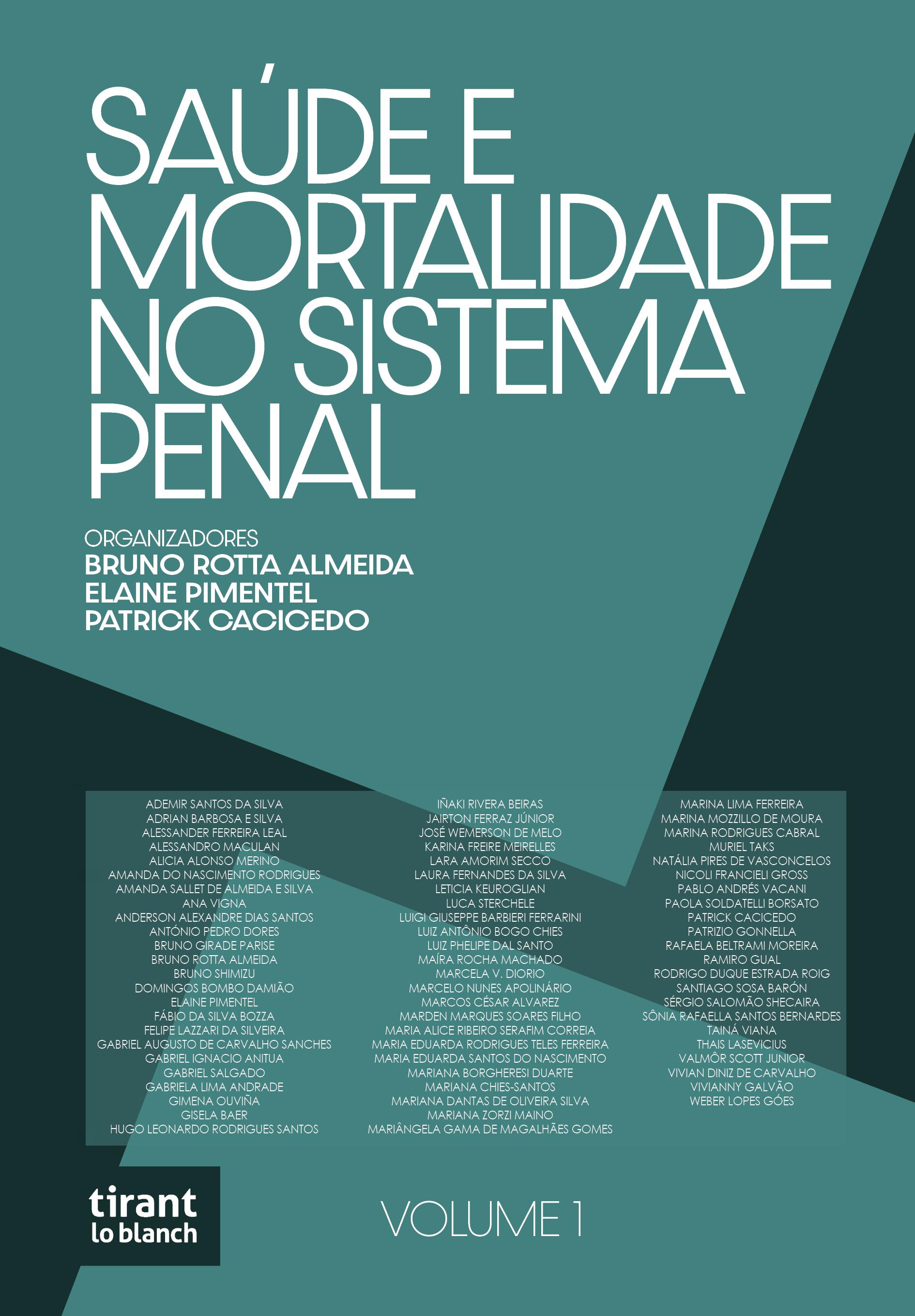
Organizadores
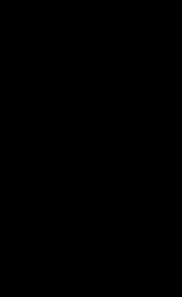
Bruno Rotta Almeida
Elaine Pimentel
Patrick Cacicedo

Copyright© Tirant lo Blanch Brasil
Editor Responsável: Aline Gostinski
Assistente Editorial: Izabela Eid
Diagramação e Capa: Analu Brettas
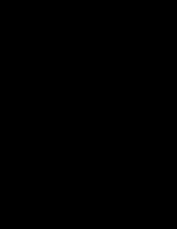
CONSELHO EDITORIAL CIENTÍFICO:
EDuARDO FERRER MAc-GREGOR POISOT
Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Investigador do Instituto de Investigações Jurídicas da UNAM - México
JuAREz TAvARES
Catedrático de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil
LuIS LóPEz GuERRA
Ex Magistrado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Catedrático de Direito Constitucional da Universidade Carlos III de Madrid - Espanha
OwEN M. FISS
Catedrático Emérito de Teoria de Direito da Universidade de Yale - EUA
TOMáS S. vIvES ANTóN
Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência - Espanha
S272 Saúde e mortalidade no sistema penal, volume 1 [livro eletrônico]
/ Bruno Rotta Almeida, Elaine Pimentel, Patrick Cacicedo (Org.). - 1.ed. – São Paulo : Tirant lo Blanch, 2023.
8.919Kb; livro digital
ISBN: 978-65-5908-580-4
1. Direito penal. 2. Sistema penal. 3. Sistema penitenciário. I. Título.
CDU: 343.811
Bibliotecária responsável: Elisabete Cândida da Silva CRB-8/6778
DOI: 10.53071/boo-2023-06-16-648c7e969d9bb
É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais.A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art.184 e §§, Lei n° 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei n°9.610/98).
Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch.
Fone: 11 2894 7330 / Email: editora@tirant.com / atendimento@tirant.com tirant.com/br - editorial.tirant.com/br/
Impresso no Brasil / Printed in Brazil
Organizadores
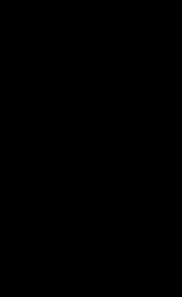
Bruno Rotta Almeida
Elaine Pimentel
Patrick Cacicedo
VOLUME 1

do direito à alimentação nas prisões .................................... 400
Amanda Sallet de Almeida e Silva, Anderson Alexandre Dias Santos, Bruno Rotta Almeida, Marina Rodrigues Cabral, Tainá Viana e Vivian Diniz de Carvalho
Antecâmara da morte: o holocausto silencioso dos manicômios judiciários ........ 417
Marden Marques Soares Filho e Thais Lasevicius
Corpos indignos de luto: da precariedade histórica à interdição ética do Complexo Médico Penal do Paraná em 2022 ................................................................................
440
Karina Freire Meirelles e Paola Soldatelli Borsato
“Para que transpor a cerca?”: A pandemia de covid-19 dentro dos muros do Centro
Psiquiátrico Pedro Suruagy, no Estado de Alagoas, nos anos de 2020 e 2021” ......
Maria Eduarda Rodrigues Teles Ferreira e Elaine Pimentel
459
Atenção psicossocial às vítimas do sistema penal: apontamentos para uma clínica psicanalítica da vulnerabilidade.................................................................................
477
Bruno Shimizu
Entre cuidado e punição: o acolhimento de usuários de drogas em comunidades terapêuticas e a expansão do estado de carcerização ...............................................
495
Laura Fernandes da Silva e Hugo Leonardo Rodrigues Santos
Psicologia criminal em foco: A prisão transforma o criminoso em não criminoso? .... 510
Domingos Bombo Damião
Pandemia e sigilo: acesso à informação prisional no contexto sul-rio-grandense do Brasil ..............................................................................................................................
521
Luiz Antônio Bogo Chies
A legitimidade da atuação do CNJ junto aos sistemas de privação de liberdade em contexto de pandemia
540
Gabriel Augusto de Carvalho Sanches, Mariana Chies-Santos e Marcos César Alvarez
A possibilidade de responsabilização penal de magistrados por lesões ou mortes de pessoas presas por doenças adquiridas no interior de estabelecimentos penais ....
558
Fábio da Silva Bozza e Rodrigo Duque Estrada Roig
Judicialização da saúde no sistema prisional paulista: reflexões sobre as ações civis públicas propostas pela Defensoria Pública de São Paulo (2012-2022) ...................
571
Bruno Girade Parise, Mariana Borgheresi Duarte e Patrick Cacicedo
A Linha Abissal entre a Condições Carcerárias e as Decisões Judiciais: Considerações sobre o Papel do Judiciário como Produtor Mediato de Penas Ilícitas
594
Gabriel Salgado, Gabriela Lima Andrade e Gisela Baer
A atuação do poder público na proteção da saúde de gestores/as, profissionais técnicos/as e policiais penais do Estado de Alagoas, durante a pandemia de COVID-19, nos anos de 2020 e 2021 610 Maria Alice Ribeiro
Considerando o histórico aumento da população carcerária em todo o mundo, num contexto de muitas violações à dignidade humana de pessoas privadas de liberdade, além dos impactos que o excedente carcerário exerce sobre a saúde nas prisões, amplificado no âmbito do contexto de pandemia, a obra tem por objetivo reunir estudos quantitativos e qualitativos sobre saúde e mortalidade no sistema penal e punitivo.
A Covid-19 exacerbou uma situação de colapso do sistema prisional em determinados países e intensificou o sofrimento em torno das formas punitivas. O contexto reflete gramáticas desumanas, caracterizadas pela situação de mortalidade e exposição ao risco de morte da população prisional e dos funcionários penitenciários. No entanto, são distintas as formas como a pandemia impactou na comunidade carcerária: à vulnerabilidade do estar-na-prisão – seja como presas e presos, como pacientes nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico ou como integrantes do corpo de trabalhadoras e trabalhadores do cárcere –somam-se aspectos sociais inerente às desigualdades de gênero e étnico-raciais presentes na sociedade como um todo e que antecedem o encarceramento.
Assim, é importante questionar como a pandemia afetou as sobrecargas prisionais em torno do encarceramento de modo geral, e até que ponto as medidas adotadas pelo Poder Público alcançaram a concretude da pena. Em suma, o livro busca apresentar, a partir da compreensão da realidade do sistema prisional, o impacto do coronavírus, as medidas de enfrentamento à pandemia, as diferentes experiências da comunidade carcerária, e os caracteres das desigualdades em distintas jurisdições nacionais.
Os capítulos abrangem perspectivas criminológicas e dogmáticas, análise de normas internacionais garantidoras de direitos humanos e atos normativos do Brasil e de outros países, estudos sobre políticas públicas, dados estatísticos e relatos de vivências no sistema punitivo em prisões cautelares, penas privativas de liberdade, medidas de segurança, em monitoramento eletrônico ou egressas da prisão, bem como de profissionais que atuam no sistema penal e prisional, além de questões decoloniais, raciais, potencialidades e enfrentamentos a partir das pessoas afetadas e suas singularidades.
Desde muitas perspectivas apresentadas, a obra lança luzes sobre fatores que contribuem para a violação dos direitos fundamentais, especialmente a saúde, e que ampliam os riscos de mortalidade no sistema penal.
A obra conta com financiamento da FAPERGS – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do projeto de pesquisa
“Saúde e mortalidade nas prisões: políticas, gramáticas, vetores de vulnerabilidades e estratégias de ação e intervenção” (Edital FAPERGS 07/2021 - Programa Pesquisador Gaúcho – PqG).
Pelotas/RS, Maceió/AL e São Paulo/SP, abril de 2023. BRuNO ROTTA ALMEIDA
ELAINE PIMENTEL PATRIck cAcIcEDO
Nos últimos anos, não há assunto que tenha despertado maior interesse global do que a saúde. A pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, jogou luz sobre a importância dos cuidados que se deve ter com a saúde, especialmente ilustrando os múltiplos fatores que dificultam ou contribuem para o desenvolvimento saudável dos indivíduos.
Se a atenção à saúde humana e às diversas variáveis que a influenciam tornou-se objeto principal de diferentes análises relacionadas à própria existência de homens e mulheres na sociedade, mostra-se absolutamente atual e necessária a compreensão das circunstâncias elementares para que a pessoa privada de liberdade possa ter atendidas suas necessidades relacionadas aos cuidados da saúde.
Embora essa análise seja necessária sempre, independentemente do contexto pandêmico, o momento atual proporciona um olhar mais atento e humanizado. Após dois anos e meio e quase seis milhões de óbitos confirmados – ainda que a Organização Mundial da Saúde estime que esse número seja maior do que 15 milhões (GRIMLEY, CORNISH e STYLIANOU, 2022) –, encontra-se muito presente na comunidade internacional a consciência acerca da importância de cuidados elementares de higiene pessoal e do ambiente onde as pessoas se encontram, da necessidade de cuidados preventivos por meio da vacinação da população, da indispensabilidade de equipes de saúde multidisciplinares com formação técnica apta a atender as pessoas doentes, assim como de medicamentos e equipamentos modernos e em número adequado à demanda.
Trata-se, assim, de momento oportuno para olharmos para a questão da saúde no ambiente prisional. Se o tema já suscita importantes reflexões sobre o papel do Estado nos cuidados com os cidadãos, de maneira geral, trata-se de
assunto indispensável quando o objetivo é analisar a fruição de direitos humanos por parte dos indivíduos encarcerados sob a responsabilidade estatal.
É sob essa ótica, portanto, que serão estudadas algumas das normas internacionais voltadas à garantia do direito à saúde às pessoas encarceradas, assim como algumas decisões das Cortes Interamericana e Europeia de Direitos Humanos em que esse direito foi reconhecido. Para além da mera afirmação de que todos têm direito à saúde, incluindo as pessoas presas, é importante compreender o alcance de tal declaração, e os casos concretos ajudam muito nesse sentido.
Há que se observar, ainda, que a universalidade dos direitos humanos e as semelhantes fórmulas presentes em diversos instrumentos internacionais autorizam a compreensão do alcance do direito à saúde a partir das decisões de diferentes sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. Sem desconsiderar as particularidades de cada país ou de cada região, a casuística muitas vezes é capaz de apontar caminhos a serem seguidos além dos limites da própria decisão.
Quando são analisados os tratados regionais de proteção aos direitos humanos, identifica-se uma certa uniformidade no modo como se referem às obrigações estatais. Veja-se, por exemplo, que o art. 1º da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos estabelece que os Estados “reconhecem os direitos, deveres e liberdades enunciados nesta Carta e comprometem-se a adotar medidas legislativas ou outras para os aplicar”, ao passo que o art. 1º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem diz que os Estados “reconhecem a qualquer pessoa dependente da sua jurisdição os direitos e liberdades definidos no título I da presente Convenção”. Embora expresso de forma semelhante, a Corte Interamericana de Direitos Humanos interpretou que, ao declarar que os Estados-Partes na Convenção Americana “comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição...”, o art. 1.1 estabelece uma relação de garante do Estado frente ao indivíduo encarcerado, semelhante àquela existente no direito penal, nos casos em que há obrigação de evitar o resultado lesivo2 .
2 Em voto concorrente no caso Tibi c. Equador, o juiz Sérgio García Ramírez destacou que, no direito penal, o garante do bem jurídico responde pelo resultado lesivo que não impede, podendo e devendo fazê-lo, nos casos de comissão por omissão. Na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a seu turno, o conceito de garante foi manejado de modo semelhante ao que se dá no direito penal: de um lado, a obrigação decorre de determinada fonte; de outra, a presença de um resultado lesivo típico, posto na conta de quem tem a obrigação de evitá-lo. A obrigação estatal de prover certas condições de vida e desenvolvimento a todas as pessoas sob sua jurisdição acentua-se quando o sujeito titular de direitos se encontra submetido ao Estado sem que possa exercer seus direitos e impedir o assédio de quem os viola, como por exemplo quando se encontra preso. Se, no direito penal, a posição do garante decorre da lei ou do contrato, na detenção ela provém, de um lado, da imensa restrição de liberdade que existe na prisão processual ou punitiva e, de outro, da situação real que essa situação acarreta. O papel do Estado, nesse con-
O desenvolvimento dessa tese se deu a partir do caso Velásquez Rodríguez c. Honduras, no qual se entendeu que o Estado é responsável não apenas pelas condutas de seus agentes, mas também quando suas autoridades se omitem na proteção a direitos humanos mesmo quando a violação é praticada por particular (§ 164.). Significa dizer que, ao assumir o compromisso de respeitar e garantir os direitos humanos, o Estado deve organizar sua estrutura a fim de que referida ordem normativa se traduza numa conduta governamental apta a fazer valer o livre e pleno exercício dos direitos humanos (ROSA, 2021).
Embora essa conclusão já pudesse ser intuída a partir de instrumentos internacionais, como as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos (Regras de Mandela) que, entre outras, estabelece que “a prestação de serviços médicos aos reclusos é da responsabilidade do Estado” (Regra 24.1, primeira parte), a jurisprudência da Corte Interamericana tem um papel de suma importância na ênfase dada ao papel do Estado frente às violações de direitos humanos, mormente quando ocorre em instituições encarregadas do encarceramento de pessoas.
Uma das consequências desse entendimento está no ônus da prova quando se discute eventual violação a direitos humanos das pessoas privadas de liberdade. De acordo com a Corte, tendo em vista que o encarcerado tem direito a viver em condições compatíveis com sua dignidade e o Estado deve lhe garantir o direito à vida e à integridade pessoal, cabe a ele apresentar explicações e esclarecimentos sobre os fatos controversos. Uma vez que as autoridades estatais exercem um controle total sobre a pessoa custodiada, o tratamento a ela dispensado deve ser sujeito a um escrutínio mais rigoroso, considerando a sua maior vulnerabilidade (Caso Bulacio c. Argentina, § 126).
3. DIREITO à SAÚDE, REGRAS DE TRATAMENTO DAS PESSOAS
PRIvADAS DE LIBERDADE E OS DOcuMENTOS INTERNAcIONAIS DE DIREITOS huMANOS
No plano internacional, diferentes documentos foram produzidos no sentido de garantir a todos os indivíduos um tratamento condizente com o valor da dignidade humana, o que inclui, evidentemente, o direito das pessoas privadas de liberdade de terem acesso a condições satisfatórias e adequados serviços de saúde.
Sem a pretensão de exaurir a análise dos referidos textos, alguns dispositivos merecem destaque.
texto, implica: a) omitir todas as privações ao sujeito que não sejam estritamente necessárias para o cumprimento da restrição de liberdade, e b) prover tudo o que seja pertinente para assegurar os fins da reclusão (segurança e readaptação social). Caso Tibi c. Equador, voto concorrente do juiz Sérgio García Ramírez, §§ 13-20.
Já em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem estabelecia em seu art. 5° uma importante regra para tratamento de presos que posteriormente seria frequentemente replicada: “ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes”. Na mesma toada, dispuseram o art. 3º da Convenção Europeia de Direitos do Homem, de 19503, e a primeira parte do art. 7º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 19664. Com redação diferente, mas com o mesmo sentido, consta no art. 5º, 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, que “ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano”.
Como se vê, esses documentos contemplam uma referência mais genérica ao necessário tratamento humanizado que deve ser dispensado aos reclusos, sem um maior aprofundamento acerca de seus desdobramentos.
Por outro lado, os mesmos tratados internacionais igualmente contemplam o direito à saúde como essencial ao desenvolvimento do ser humano. Assim, por exemplo, o art. 25, 1, da Declaração Universal dos Direitos do Homem garante que “toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica...”; o art. 12, 1, do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, estabelece que “os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de todas as pessoas de gozar do melhor estado de saúde física e mental possível de atingir”; o art. 5º, 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos assegura que “toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral”.
De maneira mais específica, as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos – conhecidas como Regras de Mandela –, de 2015, é o documento internacional mais específico e atualizado que contém diretrizes elementares para a garantia do direito à saúde pelas pessoas privadas de liberdade.
Entre as regras ali presentes, há referência ao direito dos reclusos de usufruírem “dos mesmos padrões de serviços de saúde disponíveis à comunidade e ter acesso gratuito aos serviços de saúde necessários, sem discriminação em razão da sua situação jurídica” (Regra 24, 1); à garantia da “continuidade do tratamento e da assistência, incluindo os casos de HIV, tuberculose e de outras doenças infeciosas e da toxicodependência” (Regra 24, 2); à importância de se dar atenção especial “aos reclusos com necessidades especiais ou problemas de saúde que dificultam sua reabilitação” (Regra 25, 1); ao direito aos “serviços de
um dentista qualificado” (Regra 25, 2, parte final); à necessidade de que todos os estabelecimentos prisionais assegurem o pronto acesso a tratamentos médicos em casos urgentes (Regra 27, 1, primeira parte); ao direito do preso que necessite de cuidados especializados ou de cirurgia a ser transferido para estabelecimentos especializados ou para hospitais civis, quando o estabelecimento prisional não possuir instalação hospitalar própria ou não dispuser de pessoal e equipamento apropriados (Regra 27, 1, parte final); à necessidade de instalações especiais para as reclusas grávidas e as convalescentes (Regra 28); ao direito do indivíduo a exame médico assim que é admitido no estabelecimento prisional (Regra 30).
Importante destacar, ainda, que as Regras de Mandela colocam o direito à saúde acima de qualquer juízo valorativo sobre a razão do encarceramento, de modo que o principal critério para a submissão do sujeito a algum tipo de tratamento é apenas e tão-somente sua integridade física e psíquica, ou seja, suas necessidades humanas e não sua situação jurídica.
Essa constatação resta evidente não só a partir do rol exemplificativo referido acima, mas também por disposições como a que estabelece que “os serviços de saúde devem ser compostos por uma equipe interdisciplinar, com pessoal qualificado e suficiente, capaz de exercer a sua atividade com total independência clínica, devendo ter conhecimentos especializados de psicologia e psiquiatria” (Regra 25, 2); que “a relação entre o médico ou outros profissionais de saúde e o recluso deve ser regida pelos mesmos padrões éticos e profissionais aplicados aos pacientes da comunidade” (Regra 32, 1); que o médico ou profissional de saúde deve fazer inspeções regulares no estabelecimento prisional e aconselhar o diretor sobre a alimentação, condições de higiene, instalações e outras características do tratamento dispensado aos presos e que interfiram nas suas condições se saúde (Regra 35); que “as decisões clínicas só podem ser tomadas por profissionais de saúde responsáveis e não podem ser modificadas ou ignoradas pela equipe prisional não médica” (Regra 27, 2).
4. O DIREITO à SAÚDE DAS PESSOAS ENcARcERADAS NA JuRISPRuDêNcIA DOS TRIBuNAIS REGIONAIS DE DIREITOS huMANOS:
ExEMPLOS cONcRETOS
4.1. Premissa: a imPortância da jurisPrudência Para o delineamento dos direitos humanos
Conhecer a jurisprudência acerca de determinado assunto é compreender o verdadeiro alcance da norma jurídica. Mesmo nos ordenamentos pertencentes ao sistema da civil law – onde, a princípio, a atividade judicial tem peso menor entre as fontes do direito –, é no momento em que o juiz aplica o direito ao caso
concreto que se torna possível apreender o real conteúdo jurídico do direito positivado (GOMES, 2008, p. 37).
Em que pese a importância e mesmo a imprescindibilidade dos tratados internacionais de direitos humanos, estes constituem apenas o ponto de partida para a proteção dos valores mais essenciais ao desenvolvimento das pessoas.
A esse respeito, observou Andreucci (1988, p. 63) que o direito nasce da mediação entre as leis (inacabadas) e a concretização dos fatos, impondo a necessidade de superação da concepção estática das normas; Reale Júnior (2004, p. 234) já destacou que o direito é aquilo que a interpretação for; Castanheira Neves (1984, p. 38) asseverou que toda interpretação jurídica possui um caráter juridicamente constitutivo, e a atividade jurisprudencial, mesmo quando tem o direito positivo como seu fundamento normativo-jurídico, revela-se criadora de uma normatividade jurídica extralegal.
Nesse sentido, a interpretação apresenta-se como indispensável para a compreensão do significado e do alcance de quaisquer normas porque se trata do momento em que o juiz estabelece o seu conteúdo de fato. Diante dos possíveis significados do texto legal e do contexto em que se insere, é somente no momento em que a norma é aplicada à situação concreta que se torna possível apreender o “verdadeiro” significado do direito, o que faz do intérprete um importante ator na sua construção (CADOPPI, 1996, p. 18).
No campo dos direitos humanos não é diferente. Sobre o trabalho da Corte Europeia de Direitos Humanos, Sudre (2004) destacou seu papel determinante para a elaboração do direito da Convenção Europeia, posto que o conhecimento científico da matéria passa necessariamente pelo estudo de suas decisões; da mesma forma, García Ramírez concluiu que a Convenção Americana de Direitos Humanos não é outra coisa senão o que a Corte Interamericana diz que ela é (apud MALARINO, 2013, p. 22).
Com estes pressupostos, então, serão apresentados alguns sentidos atribuídos ao direito à saúde das pessoas encarceradas, segundo o Sistema Europeu e o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Como anunciado, são apenas alguns exemplos, embora possam apontar sólidas diretrizes para a compreensão dessa garantia.
4.2. definição e alcance do direito à saúde das Pessoas encarceradas
4.2.1. Conteúdo do direito à saúde
Caso Manuela e Família c. El Salvador
Esse caso, cujo Informe de Mérito foi publicado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 7 de dezembro de 2018, diz respeito ao tratamento médico inadequado fornecido à detenta que, enquanto encarcerada, foi
diagnosticada com câncer. Sua saúde foi deteriorada enquanto permaneceu presa, vindo a falecer.
Segundo a Comissão, a garantia do atendimento de saúde à pessoa privada de liberdade deve ser a mesma assegurada a qualquer outro cidadão, e engloba: (i) diagnóstico médico inicial para avaliar o estado de saúde do recluso e conferir a atenção médica necessitada; (ii) tratamento adequado, oportuno e direcionado às necessidades especiais da pessoa encarcerada, o que abrange dietas apropriadas, fisioterapia, reabilitação e outras intervenções necessárias especializadas; (iii) quando necessária, a supervisão médica deve ser periódica e sistemática, voltada à cura da doença do encarcerado; (iv) não manutenção da pessoa em estabelecimento penitenciário quando se tratar de enfermidade grave, crônica ou terminal, salvo se o Estado puder assegurar atenção médica adequada (§ 132).
Além disso, a Comissão destacou que, para fins de aferição da responsabilidade estatal, não é necessária a determinação exata da causa da morte, sendo suficiente a demonstração de que o Estado poderia razoavelmente ter adotado medidas para garantir ou melhorar a saúde da pessoa presa, mas não o fez. Recordou-se, ainda, que a Corte já estabelecera que o direito à vida é violado por omissão de prestações básicas em matéria de saúde quando há significativa probabilidade de que uma assistência adequada tivesse prolongado a vida do paciente (§ 133).
Caso Aleksanyan c. Rússia
Trata-se de caso julgado em 22 de dezembro de 2008, em que a vítima foi presa preventivamente porque estava sendo investigada pela prática de crimes econômicos e contra a ordem tributária. Ela possuía sérios problemas de visão, que foram agravados já nos primeiros meses de prisão. Além disso, constatou-se que era HIV-positiva, o que fez com que seu quadro piorasse e facilitasse o desenvolvimento de doenças oportunistas.
Foi recomendada a administração de medicação HAART (terapia antirretroviral altamente ativa), e os médicos do estabelecimento penitenciário entendiam que isso poderia ser feito ali mesmo, pois consideravam que a vítima tinha condições de permanecer presa. Outros especialistas, contudo, entendiam ser necessário transferí-la para um hospital especializado no tratamento de infecções decorrentes do HIV, o que não aconteceu. Em outubro de 2007, a vítima foi transferida para o hospital de uma prisão, mas não para um hospital especializado, lá permanecendo até a data do julgamento.
No entender da Corte Europeia de Direitos Humanos, o Estado foi condenado porque não garantiu à vítima o tratamento adequado para sua condição de
saúde. Ao não ser transferida para um centro médico especializado, a vítima foi submetida a sofrimento maior do que o inevitavelmente associado à prisão em si. De acordo com o Tribunal, para se definir se uma pessoa que necessita de atendimento médico deve continuar sob custódia, três parâmetros devem ser avaliados: a condição médica da pessoa encarcerada, a adequação do tratamento oferecido no estabelecimento prisional e o quão aconselhável é a medida de prisão tendo em vista o estado de saúde da pessoa doente (§§ 151 a 158).
Caso Renolde c. França
Trata-se caso julgado em 16 de outubro de 2008, no qual a vítima estava presa preventivamente e sofria transtornos mentais. Em razão de falta disciplinar, foi colocada em cela de castigo e, ali, cometeu suicídio.
De acordo com a Corte Europeia de Direitos Humanos, o Estado deve levar em consideração a especial vulnerabilidade das pessoas com deficiência mental, especialmente quando submetidas à custódia do Estado. Com relação ao direito à vida, estabelece que deve avaliar se as autoridades sabiam ou deveriam saber que a vítima estava correndo risco real e imediato de cometer suicídio e, em caso positivo, se fora feito tudo o que fosse razoavelmente esperado para prevenir tal risco (§ 85).
No caso concreto, o Estado foi condenado porque se entendeu que o risco estava evidenciado e que não fora feito aquilo que é razoavelmente esperado, especialmente porque pessoas com transtornos mentais não devem ficar detidas em estabelecimentos prisionais, mas encaminhadas a instituições de saúde, o que sequer havia sido aventado. Tendo em vista que o preso não fora transferido, as autoridades deveriam, pelo menos, ter proporcionado tratamento médico que correspondesse à seriedade da condição de saúde da vítima. Uma das medidas seria, por exemplo, que houvesse supervisão na ministração do remédio (apurou-se que a dose semanal dos remédios era entregue duas vezes por semana, não havia supervisão médica para que o doente os ingerisse e, quando do suicídio, constatou-se que o remédio não estava sendo tomado há alguns dias) (§§ 98 e ss.).
Caso Wenerski c. Polônia
Trata-se de caso julgado em 20 de abril de 2009, em que a vítima reclamou da falta de assistência médica durante sua permanência no cárcere. Ela tinha problemas de saúde anteriores à sua prisão, relacionados ao seu olho direito. Alegou que, diversas vezes enquanto esteve presa, tentou marcar exames, consultas e cirurgia para reparar seus problemas oftalmológicos, sem sucesso. Apesar dos problemas serem prévios, tiveram significativa piora após seu envolvimento numa
briga com outro preso. De acordo com a vítima, seus pedidos foram diversas vezes negados pelos hospitais ou dificultados pela burocracia carcerária.
A Corte Europeia, ao analisar o caso, rememorou que se considera violado o art. 3º da Convenção Europeia de Direitos Humanos quando o sofrimento e humilhação causados pelo encarceramento vão além do que é decorrência inevitável da própria restrição da liberdade. No caso concreto, constatou-se que o Estado falhou em prover assistência médica ao requerente; embora dois hospitais tenham aceitado fazer a cirurgia “sob escolta”, com toda a segurança necessária, aquela não se realizou.
Ao analisar a documentação relacionada à necessidade da cirurgia, bem com sua demora, constatou-se que houve o prolongamento do sofrimento da vítima para além daquilo que seria uma consequência natural do encarceramento. Assim, a Corte Europeia de Direitos Humanos entendeu que o acesso à saúde durante o período de prisão não estava de acordo com os padrões mínimos da ONU para o tratamento dos presos, constatando, portanto, violação ao art. 3º da Convenção (§§ 59 e ss).
Caso Martzaklis e outros c. Grécia
Este caso, julgado em 9 de outubro de 2015, diz respeito ao encarceramento de pessoas portadoras do vírus HIV em setor isolado do estabelecimento prisional, onde foram submetidas à discriminação em razão de serem HIV positivas. Além disso, não lhes eram proporcionadas condições razoáveis de detenção, uma vez que o local estava superlotado, com péssimas condições de higiene e de estrutura, a alimentação era inadequada e não havia atendimento médico específico para portadores de HIV.
Conforme foi constatado pela Corte Europeia, a falta de médicos especialistas capacitados para cuidar de pacientes com HIV levava à realização de diagnósticos e tratamentos terapêuticos padronizados e não individualizados, sem a realização de exames médicos nos pacientes. As receitas médicas eram genéricas e também padronizadas, sempre indicando os mesmos remédios para todos.
Por vezes, o envio de medicamentos era interrompido por período de uma semana a um mês, sem justificativas, assim como as solicitações para a transferência do paciente para um hospital fora do estabelecimento prisional costumavam ser apreciadas de forma morosa; ainda, alguns tratamentos não eram iniciados sob a alegação de que, para justificá-lo, era necessária determinada quantidade de vírus no sangue do paciente.
Deve ser acrescentado, ainda, que alguns dos presos, além de serem portadores de HIV, possuíam sarna; em que pese ser indicada água quente para o tratamento dessa doença, não lhes era permitido acesso a ela. Para além disso,
era também comum a reclamação de que tais presos eram colocados junto com outros doentes com problemas de saúde altamente transmissíveis, como tuberculose, o que só agravava o quadro clínico dos requerentes, que já possuíam o sistema imunológico debilitado.
Por fim, o fato de os requerentes serem portadores de HIV também fazia com que fossem submetidos a diversas condutas discriminatórias. Por exemplo, os enfermeiros não entregavam os medicamentos diretamente a eles, colocando-os do lado de fora para que os presos esticassem o braço para alcançá-los. Não poderiam, no entanto, encostar nas barras de ferro, pois supostamente poderiam transmitir a doença (§ 20).
Diante desse cenário, a Corte Europeia estabeleceu que é direito do preso receber um tratamento terapêutico adequado, individualizado e com diagnósticos específicos à suas características pessoais, com médicos capazes e especializados, pois, caso contrário, estar-se-á violando a dignidade da pessoa humana e submetendo o preso a uma dor acima do parâmetro usual e intrínseco à própria pena privativa de liberdade.
Embora o argumento do Estado fosse no sentido de que referidos presos haviam sido alojados em local específico do estabelecimento porque precisariam de cuidados mais sérios, a Corte Europeia de Direitos Humanos concluiu que isso não legitimava as condutas inadequadas, uma vez que foram desproporcionais para o objetivo almejado (§§ 60 a 75).
Cabe destacar, no pronunciamento da Corte, a observação sobre a inversão do ônus da prova: cabe ao Estado provar que teria cumprido as regras gerais relacionadas ao direito à saúde, já que a ele os documentos são mais acessíveis.
Caso Mozer c. República de Moldova e Rússia
Trata-se de caso, julgado em 23 de fevereiro de 2016, no qual o requerente alegou que, durante o tempo em que ficou preso, não lhe foi fornecida assistência médica adequada, uma vez que ele tem asma brônquica desde a infância e argumentou que teve uma piora na prisão. No requerimento feito à Corte Europeia, afirmou que fora submetido a condições carcerárias desumanas, pois as celas eram úmidas, sem ventilação ou luz natural, superlotadas, cheias de parasitas, não havia fornecimento de materiais higiênicos, a comida era de má qualidade e somente tinha direito a quinze minutos de exercícios físicos por dia.
Com relação à falta de atendimento médico, a Corte reiterou seu entendimento de que o Estado deve garantir que o indivíduo seja detido em condições compatíveis com a dignidade humana e que, consideradas as exigências práticas do