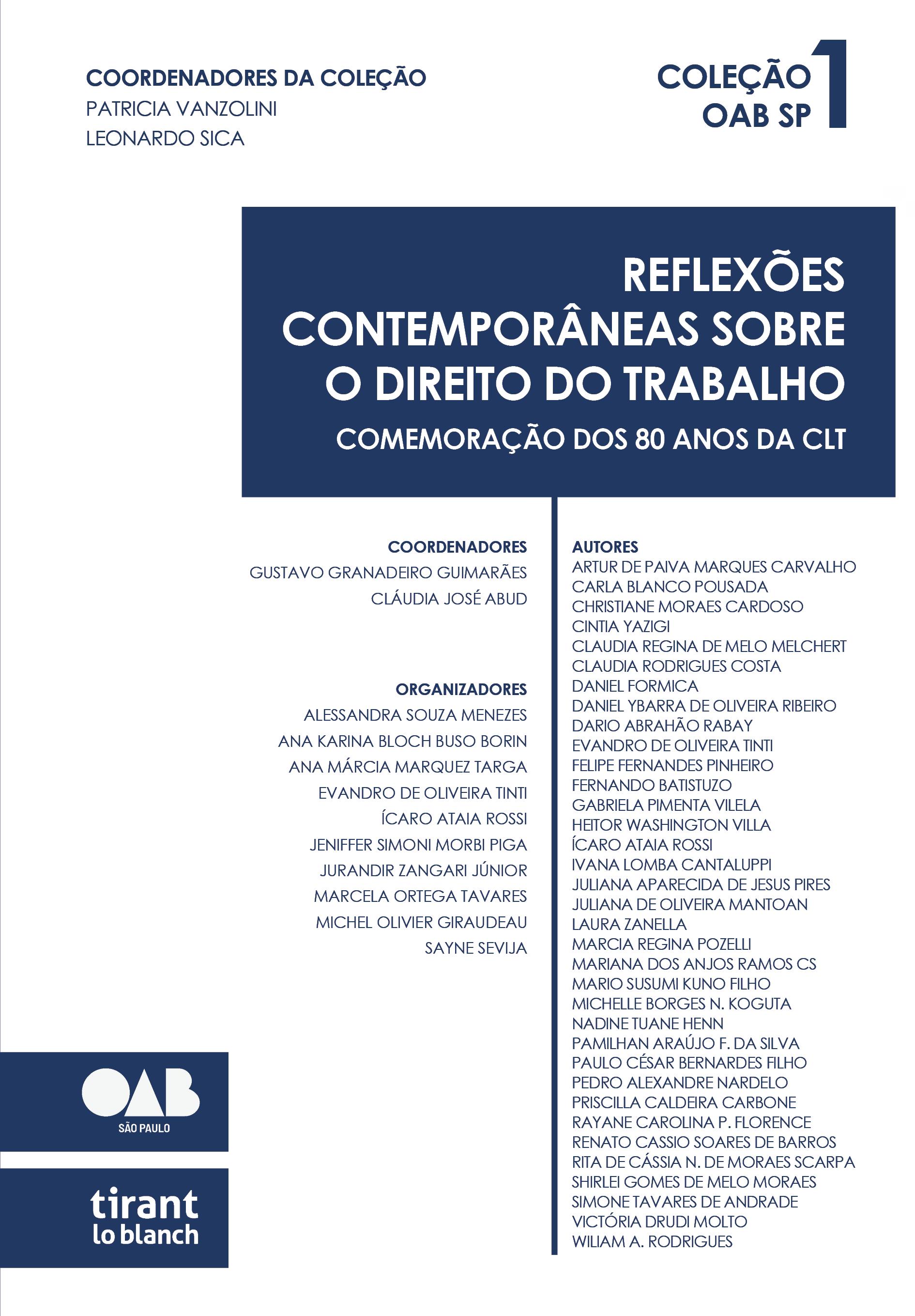
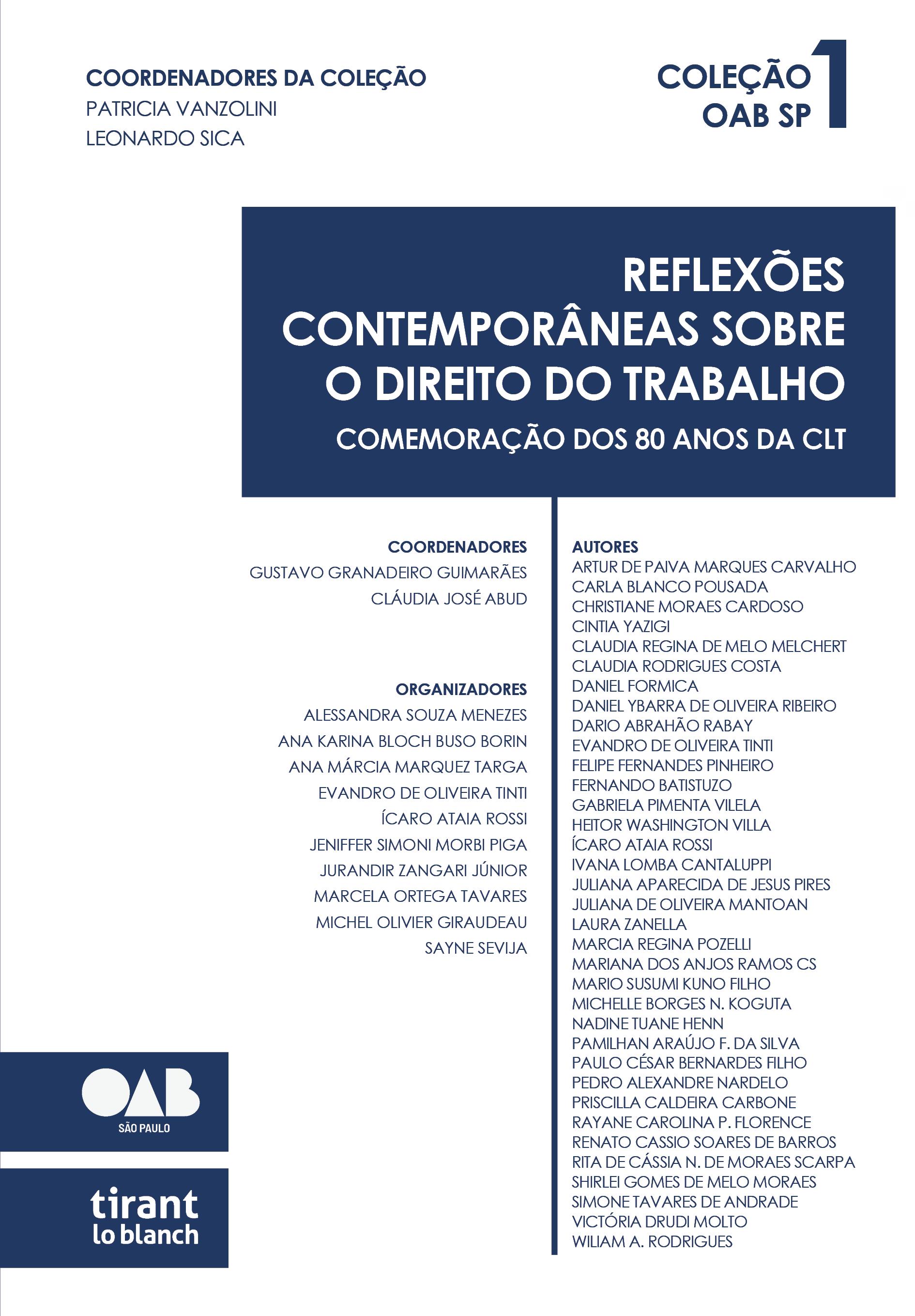
Reflexões ContempoRâneas sobRe o DiReito Do tRabalho
Comemoração dos 80 anos da CLT
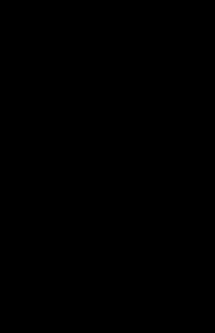
Copyright© Tirant lo Blanch Brasil
Editor Responsável: Aline Gostinski
Assistente Editorial: Izabela Eid
Capa e diagramação: Analu Brettas
CONSELHO EDITORIAL CIENTÍFICO:
eDuaRDo feRReR maC-GReGoR poisot
Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Investigador do Instituto de Investigações
Jurídicas da UNAM - México JuaRez tavaRes
Catedrático de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil luis lópez GueRRa
Ex Magistrado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Catedrático de Direito Constitucional da Universidade Carlos III de Madrid - Espanha
owen m. fiss
Catedrático Emérito de Teoria de Direito da Universidade de Yale - EUA tomás s. vives antón
Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência - Espanha
C321
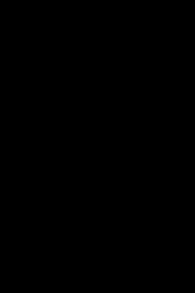
Reflexões contemporâneas sobre o direito do trabalho : comemoração dos 80 anos da CLT [livro eletrônico] / Artur de Paiva Marques Carvalho ... [et. al.]; Alessandra Souza Menezes ... [et. al.] (org.); Patricia Vanzolini ... [et. al.] (coord.); prefácio Gustavo Granadeiro Guimarães, Cláudia José Abud. -1.ed. – São Paulo : Tirant lo Blanch, 2023. (Coleção OAB SP)
5.124Kb; livro digital
ISBN: 978-65-5908-632-0.
1. Direito do trabalho. 2. Direito processual do trabalho. I. Título.
CDU: 349.2
Bibliotecária Elisabete Cândida da Silva CRB-8/6778
DOI: 10.53071/boo-2023-08-18-64dfcf331dd0e
É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art.184 e §§, Lei n° 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei n°9.610/98).
Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch.
Fone: 11 2894 7330 / Email: editora@tirant.com / atendimento@tirant.com tirant.com/br - editorial.tirant.com/br/
Coordenadores da Coleção
Patricia Vanzolini
Leonardo Sica
Reflexões ContempoRâneas sobRe o DiReito Do tRabalho
Comemoração dos 80 anos da CLT
Coordenadores
Gustavo Granadeiro Guimarães
Cláudia José Abud
Organizadores

Alessandra Souza Menezes
Ana Karina Bloch Buso Borin
Ana Márcia Marquez Targa
Evandro de Oliveira Tinti Ícaro Ataia Rossi
Jeniffer Simoni Morbi Piga
Jurandir Zangari Júnior
Marcela Ortega Tavares
Michel Olivier Giraudeau
Sayne Sevija
Autores
Artur de Paiva Marques Carvalho
Carla Blanco Pousada
Christiane Moraes Cardoso
Cintia Yazigi
Claudia Regina de Melo Melchert
Claudia Rodrigues Costa
Daniel Formica
Daniel Ybarra de Oliveira Ribeiro
Dario Abrahão Rabay
Evandro de Oliveira Tinti
Felipe Fernandes Pinheiro
Fernando Batistuzo
Gabriela Pimenta Vilela
Heitor Washington Villa Ícaro Ataia Rossi
Ivana Lomba Cantaluppi
Juliana Aparecida de Jesus Pires
Juliana de Oliveira Mantoan
Laura Zanella
Marcia Regina Pozelli
Mariana dos Anjos R. C. e Silva
Mario Susumi Kuno Filho
Michelle Borges N. Koguta
Nadine Tuane Henn
Pamilhan Araújo F. da Silva
Paulo César Bernardes Filho
Pedro Alexandre Nardelo
Priscilla Caldeira Carbone
Rayane Carolina P. Florence
Renato Cassio Soares de Barros
Rita de Cássia N. de Moraes Scarpa
Shirlei Gomes de Melo Moraes
Simone Tavares de Andrade
Victória Drudi Molto
Wiliam A. Rodrigues
pRefáCio
A Consolidação das Leis do Trabalho completou, neste ano, 80 anos. Foi em 1º de maio de 1943 – durante o Estado Novo – que o então presidente Getúlio Vargas assinou o projeto final que reuniu legislação trabalhista esparsa existente à época, para consolidar, em um único diploma legal, as normas jurídicas presentes até os dias de hoje.
Desde sua criação, a CLT sofreu mais de três mil alterações, destacando-se as modificações ocorridas com a promulgação da Constituição Federal da República de 1988 e a reforma provocada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017.
A legislação trabalhista não está no passado e continua a ser o principal regramento que abrange 43,17 milhões de empregados, segundo os últimos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho.
Marcar a passagem do tempo e celebrar a data é uma oportunidade excelente de lançar um olhar ampliado a esse instrumento que, desde o seu nascimento, gerou e continua a gerar controvérsia sobre as relações trabalhistas no Brasil.
O Direito do Trabalho sempre atravessou extraordinárias pressões e desafios. Não seria diferente neste momento. Novas formas de prestação de serviços já são uma realidade, em razão da revolução tecnológica em que vivemos, assim como relações jurídicas trabalhistas atípicas, como o fenômeno da “pejotização”. Estes e outros temas inerentes ao Direito Social exigem um pensar constante de toda a comunidade jurídica e uma resposta à sociedade.
É exatamente em oportunidades como esta, que estudos de alto nível sobre temas relacionados ao Direito Individual, Coletivo e Processual do Trabalho, assumem importância ainda maior.
Este é o caso da presente obra jurídica coletiva que reúne artigos produzidos por atuantes advogados e advogadas trabalhistas, membros da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB de São Paulo, que com coragem, empenho e competência produziram reflexões importantíssimas para o aprendizado e aprimoramento do Direito do Trabalho, enobrecendo ainda mais a nossa advocacia.
É com muita honra e alegria, que participamos deste trabalho coletivo, que muito nos orgulha, e que seria absolutamente impossível de ser realizado se não fosse a dedicação e o trabalho árduo e competente de todos, em especial, da Comissão Avaliadora do Núcleo Cultural desta obra. A todos vocês nosso muito obrigado!
Gustavo GRanaDeiRo GuimaRães CláuDia José abuDos DespaChos De aDmissibiliDaDe
ReCuRsal e a ausênCia De funDamentação Das DeCisões JuDiCiais
aRtuR De paiva maRques CaRvalho11. intRoDução
Os despachos de admissibilidade recursal, proferidos pela primeira e pela segunda instâncias, são as portas de entrada dos recursos ao órgão jurisdicional imediatamente posterior. Quando proferidos em caráter positivo, permitem que os remédios recursais cheguem à instância revisora – quando serão, invariavelmente, submetidos a um novo juízo de admissibilidade. Se proferidos em sentido negativo, impedem o imediato trânsito do recurso à instância posterior – o que só ocorrerá se a parte aviar o competente recurso para destrancamento processual. Isso porque, no processo trabalhista, vigora o que há muito se alcunhou de duplo filtro recursal: os juízos a quo e ad quem analisam, cada qual em sua seara normativa, se os recursos a eles dirigidos preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.
Referidos despachos, a bem da verdade, denotam verdadeira natureza de decisão judicial, uma vez que analisam uma parcela do pedido recursal aviado pela parte processual que se sentiu prejudicada com determinada decisão, que é justamente o pedido (implícito) de reconhecimento do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Tais “despachos” podem, inclusive, ser combatidos por embargos declaratórios, remédio recursal sabidamente voltado para a integração de um pronunciamento jurisdicional, notadamente para saneamento de omissão ou correção de contradição, obscuridade ou erro material2.
De se ver, portanto, que os despachos de admissibilidade recursal ostentam natureza decisória, uma vez que decidem pela possibilidade ou não de o processo continuar a tramitar na instância revisora – o que, fatalmente, importará em prejuízo ou não à parte interessada.
Assim, se há potencial prejuízo à parte, o pronunciamento judicial deve ser entendido como verdadeiro ato decisório, e não simplesmente como “despacho”3.
Essa, todavia, não é a discussão que se pretende explorar neste curto texto. Procura-se, tão somente, delinear objetivamente que os despachos de admissibilidade recursal também devem obediência às normas constitucionais e processuais alusivas às decisões judiciais, especialmente quanto ao dever do Poder Judiciário de fundamentar as suas próprias decisões.
Infelizmente, não é isso que se vê no Brasil, em qualquer Tribunal Regional que seja. Muito pelo contrário, a regra é que os despachos de admissibilidade recursal sejam genéricos, superficiais e dissociados da realidade processual na qual foram proferidos.
2. as DeCisões JuDiCiais e a neCessiDaDe De sua funDamentação
Se a finalidade (objetiva) precípua do Poder Judiciário é a entrega do bem da vida, pode-se dizer que a decisão judicial é o principal produto intelectual da atividade jurisdicional.
A decisão judicial, enquanto resultado da atuação do Estado-Juiz, se apresenta como um resumo cogente dos pontos que vieram à deliberação no Poder Judiciário, produzida a partir da execução do poder-dever do juízo ao se debruçar sobre os pedidos formulados pelas partes (sem prejuízo da atuação de outros atores processuais, a exemplo de terceiros interessados e amici curiae).
Nesse sentido, relembre-se a histórica e doutrinária diferenciação entre o pedido mediato e o pedido imediato: o primeiro diz respeito ao bem da vida perseguido pela parte (por exemplo, uma indenização pecuniária), enquanto o segundo se identifica justamente pelo provimento jurisdicional que deve ser conferido pelo Estado-Juiz para se garantir, ulteriormente, o alcance do bem da vida.
Assim é que a fundamentação (motivação) das decisões judiciais sempre foi ponto central e sensível da doutrina e da jurisprudência, tendo ganhado maior destaque na legislação pátria com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Esse arcabouço normativo – sem prejuízo das fontes acessórias – deixa clara a necessidade de o Poder Judiciário ser transparente e manifesto quanto às razões pelas quais acolheu ou afastou as pretensões das partes4.
Contrario sensu, a decisão não fundamentada se traduz em mera recusa do Poder Judiciário em apresentar as razões de seu posicionamento, limitando-se
3 DUARTE, Bento Herculano. Princípios do processo civil: noções fundamentais (com remissão ao novo CPC). São Paulo: Método, 2012. p. 71.
4 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil: teoria do processo civil. v. 1. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 561.
simplesmente a dizer “sim” ou “não” a dado pedido; e, justamente por isso, a ausência de fundamentação se identifica como negativa de prestação jurisdicional e se equipara à ausência de entrega da tutela judicial.
Em outras palavras, veja-se de forma mais (ainda) didática: a parte busca o Poder Judiciário e formula dado pedido, com base em determinada causa de pedir; frente a isso, cabe ao juiz deferir ou afastar o pedido, manifestando as razões pelas quais entendeu dessa forma.
Qualquer que seja a solução normativa a ser dada pelo Poder Judiciário, é imperioso que a decisão seja acompanhada da respectiva motivação judicante5, sob pena de a parte, potencialmente, nem sequer ter conhecimento da razão por que seu pedido foi deferido ou indeferido.
A conclusão, nesse ponto, é que toda decisão deve, obviamente, ser fundamentada – e de forma clara –, a fim de prestar motivos suficientes à parte, seja para convencê-la da solução normativa, seja para franquear eventual impugnação aos seus fundamentos.
A satisfação da prestação jurisdicional, portanto, é a entrega da decisão judicial devidamente fundamentada – que, independentemente de agradar a parte, deve prestar motivos suficientes para que a parte reconheça que seu pedido foi, pelo menos, devidamente analisado.
2.1. dos ConTornos objeTivos da fundamenTação das deCisões judiCiais
Como já dito à suficiência, o dever de fundamentação das decisões judiciais encontra arrimo constitucional, especificamente em seu art. 93, IX:
Art. 93. [...]
IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; Esse dispositivo legal não pode ser interpretado de forma isolada, mas, sim, em conjunto com o art. 5º, LIV e LV, CF:
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]
LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Daí porque se defender que a fundamentação das decisões judiciais não pode ser interpretada singelamente como a aposição de poucas palavras no papel para simplesmente formalizar a entrega da prestação jurisdicional.
O efetivo cumprimento do múnus judicante apenas se conclui quando o Poder Judiciário apresenta a motivação em sua fundamentação. É dizer: é necessário o esclarecimento das razões pelas quais a decisão judicial foi construída de determinada forma, o que deve ser lançado na parte da fundamentação da decisão. Entender em sentido contrário é permitir uma verdadeira ação autoritária do Poder Judiciário, com a adoção de determinado entendimento sem que às partes seja dado o direito (constitucionalmente garantido) de ter ciência dos motivos pelos quais foi proferida determinada decisão em relação ao bem da vida por elas perseguido.
Justamente nessa esteira de pensamento que se erigiram os arts. 489, CPC, e 832, CLT:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...]
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; [...]
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Art. 832. Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão.
Há, pois, induvidoso arcabouço legal – com forte viés normativo – que orienta os atores jurisdicionais a motivarem as suas decisões judiciais, no que se incluem os despachos de admissibilidade recursal.
3. Dos DespaChos De aDmissibiliDaDe ReCuRsal extRaoRDináRia e a funDamentação DeCisóRia, ainDa que sumáRia
Nos termos do parágrafo quinto do art. 896-A, CLT, é dever dos Tribunais Regionais do Trabalho a análise quanto aos pressupostos extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade recursal, a fim de receber o recurso de revista ou lhe negar seguimento.
Veja-se:
Art. 896-A. [...]
§ 6º. O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas.
Além desse dispositivo, conforme exposto nos parágrafos antecedentes, aplicam-se as disposições relacionadas às decisões em geral, notadamente os arts. 5º, LIV e LV, Constituição Federal; 489, Código de Processo Civil, e 832, Consolidação das Leis do Trabalho.
Portanto, à Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho, cabe, induvidosamente, a fundamentação de seu despacho de admissibilidade recursal, para indicar a identificação (ou não) dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos do apelo extremo.
A título exemplificativo, o Tribunal Regional deverá indicar por qual motivo a tempestividade não foi cumprida – a partir da indicação da contagem do prazo recursal, com o detalhamento dos dias inerentes ao apelo extremo e do efetivo dia em que o recurso foi protocolado.
Tratando-se da regularidade da representação processual – ainda exemplificativamente –, caberá à Presidência do Regional apontar em qual(ais) documento(s) se encontra(m) o(s) instrumento(s) de representação (procuração e substabelecimento) ou, minimamente, indicar adequadamente que esses não foram anexados ao processo (ou não da forma correta).
Esse tipo de fundamentação, especificamente, normalmente ocorre – talvez por ser uma motivação rápida, sucinta e objetiva.
Contudo, o mesmo não ocorre com os pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal.
Isso porque, nesse capítulo decisório, os Tribunais Regionais costumam – na maioria das vezes – apontar fundamentações genéricas e imprecisas para denegar seguimento ao recurso de revista, mediante escritas padronizadas, sem nenhuma vinculação direta e específica ao caso concreto.
Abaixo, exemplos extraídos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
o que pode ser identificado em centenas de processos nos quais se interpuseram recurso de revista:
[...] As razões recursais revelam a nítida intenção de revolver o conjunto fático-probatório apresentado, o que não se concebe em sede extraordinária de recurso de revista, a teor do disposto na Súmula 126, TST. [...]
[...] Não há que se cogitar de processamento do apelo pela arguição de nulidade por negativa
de prestação jurisdicional, tendo em vista que a decisão recorrida examinou toda a matéria posta no recurso.
Com efeito, conforme se vê no julgado, a fundamentação apresentada é suficiente para a comprovação da devida apreciação de todas as questões levantadas, tendo sido esgotados todos os aspectos basilares da controvérsia apontada no apelo.
A completa prestação jurisdicional caracteriza-se pelo oferecimento de decisão devidamente motivada com base nos elementos fáticos e jurídicos pertinentes e relevantes para a solução da lide.
No caso dos autos, a prestação jurisdicional revela-se completamente outorgada, mediante motivação clara e suficiente, permitindo, inclusive, o prosseguimento da discussão de mérito na via recursal extraordinária.
Incólumes as disposições legais e constitucionais pertinentes à alegação (Sumula 459, do TST).
Essa postura jurisdicional, infelizmente, acaba por não entregar a devida prestação jurisdicional tão esperada pela parte recorrente, que se dedica à construção de seu recurso extremo6 e simplesmente não tem acesso a uma decisão minimamente fundamentada, que realmente a convença de que seu apelo não preencheu adequadamente os pressupostos recursais de admissibilidade.
É uma verdadeira representação da jurisprudência defensiva, uma técnica judicial para negar conhecimento aos recursos, mediante a construção de indevidos obstáculos processuais.
Nesse aspecto, curioso relembrar que vigora, com bastante ênfase na Justiça do Trabalho, o princípio da dialeticidade recursal7: cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso interposto (seja ele ordinário ou extraordinário)8.
Essa é a dicção do art. 896, § 1º-A, III, CLT:
Art. 896. Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando: [...]
§ 1º-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: [...]
III – expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte.
A propósito, a partir da construção jurisprudencial, erigiu-se a Súmula
422/TST, especificamente seu inciso I:
6 Reconheça-se, inúmeros recursos extremos passam ao largo das mínimas balizas subjetivas insculpidas na Consolidação das Leis do Trabalho, de modo que realmente não mereceriam, de forma nenhuma, ser admitidos à instância final trabalhista. De todo modo, ainda assim remanesceria o poder-dever do Judiciário Trabalhista de fundamentar adequadamente as suas decisões.
7 LIMA, Patrícia Helena Azevedo. Recurso de revista e o princípio da dialeticidade. In: RICARDO CALCINI. Estratégias da advocacia no TST. p. 190.
8 BASTOS, Rodrigo Puppi. KLOSTER, Marcus Vinicius. O princípio da dialeticidade e a impugnação aos fundamentos da decisão no recurso de revista. In: RICARDO CALCINI. Estratégias da advocacia no TST. p. 183.
I – Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida.
Não há, todavia, um paralelismo processual em relação ao Poder Jurisdicional, na medida em que é entendimento assente de que “o julgador não está obrigado a rebater todos os fundamentos arguidos pela parte”.
É uma verdadeira assintonia entre as partes e o julgador, pois, nesse particular, apresentam obrigações processuais completamente diferentes, ainda que inerentes à mesma seara procedimental.
Isso porque, aos advogados, exige-se a pontuação de todos os fundamentos da decisão recorrida; lado outro, não se demanda do Poder Judiciário que todos os apontamentos das partes sejam respondidos (pelo menos não direta ou adequadamente) – a despeito da expressa previsão do inciso IV do parágrafo primeiro do art. 489, CPC.
De toda sorte, esse também não é o cerne do presente estudo, mas serve para ilustrar o cenário processual que se construiu e a inaceitabilidade quanto à atual postura jurisdicional quando da prolação de despachos de admissibilidade recursal.
4. ConClusão
As linhas aqui descritas evidenciam que todas as decisões judiciais devem ser, obrigatoriamente, fundamentadas, nos termos dos arts. 5º, LIV e LV, Constituição Federal; 489, Código de Processo Civil; e 832, Consolidação das Leis do Trabalho.
Ainda, não se considerada fundamentada a decisão que, por exemplo, (a) empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso ou (b) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.
Também se verificou que os despachos de admissibilidade recursal devem ser incluídos no conceito de decisão judicial, uma vez que analisam parte do pedido recursal (ainda que implícito), concernente à verificação dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.
Infelizmente, o Poder Judiciário se desenhou, há bastante tempo, para simplesmente denegar seguimento aos recursos extremos (como reflexo da jurisprudência defensiva), ainda que, para tanto, se valha de decisões superficiais e não adequadas ao processo específico – o que configura, sobremaneira, decisão não fundamentada.
Esse cenário deve mudar; precisa mudar. Aguarda-se inovação legislativa ou superação de precedentes para uma nova realidade processual.
o teletRabalho e a leGislação apliCável paRa os empReGaDos extRafRonteiRas
CaRla blanCo pousaDa1 pRisCilla CalDeiRa CaRbone21. intRoDução
Nos últimos três anos o teletrabalho, principalmente após o início da pandemia, evoluiu de maneira significativa socialmente e ascendeu para um expressivo número de empregados que se encontram em cidades, estados e países distintos da base física da empresa contratante.
Esse cenário fez ascender discussões quanto à legislação que vigorará para os contratos dos trabalhadores em teletrabalho fora do perímetro da empresa e principalmente fora do país de origem do contrato de trabalho.
Esses colaboradores, alocados em um mesmo ambiente virtual, entregam as atividades da sua prestação de serviço à empresa, através de rede remota de computadores, com relação de subordinação a um mesmo empregador; dirigidos pela empregadora contratante, que hipoteticamente pode ter sua sede no Brasil. Assim, a questão trazida neste estudo é sobre a aplicação da lei a estes trabalhadores, extrafronteiras, ou seja, que estão fora da circunscrição da sede da empresa brasileira, mas teoricamente poderiam estar beneficiados com os mesmos direitos da norma, seja ela individual ou coletiva.
2. a pRoblemátiCa Da apliCação Da lei teRRitoRial
Em virtude do enorme crescimento de empregados prestando seus serviços de maneira virtual, principalmente após o salto significativo dado com a Pandemia do Covid-19, muitos deles escolheram morar em outra cidade, estado e até em outro país, diferente do local da empresa contratante.
Baseado no Princípio da Territorialidade da prestação de serviço, Princípio este que emana da aplicação da norma do local da prestação, a empresa teria que aplicar um contrato de trabalho diferente para cada empregado em teletrabalho espalhados pelo estado, Brasil ou mundo, principalmente em respeito as convenções e acordos coletivos de cada cidade, estado ou determinado país, o que poderia trazer severas desigualdades nas condições de emprego do grupo de trabalhadores de uma empresa.
Nesse ponto caímos em uma problemática antiga, mas ainda recorrente, que é a da prática de contratação de empregados em locais diversos do mundo, se valendo da legislação de outros Estados como forma de redução de custos. O chamado: dumping social.
De acordo com o professor Enoque Ribeiro dos Santos, as práticas de dumping social: “visam a reduzir os custos dos seus produtos utilizando-se da mão de obra mais barata, afrontando direitos trabalhistas e previdenciários básicos, e também praticando concorrência desleal, com a finalidade de conquistar novas fatias no mercado de bens e produtos (...)”. 3
Considerando os objetivos principiológicos de redução da desigualdade social e econômica nas relações de emprego, o subterfugio e a aplicabilidade do dumping social devem ser severamente evitadas, visto que ao nosso entendimento precariza as relações de trabalho e também as de consumo.
Portanto, é necessário positivar a abertura do critério da territorialidade da norma, principalmente quanto as benesses dos instrumentos coletivos, trilhando o caminho para que os trabalhadores remotos trabalhem com igualdade de condições, independentemente do local da onde prestem os serviços.
3. os instRumentos Coletivos tRansfRonteiRiços
Em razão do modelo brasileiro da “unicidade sindical”, para os trabalhadores nacionais não há a possibilidade de escolha do sindicato que melhor represente os seus interesses. A imposição de uma entidade sindical única em pouco fomenta as negociações coletivas, uma vez que, não sendo de interesse do sindicato profissional único a normatização de instrumentos coletivos entre cidades, estados ou países, o trabalhador não pode escolher outro sindicato que tenha esse interesse.
Outro aspecto do modelo sindical brasileiro limita ainda mais as negociações transnacionais (negociações sindicais entre países ou com entes sindicais in-
ternacionais): O Princípio da Territorialidade. Este Princípio prevê a aplicabilidade das normas coletivas no local da prestação do serviço. O que, por si só, possui um impasse nacional, pois os princípios da proteção do trabalhador, em conjunto com a aplicabilidade da norma mais favorável, podem vir a conflitar com a aplicabilidade territorial da norma coletiva no local de prestação de serviço.
Nesse sentido, a própria legislação brasileira já possuía contrastes que resultavam em dificuldades para se confirmar qual norma coletiva deve ser aplicada dentro do país, considerando direitos mais ou menos benéficos aos trabalhadores. Assim, quando ultrapassados os limites fronteiriços, o impasse pode cair na norma mais favorável.
Em que pese o princípio da norma mais favorável não impedir por si só a celebração de normas coletivas transnacionais, diferente da Europa, por exemplo, o Brasil não possui nenhum ente representativo sindical de atuação internacional.
Na Europa, por citar um exemplo, há a Confederação Europeia de Sindicatos (“CES”), fundada no ano de 1973, e composta por 14 federações, que viabiliza a negociação coletiva entre países membros da União Europeia.4
Já no Mercosul, bloco econômico onde o Brasil é membro, inexiste uma organização sindical abarcando mais de um país, como a CES, o que dificulta, mas não impede alguns poucos acordos, em forma de orientações transnacionais como o da Volkswagen e os sindicatos dos metalúrgicos do ABC e Taubaté com a Argentina.
A principal atividade normativa envolvendo o tema, qual seja, a Declaração Tripartite de Princípios sobre as Empresas Multinacionais e Política Social da OIT, que prevê expressamente que as empresas multinacionais devam prezar pela equidade de benefícios para os trabalhadores de países diversos, possui previsões que encontram óbice na norma nacional brasileira, sendo o principal óbice a ausência de liberdade sindical pela imposição do princípio da “unicidade sindical” em detrimento da pluralidade de sindicatos.
Ainda no âmbito internacional, a Convenção nº 87 da OIT, que estabelece o direito de toda organização, federação, ou confederação, em filiar-se a organizações internacionais de trabalhadores e empregadores, não foi ratificada pelo Brasil, apesar de todos os esforços e apelos do judiciário e dos melhores juristas de Direito do Trabalho.
A ratificação da Convenção, por si só, seria capaz de garantir que o Brasil tivesse uma legislação nacional compatível com a Declaração Tripartite de Princí-
pios sobre as Empresas Multinacionais e Política Social da OIT, o que promoveria os acordos coletivos celebrados com empresas multinacionais de países diversos.
Em relação à Convenção nº 98 da OIT, em que pese ter sido ratificada pelo Brasil, por vezes o país é investigado para auferir descumprimentos decorrentes de alterações legislativas.
Excepcionalmente, como citado, já foi possível a celebração acordos coletivos transnacionais envolvendo o Brasil, entretanto a sua formalização foi limitada a um tipo específico, qual seja, os celebrados por intermédio da uma empresa multinacional utilizando-se de dois ou mais sindicatos locais de cada pais que juntamente pactuaram com a empresa o mesmo Acordo Coletivo de Trabalho, como no caso da Volks do Brasil (ABC e Taubaté) e da Argentina.
Alinhavando por fim a questão, é claro concluir que as normativas internacionais são fontes necessárias para que uma negociação coletiva tenha validade em diversos países. No entanto, a não ratificação de normativas, principalmente a da Convenção 87 da OIT ou a ausência de compatibilidade com a norma interna do país como no caso da Convenção 98 da OIT, tornam os impasses brasileiros de difícil superação, cabendo como solução a positivação pátria para atravessar tais obstáculos.
4. mp nº 1.108/2022
Em 25 de março de 2022, o Governo Federal editou duas novas medidas provisórias visando regulamentar o teletrabalho. Uma delas, a Medida Provisória nº 1.108 (“MPV 1.108”), trouxe inovações importantes nas regras gerais do teletrabalho, incluindo alternativas relacionadas à abrangência das normas coletivas nos contratos de teletrabalhadores residentes no exterior.
Como já elucidado acima, os sindicatos são conhecidos por representarem as categorias de forma limitada considerando as bases territoriais, o que muitas vezes se revela ineficiente em razão dos limites geográficos impostos para a atuação dos teletrabalhadores, causando grande insegurança jurídica aos extrafronteiras e levantando dúvidas sobre a correta representação sindical.
Sob esse aspecto, uma das modificações trazidas pela MPV nº 1.108 merecedora de destaque é a redação do § 7ª, acrescido ao artigo art. 75-B, da CLT prevendo que “Aos empregados em regime de teletrabalho aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e acordos coletivos de trabalho relativas à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado”.
Essa MPV trouxe a diretriz, ainda que temporária, de que o local da prestação de serviços não é relevante para a norma coletiva aplicada ao trabalhador em teletrabalho, uma vez que o enquadramento sindical segue a localização do
seu empregador, ou como diz o texto legal, “base territorial do estabelecimento de lotação do empregado”.
Já o parágrafo 8º, também acrescido ao artigo acima citado, tratou parcialmente a questão do trabalho transfronteiriço ao estabelecer que a lei brasileira deverá ser aplicada aos contratos de trabalho dos empregados contratados no Brasil, mas que optem pelo teletrabalho a ser realizado em território estrangeiro.
A nova norma excepcionou as hipóteses dos empregados expatriados, previstos na Lei nº 7.064/1982 e que são aqueles trabalhadores contratados no Brasil ou transferidos por seus empregadores para prestar serviço no exterior, por período superior a 90 (noventa) dias. Desta forma, a MPV mitigou o risco de um conflito legal e de caracterização de uma transferência temporária para o exterior sem a devida proteção legal, evitando, assim, potenciais litígios envolvendo o assunto.
Neste contexto, há de se ressaltar que, embora a MPV nº 1.108 tivesse força de lei durante a sua edição, a medida somente teria validade definitiva quando levada à deliberação do Poder Legislativo e convertida em lei.
Vale relembrar que a vigência de uma Medida Provisória é limitada a 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogada automaticamente por igual período caso não tenha sua votação concluída nas duas Casas Legislativas do Congresso Nacional. Se não for apreciada em até 45 dias, contados da sua publicação, entrará em regime de urgência, sobrestando todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.
Não obstante sua temporariedade, a MPV 1.108/2022 foi elevada à Lei Ordinária, com o número 14.442/2022 e sancionada em 2 de setembro de 2022 pelo Presidente da República, com alguns vetos. Vetos estes referentes a outros assuntos que não prejudicaram este estudo e análise.
5. lei 14.442/2022
A Lei 14.442/2022 sancionada pelo Presidente da República em 2 de setembro de 2022 e publicada no Diário Oficial da União no dia 05 de setembro de 2022 positivou a eficácia contínua da norma, visto que o texto legal é proveniente da Medida Provisória 1.108/2022 (que tinha duração limitada conforme explicado acima) mas passou à Lei Ordinária vigente com sua promulgação.
Portanto, com a promulgação da Lei 14.442/2022, o artigo 75-B da CLT5 foi definitivamente incluído na Lei Celetista para dar novos contornos ao teletra-
5 Art. 75-B. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não configure trabalho externo. (Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022) § 1º O comparecimento, ainda que de modo
