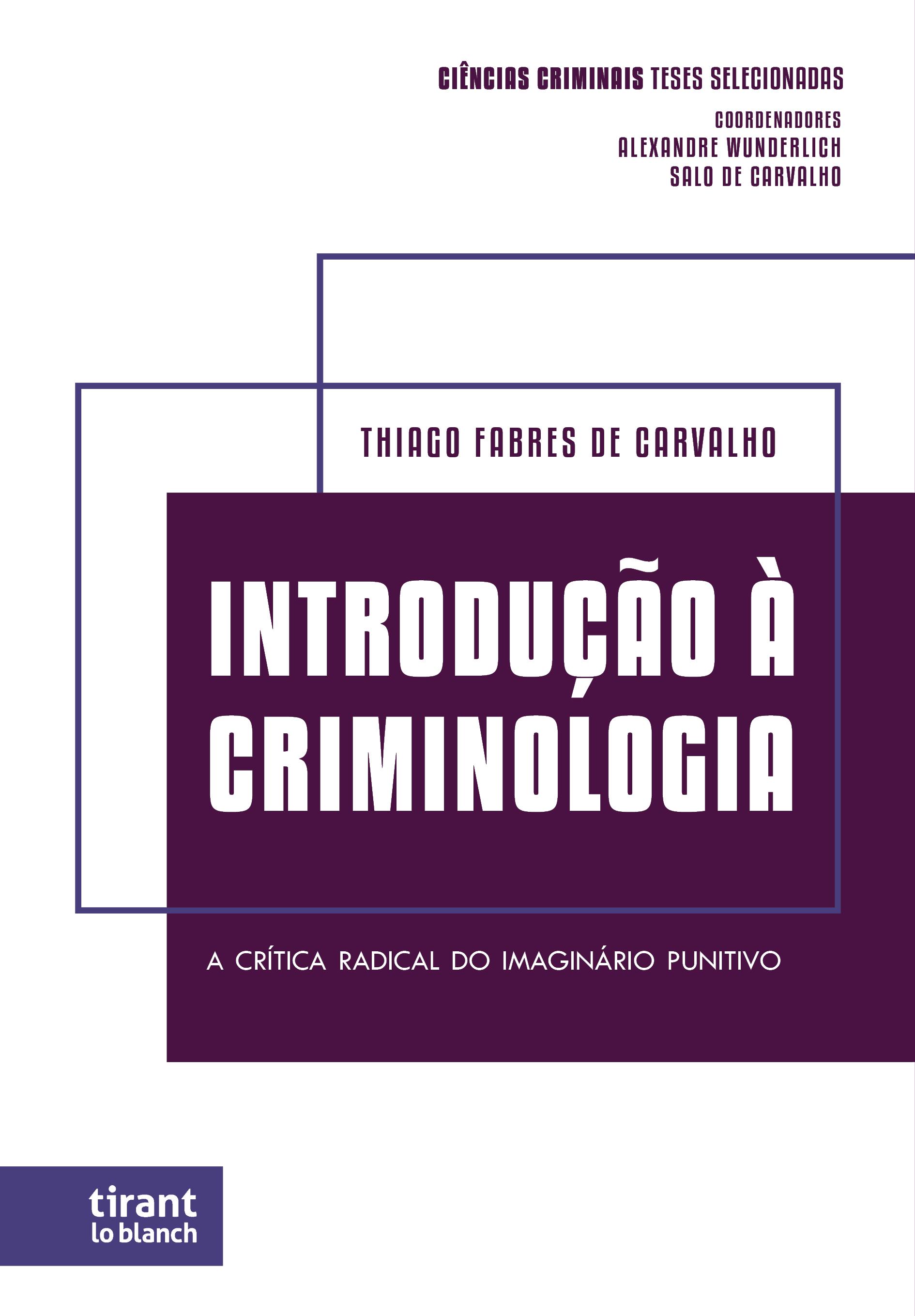
Thiago Fabres de Carvalho
Coleção Ciências Criminais
Teses Selecionadas
Coordenadores
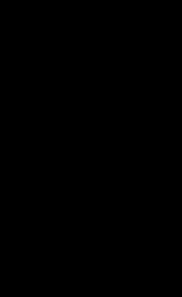
Alexandre Wunderlich Salo de Carvalho

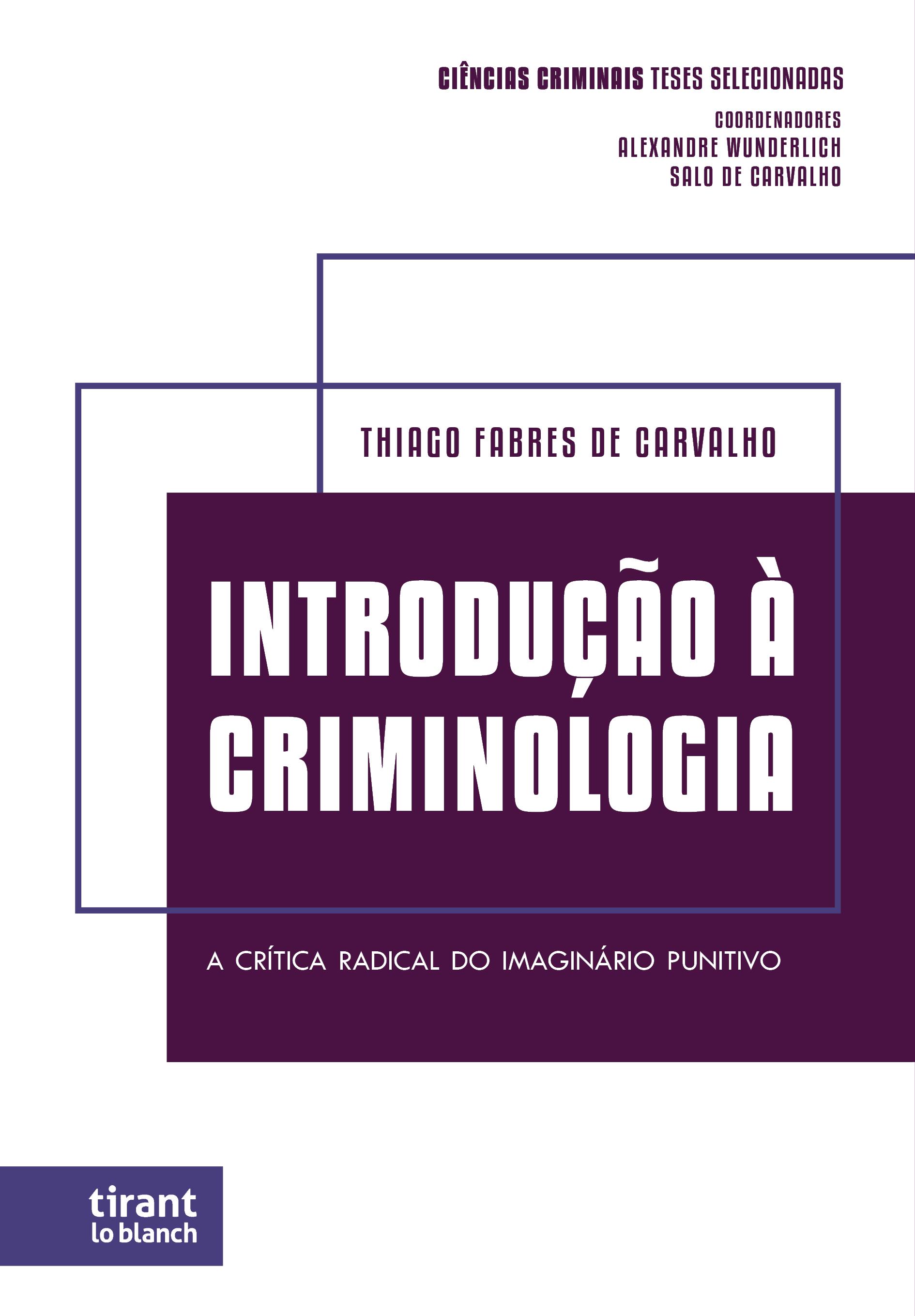
Coleção Ciências Criminais
Teses Selecionadas
Coordenadores
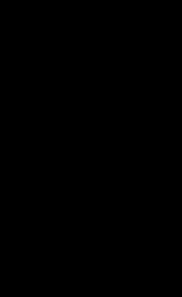
Alexandre Wunderlich Salo de Carvalho
A críticA rAdicAl do imAginário punitivo
Copyright© Tirant lo Blanch Brasil
Editor Responsável: Aline Gostinski
Assistente Editorial: Izabela Eid
Diagramação e Capa: Analu Brettas
Revisor Ortográfico: Kaio Rangel da Silva Dias
CONSELHO EDITORIAL CIENTÍFICO:
Eduardo FErrEr maC-grEgor PoIsot
Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Investigador do Instituto de Investigações Jurídicas da UNAM - México
JuarEz tavarEs
Catedrático de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil
luIs lóPEz guErra
Ex Magistrado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Catedrático de Direito Constitucional da Universidade Carlos III de Madrid - Espanha owEn m. FIss
Catedrático Emérito de Teoria de Direito da Universidade de Yale - EUA tomás s. vIvEs antón
Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência - Espanha
C329i
Carvalho, Thiago Fabres de Introdução à criminologia [recurso eletrônico] : a crítica radical do imaginário punitivo / Thiago Fabres de Carvalho ; coordenadores Alexandre Wunderlich, Salo de Carvalho. - 1. ed. - São Paulo : Tirant Lo Blanch, 2023. recurso digital ; 1.674 MB (Ciências criminais teses selecionadas ; 2)
Formato: ebook

Modo de acesso: world wide web
ISBN 978-65-5908-573-6 (recurso eletrônico)
23-83790
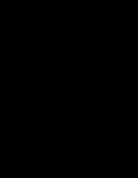
CDU: 343.9
DOI: 10.53071/boo-2023-06-27-649b1b943419a
É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais.A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art.184 e §§, Lei n° 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei n°9.610/98).
Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch.
Fone: 11 2894 7330 / Email: editora@tirant.com / atendimento@tirant.com tirant.com/br - editorial.tirant.com/br/
Impresso no Brasil / Printed in Brazil
1. Criminologia. 2. Livros eletrônicos. I. Wunderlich, Alexandre. II Carvalho, Salo de. III. Título. IV. Série. Meri Gleice Rodrigues de Souza - Bibliotecária - CRB-7/6439Coleção Ciências Criminais
Teses Selecionadas
Coordenadores
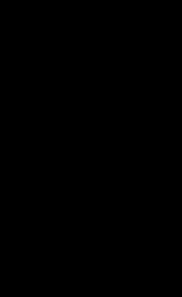
Alexandre Wunderlich Salo de Carvalho
A críticA rAdicAl do imAginário punitivo
O Professor Thiado Fabres de Carvalho deixou inédito o texto “INTRODUÇÃO À CRIMINOLOGIA: A CRÍTICA RADICAL DO IMAGINÁRIO PUNITIVO”, que agora recebe publicidade. Sua precoce partida deixou uma enorme saudade e um vácuo na criminológica crítica mais recente no Brasil.
Ao tempo em que anunciamos mais uma publicação na coleção “Ciências criminais: teses selecionadas”, registramos a importância da presente investigação e o nosso especial afeto para com o autor, que foi inicialmente nosso aluno, virou um grande amigo e depois um reconhecido colega docente na área das ciências criminais.
O texto é de elevada dimensão crítica e com certeza será bem recebido pela comunidade jurídica. Nosso muito obrigado à família do Thiago, especialmente para sua irmã Letícia e ao amigo Saulo Salvador, que viabilizaram a presente edição. Novamente devemos sublinhar a nossa gratidão para Editora Tirant lo Blanch e ao Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais, parceiros neste projeto.
São Paulo e Rio de Janeiro, junho de 2023.
ProF. dr. alExandrE wundErlICh
ProF. dr. salo dE Carvalho
A ideia da publicação desta obra surgiu imediatamente quando, poucos meses após a morte do meu irmão Thiago – na quarta-feira mais cinza da história, dia 26.02.2020 -, me deparei com esse belíssimo e profundo texto intitulado
PUNITIVO” dentre os arquivos inseridos em seu notebook.
Logo percebi que este material era o mesmo que ele acabara de finalizar no feriado de Carnaval daquele ano, momento em que estávamos todos juntos (a família reunida) no interior do estado do Espírito Santo, no nosso sítio em Ibitiruí, município de Alfredo Chaves.
Recordo-me de que até brinquei com ele enquanto ele escrevia em seu notebook na cozinha da casa, acompanhado de uma taça de vinho: “Thiago, só você mesmo para conseguir abstrair todo barulho das crianças correndo na sala para escrever!” Ele riu e me respondeu com um sorriso: “É mesmo, né, Lê !?, Só eu mesmo”.
Nos dois últimos anos antes de sua prematura partida, Thiago estava produzindo muito, escrevendo dedicadamente, como se pudesse prever que já não teria mais tanto tempo para dizer sobre a sua verdade, para expressar toda a bagagem de conhecimento que adquirira ao longo de todos os anos de estudo.
Ainda imersa em profunda dor, tive a certeza de que, no momento certo, a mim caberia a missão de publicar este estudo. Isso por ter a consciência do valor inestimável desta pesquisa, seja pela contribuição acadêmica no campo da Criminologia Crítica (eu cometeria “um crime” em deixá-la restrita), seja pela merecida homenagem a esse ser humano indescritível que foi meu irmão.
Assim, no final do ano de 2022, fiz contato e enviei o texto ao querido amigo Saulo Salvador, por quem Thiago nutria enorme carinho e amizade e, assim, marcamos um primeiro encontro num café da cidade de Vitória, para viabilizarmos essa linda missão de revelar um livro do Thiago, inédito, cujas “Considerações Finais” haviam sido concluídas dias antes de sua partida para outro plano, seguindo sua trajetória de luz em outra dimensão.
Foi um encontro regado a café, afeto (muito), lágrimas e risadas. Relembramos histórias do Thiago, falamos sobre a honra de podermos ter convivido com alguém tão especial e genial e, também, sobre como concretizar essa responsabilidade. Então, Saulo, emocionado, começou, ali mesmo, a pensar no planejamento desta obra.
Além da correção e formatação do texto feitos pelo Saulo, toda a obra e a edição precisava ter a “cara do Thiago”, o que o fez, instantaneamente, sugerir os nomes dos amigos, professores e pesquisadores Salo de Carvalho e Alexandre Wunderlich (pelos quais o Thiago tinha uma admiração e amor profundo) para participarem do projeto.
Assim, prontamente, o Alexandre já abraçou com muito afinco a ideia e possibilitou a publicação do livro junto à editora Tirant lo Blanch. E o Salo redigiu carinhosamente o posfácio, junto a Achutti, Mariana e Raffaella.
Thiago, desde sempre, foi um humanista que, quanto mais se dedicava aos estudos e à pesquisa no âmbito do Direito – sempre enviesada com a literatura, a música, a poesia, ou alguma outra expressão artística –, mais fortalecia sua crença na não retribuição da violência (repressão) como forma de resolução dos conflitos penais e sociais.
Pai amoroso e dedicado do Davi, filho zeloso de Léa e Perseu, irmão generoso de Letícia, Renata, Manuela, Guilherme. Por toda vida, foi minha referência de ser humano e meu orgulho (acho que de muitas pessoas). Minha parte mais sensível. Era certeiro nas palavras e nos gestos de amor. Amava a família e tinha uma legião de alunos e amigos.
Tinha um espírito indignado e sonhador. Nunca conseguiu viver alheio às injustiças. Canalizou grande parte da sua “angústia” nos estudos (era um leitor voraz), tendo como principal mestre o professor Lenio Luiz Streck, seu orientador durante o Mestrado e o Doutorado, na UNISINOS.
Foi intenso, não poupou afetos e dizia “eu te amo” como uma criança diz à outra. Sem pudor, sem reservas, sem medo da rejeição. Acreditava no perdão na mesma proporção que odiava a prisão, “fábrica de moer gente”, ele afirmava. E foi fiel ao seu pensamento até os seus últimos dias e na sua última obra, finalizando esse livro com uma passagem poética, como era sua marca:
“No entanto, como imortaliza Drummond nos versos que abrem o presente trabalho, paradoxalmente o mesmo medo que produz “carcereiros, edifícios e escritores, este poema”, aduz o poeta, produz em contrapartida “outras vidas”, quem sabe de um tempo aberto e incessante de não-violência. Mesmo imersos no medo, ainda é possível vislumbrar algum espaço para a liberdade, até mesmo para o amor. No medo também se ama, pois como alerta a canção do poeta “foi por medo de avião, que eu segurei pela primeira vez na sua mão”.
Ler este livro será, para além de todo conhecimento acadêmico, como ouvir o Thiago sussurrar em nossos ouvidos palavras de amor e de esperança em um futuro bem mais afável para as próximas gerações.
Boa leitura.
lEtíCIa FabrEs dE CarvalhoNa extraordinária canção A Ponte, os compositores pernambucanos Lenine e Lula Queiroga instigam a imaginação hermenêutico-dialética de seus ouvintes. Lançam indagações simples, sem oferecer de plano as respostas. Apresentam, porém, pequenos enigmas: “como é que faz pra lavar a roupa? Como é que faz pra raiar o dia? Este lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha?”.1 E deixam, em seguida, um espaço aberto à reflexão do auditório. Com efeito, no início da canção, naquele brevíssimo instante do compasso musical em que silenciam suas respostas, os autores abrem um leque de possibilidades à produção de inúmeros sentidos. Cada um de nós estaria autorizado a pensar e produzir dialeticamente as próprias respostas. Abre-se, pois, o círculo hermenêutico. A estrutura e o movimento da compreensão. Nossas pré-compreensões, nossos pré-juízos, compõem um mosaico de possíveis repostas, a partir de antecipações de sentido originadas do chão linguístico de uma tradição intersubjetivamente partilhada.
Em seguida, os músicos nos ofertam a resolução dos enigmas, simples, porém surpreendentes: “como é que faz pra lavar a roupa? Vai na fonte, vai na fonte. Como é que faz pra raiar o dia? No horizonte, no horizonte. Este lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte”2. Simples, diretos, contundentes, criativos, admiráveis.
As respostas podem ou não coincidir com as nossas, nem por isso são menos exatas ou corretas que as dos autores. Há, sempre e necessariamente, uma antecipação de sentido, fundada em uma pré-compreensão que se articula nos horizontes existenciais de cada intérprete na sua singularidade concreta. Mais adiante, Lenine e Queiroga explicitam – de forma bastante sutil e inesperada – o “método” que os conduziram ao desfecho das indagações. Seria, exatamente, a
ponte. É ela a singela chave epistêmica da compreensão. Dizem eles: “a ponte não é de ferro, não é de concreto, não é de cimento. A ponte é até onde vai o meu pensamento. A ponte não é para ir nem pra voltar, a ponte é somente para atravessar, caminhar sobre as águas desse momento”3. O “método”, pois, é a própria travessia. Nem a partida, nem a chegada, nem a perguntas, nem a respostas, embora estas só pudessem surgir a partir daquelas.
Nesse sentido, no mesmo compasso da canção referida, este estudo busca lançar uma resposta introdutória a indagações, a enigmas, aparentemente insolúveis: afinal, o que é isto a criminologia? Quais as principais fontes do imaginário punitivo? Quais os horizontes do conhecimento criminológico? Quais as pontes que permitem a travessia para a compreensão da questão criminal?4
Isto porque, parece haver um desacordo bastante difundido sobre as “origens” e as demarcações de um estatuto epistemológico para este campo de reflexão. Como adverte Pavarini, “sob o termo criminologia, pode-se entender uma pluralidade de discursos, uma heterogeneidade de objetos e métodos não homogeneizáveis entre si, mas orientados (...) para a solução de um problema comum: como garantir a ordem social”. Portanto, aduz o autor, por trás de cada reflexão criminológica existe sempre esta preocupação pela desordem social, pela ameaça à ordem instituída. São sempre as “demandas de ordem” que impulsionam a produção dos discursos criminológicos hegemônicos.5
Ainda nos termos de Pavarini, a configuração do objeto “criminologia” não possui sentido por si mesmo, mas apenas enquanto condicionado e determinado por elementos externos a ela. Dessa forma, o fio de Ariadne de uma possível compreensão dos discursos criminológicos é buscado nas demandas, qualitativamente distintas, de política criminal. 6 Trata-se, pois, de um saber sempre condicionado politicamente, sempre erguido teoricamente em direção aos fins práticos de legitimação e reprodução da ordem social.
Historicamente, a definição de um estatuto epistemológico para a criminologia não representou tarefa fácil. Um saber relegado praticamente a um senso comum teórico, superficial, identificado com as vertentes mais reacionárias do positivismo científico, e politicamente percebido como a articulação de discursos de justificação do poder disciplinar e do biopoder. Para Salo de Carvalho, a
3 Idem.
4 A expressão questão criminal quer significar, nos termos de Gabriel Ignacio Anitua, o conjunto, muito heterogêneo, de objetos de estudo trazidos pelos distintos pensamentos criminológicos, o que lhe impõe reconhecer o seu caráter de definição “circular”. ANITUA, Gabriel Ignacio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Rio de Janeiro: Revan, 2008, p. 18.
5 PAVARINI, Massimo. Control y Dominación: teorías criminológicas burguesas e proyecto hegemónico. Madrid: Siglo Veinteuno, 1999, p. 18. BATISTA, Vera Malaguti. Introdução crítica à criminologia brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 2017.
6 PAVARINI, Massimo. Control y Dominación: teorías criminológicas burguesas e proyecto hegemónico. Madrid: Siglo Veinteuno, 1999p. 17 e segs.
despeito da existência, em diversos momentos da história, de diversos saberes sobre a questão criminal, “apontar a gênese da criminologia moderna indicaria não apenas a delimitação do horizonte de investigação, mas a eleição de um projeto político (criminal)”7.
De forma bastante notável, do ponto de vista histórico e antropológico, as representações simbólicas que buscam compreender os sentidos da violência e os mecanismos ou estratégias de sua superação perpassam as fontes imaginárias de praticamente todas as sociedades humanas. Nas sociedades primitivas, dos relatos mitológicos às construções filosóficas, percebe-se sempre um intenso esforço na tentativa de compreender o conflito e a violência como elementos constitutivos das relações divinas ou humanas. Daí uma certa conexão profunda, como assinalou René Girard, entre a violência e o sagrado8.
As fontes do mal, as construções do desvio e do desviante e a instituição de mecanismos e estratégias de sua extirpação, emergem, nas sociedades humanas, como sistemas simbólicos sancionados, a partir de sua instituição imaginária.9
Em termos mais atuais, os fenômenos que designamos como crime e pena expressam um universo de significações imaginárias sociais, produzidas a partir de uma memória coletivamente partilhada. A penalidade é, portanto, sempre um relato social forjado a partir das “demandas de ordem” de uma dada sociedade concreta, com suas lutas políticas e sociais entre as classes ou grupos antagônicos. Assim como a loucura, o crime é fabricado socialmente, erigindo-se como os símbolos mais tradicionais de seleção e definição do que é vivido como diferente, perigoso e, por essa razão, estigmatizado como foco de um mal-estar o qual é necessário eliminar.10
Assim, o caráter simbólico e funcional do rito apresenta uma força social inquestionável. Isto, porque aparece como inevitável ao homem a ideia de que o mal reside fora dele, que é possível circunscrevê-lo e, por essa razão, ser alijado. Tais crenças expressam “uma maneira de sentir que o mal – que espreita o todo – pode ser localizado, dando-lhe um caráter de representação: que esse mal é um símbolo de todos os males ou que todos os males estão nesse mal. Tal lógica funciona como uma saída e nos faz ver o mal lá e não em nós ou no que nos rodeia ou naqueles que descobrem e agem de acordo com ele. Ao mesmo tempo, aquele símbolo sobre o qual o mal recai é excluído. Dessa forma, a ideia de que esse mal
7 CARVALHO, Salo de. Antimanual da Criminologia. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 312
8 GIRARD, René. A violência e o sagrado. São Paulo: Paz e Terra, 1998.
9 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 1982.
10 BALESTENA, Eduardo. La fabrica penal: visión interdisciplinária del sistema punitivo. Imprenta: Buenos Aires, B de F, 2006. P. 5
nos afeta a todos e que devemos enfrentá-lo em solidariedade não funciona, mas que está encarnado em alguém que pode ser banido”.11
Assim, a genealogia do pensamento criminológico sempre esteve mergulhada na complexidade da definição das perguntas e das respostas sobre tais males, que exigiram a tarefa de circunscrever de forma mais precisa uma fenomenologia a ser compreendida, apta a demarcar as pontes necessárias às aberturas das trilhas da travessia, isto é, dos “métodos” que conduziriam ao movimento da compreensão.
Daí a conclusão de Pavarini no sentido de que o objeto da criminologia seria a questão criminal, ou seja, um conjunto de fenômenos não homogeneizáveis entre si, o que exigiria, por consequência, para sua adequada análise, métodos plurais12, inúmeras pontes, poder-se-ia dizer. Múltiplas questões, inúmeros enigmas, respostas variadas, a partir das quais emergem as pontes necessárias à travessia, à estrutura e ao movimento da compreensão do fenômeno criminal. Por isso, também, a dificuldade da criminologia definir-se a si mesma e consolidar-se cientificamente como um campo mais precisamente delimitado de investigação.
Para o enfrentamento de tais questionamentos, propõe-se a construção de algumas pontes, caminhos possíveis, uma vez que são as indagações e as respostas, sempre previamente antecipadas, que conduzem os caminhos da travessia. A hipótese que norteia, então, esta obra consiste na percepção de que a criminologia constitui, no plano “epistemológico”, uma hermenêutica crítica da questão criminal. Ela pretende, ao eleger algumas perguntas fundamentais, desencadear as travessias para a solução dos enigmas que evolvem a compreensão da fenomenologia da violência (questão criminal), entendida historicamente como a compreensão do crime (ou desvio), do criminoso (ou desviante), da responsabilidade penal, e das respostas ou reações sociais formal e informal à conflitividade social (em especial, a pena pública).
Na literatura clássica, a criminologia é definida como toda tentativa de abordagem científica de estudo do fenômeno criminal.13 Para Edwin Sutherland e Donald Cressey, a criminologia é um campo de conhecimento que apreende o crime como um fenômeno social. Dentre seus escopos estariam incluídos os processos sociais de elaboração e rupturas das leis, além dos processos de reação em face de tais violações. De modo que o seu principal objetivo consistiria no desenvolvimento de um conjunto de princípios gerais e diversos acerca dos processos de construção do direito, do crime e das formas de reação.14
11 BALESTENA, op. cit., p. 17.
12 PAVARINI, Massimo. Control y Dominación: teorías criminológicas burguesas e proyecto hegemónico. Madrid: Siglo Veinteuno, 1999, p. 17 e segs.
13 SIEGEL, Larry S. Criminology. Belmont: Thomson Learning, 2003, p. 04.
14 SUTHERLAND, Edwin & CRESSEY, Donald. Principles of Criminology. Philadelphia: J. B. Lippincott, 1960, p. 03.
Nesse sentido, a travessia proposta exige, pois, em um primeiro momento, destacar a genealogia do imaginário punitivo moderno, a fim de oferecer a articulação teórica que permita alcançar as respostas aos questionamentos oferecidos inicialmente, para, enfim, produzir sentidos sobre os possíveis significados e alcances da criminologia.
2. Introdução à criminologia: a gEnEalogIa do imaginário punitivo modErno – a teologia política da PunIção
Do ponto de vista histórico e antropológico, a emergência de um saber sobre a questão criminal representa, claramente, o anseio sempre presente, em todas as sociedades humanas, de construir um universo de representações simbólicas apto a fomentar ou garantir a pacificação do grupo social abalado pelo sangue derramado, capaz de esconjurar a violência destruidora e mortífera do seio da comunidade e de reafirmar a instituição de elos sociais duradouros. Assim, o imaginário punitivo consiste, exatamente, nas fontes simbólicas que pretendem explicar tanto a genealogia quanto a necessidade do interdito, da fundação da ordem social, da lei e da justiça (penal).15
Portanto, a noção de imaginário punitivo, aqui desenvolvida, enquanto um universo de representações simbólicas sobre a questão criminal, parte do pressuposto de que os sistemas punitivos, aquilo que atualmente se designa por sistemas penais (que englobam os discursos de justificação do poder punitivo oficial e/ou de sua crítica, e as práticas punitivas concretas e/ou reações sociais às condutas reputadas intoleráveis), não se contentam em refletir e defender posições instituídas, mas erigem e exercem igualmente funções instituintes, “o que supõe criação imaginária de significações sociais-históricas novas e desconstrução das significações instituídas que a elas se opõem”.16
De tal modo, o imaginário punitivo se articula, pois, como um jogo ininterrupto entre as formas oficiais de controle social, em especial impostas pelo direito estabelecido ou positivo (amparadas pelos discursos jurídicos e criminológicos dominantes de justificação do exercício do poder punitivo) e um amplo espectro de representações simbólicas em permanente tensão com tais formas instituídas. Nesse sentido, o imaginário punitivo repousa tanto nas formas instituídas do direito posto, com suas práticas e seus discursos de justificação, quanto em um imaginário jurídico, isto é, uma espécie de infradireito, “gerador das mais
15 GIRARD, René. A violência e o sagrado. São Paulo: Paz e Terra, 1998; MALINOWSKI, Bronislaw. Crime e costume na sociedade selvagem. Trad. de Maria Clara Corrêa Dias. Brasília: UnB, 2003; OST, Farnçois. O Tempo do Direito. Lisboa: Instituto Piaget, 1999; DERRIDA, Jacques. Força de Lei. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
16 OST, François. Contar a lei: as fontes do imaginário jurídico. São Leopoldo: Unisinos, 2002, p. 5.
diversas formas de costumes, hábitos, práticas e discursos que não cessam de agir, de dentro, sobre os modelos oficiais do direito instituído”.17
As representações simbólicas punitivas hegemônicas emergem das condições históricas concretas de uma dada comunidade política, atrelando-se não apenas às suas condições materiais de reprodução da vida social, mas também aos seus universos simbólicos (míticos, culturais, religiosos) que orientam práticas sociais específicas. Tais representações, por sua vez, jamais esvaziam definitivamente ou apagam imaginários simbólicos alternativos, com suas formas ou estratégias distintas para o enfrentamento das mesmas situações problemáticas. As formas oficiais de resolução de conflitos jamais suprimem ou eliminam mecanismos cotidianos, mediações intersubjetivas diárias que contradizem ou mesmo negam abertamente as representações simbólicas e as práticas dominantes, assim como não eliminam, a despeito das programações normativas, as violências irracionais e ilegais exercidas pelos poderes estabelecidos e suas práticas subterrâneas concretas.18
Indiscutivelmente, l’uomo vive sempre in societá e questa presuppone sempre un ordine19. E, por essa razão, o controle social é sempre um componente intrínseco e indispensável à sua conservação. Isso, porque a ordem social – como imposição de uma dada definição dominante da realidade social – produz, consequentemente, as condições e as fronteiras da desordem. Fixar a ordem significa, também, impor e representar as imagens do desvio. As formas instituídas emergem e se apoiam nas forças instituintes, e estas jamais cessam de se agitar contra aquelas. Por isso mesmo, toda definição da ordem social é precária e cambiante20. Como ressaltam Dias e Andrade, é impossível “pensar-se em comportamento desviante sem a referência a uma ordem normativa objetivada e heterônoma, que ‘reduza a complexidade’ resultante da abertura do homem ao mundo e à vida e torne possível a interação. Por outro lado, e inversamente, a existência
17 OST, François. Contar a lei: as fontes do imaginário jurídico. São Leopoldo: Unisinos, 2002, p. 5 e segs.; CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 1982; 2004; ARNAUD, André-Jean. Critique de la raison juridique. Paris: LGDJ, 1981; ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Criminología: aproximación desde un margen. Bogotá: Temis, 2003; PAVARINI, Massimo. Control y Dominación: teorías criminológicas burguesas e proyecto hegemónico. Madrid: Siglo Veinteuno, 1999; HESS, Henner. Il controllo sociale: societá e potere. Dei delitti e delle pene (03). Bari: De Donato, 1983, p. 500 e segs; BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal. Rio de Janeiro: Revan, 2001; YOUNG, Jock. Thinking Seriously About Crime: some models of criminology. Disponível em: www. malcolmread. co. uk/ JockYoung. Acesso em: 10 jul. 2019; ANDRADE, Vera. A ilusão de segurança jurídica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002; CARVALHO, Salo de. Antinanual de Criminologia. São Paulo: Saraiva, 2012; MARTEAU, Juan Félix. La condición estratétiga de las normas: el discurso radical de la criminolía. Buenos Aires: EUDEBA, 1997.
18 SCHEERER, Sebastian & HESS, Henner. El concepto de control social: defensa y reformulación. In: SCHEERER, Sebastian. Derecho Penal y Control Social: ensayos críticos. Buenos Aires: ADHOC, 2016, p. 53. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Criminología: aproximación desde un margen. Bogotá: Temis, 2003; ROULAND, Norbert. Nos confins do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003; ARNAUD, André-Jean & FARIÑAS DULCE, María José. Introdução à análise sociológica dos sistemas jurídicos. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 11 e segs.
19 HESS, Henner. Il controllo sociale: societá e potere. Dei delitti e delle pene (03). Bari: De Donato, 1983, p. 500.
20 BERGER, Peter L. & LUCKMAN, Thomas. A construção social da realidade. Petrópolis: Vozes, 2002; HASSEMER, Win- fried; MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción a la Criminología y al Derecho Penal. Valencia: Tirant lo branch, 1987.
de uma ordem social – como imposição de uma dada definição da realidade social – implica necessariamente estratégias de legitimação, defesa e, por isso, de punição”21.
Nesse cenário, a consolidação sistemática de um saber voltado à compreensão e à explicação das condutas desviantes e das estratégias de controle social apresenta uma gênese histórica complexa. Os autores divergem amplamente quanto ao seu surgimento. Uma primeira vertente explicativa, a qual se considera a mais rica em perspectiva histórica, afirma que as bases fundacionais do imaginário punitivo moderno, enquanto um saber sistematizado a partir do qual se articula o campo criminológico, seria o século XIII. A razão dessa escolha, antes de ser meramente aleatória, residiria no fato de que, exatamente nesse contexto histórico, se iniciam as principais transformações que definem de modo pleno os principais alicerces do sistema de justiça penal moderno e, por essa razão, o leque de preocupações que circunscrevem aquilo que seria a questão criminal.
Para Anitúa, a emergência da soberania, da centralização e da unificação do poder na figura do monarca, do Papa ou do imperador, engendram novos modos de produção da juridicidade e do exercício do poder que fundam as bases do poder punitivo que se configuraria na modernidade.22 Com efeito, foi, sobretudo, Michel Foucault quem descreveu de forma magistral esse conjunto de transformações que marcam o surgimento do sistema de justiça penal que perdura, em diversos aspectos, até os dias atuais, estabelecendo as questões fundamentais da reflexão criminológica. Com efeito, o sistema grego de busca da verdade – presente na tragédia edípica – e o modelo jurídico germânico – fundado no duelo e no sistema vindicativo – cedem gradativamente lugar à ascensão do poder centralizado e burocrático dos gérmens do Estado Absolutista, alicerçado pelo resgate do direito romano promovido pela arquitetura jurídica e política da Igreja Católica. Um direito fundado na espetacular capacidade de abstração e generalização de expectativas de comportamento, uma vez que erigido a partir da ratio scripta (tipificação escrita).23
Essa centralização e burocratização produzem, na aurora do Século XIII, o “confisco do conflito” por parte do Estado, o que engendra a gradativa superação do modelo jurídico germânico, fundado no duelo e no sistema vindicativo atrelado a ele. Os mecanismos regulatórios da vingança passam a ser gradualmente confiscados pelo Estado soberano em vias de afirmação. A disputatio do direito
21 DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: o homem delinquente e a sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra ed., 1997.
22 ANITUA, Gabriel Ignacio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Rio de Janeiro: Revan, 2008, p. 19 e segs.
23 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: PUC/NAU, 1999, p. 32 e segs. FERRAZ JR. Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do Direito. São Paulo: Atlas, 1987, p. 10 e segs.
germânico cede lugar à inquisitio romano-penitencial-canônica. Nesse novo modelo, a busca da verdade pelo inquérito é prerrogativa dos notáveis, agora um corpo burocrático a serviço do soberano, a acusação é impulsionada e conduzida pela figura do Procurador, representante do monarca, que reivindica a aplicação de uma justiça verticalizada, imposta do alto e exercida de modo implacável e caricatural, apta a demonstrar a potência violenta e inflexível do poder político. A agressão, antes percebida como um dano a um terceiro agredido (vítima), assume, doravante, a forma da infração à lei do Estado. As vítimas concretas se anulam e, em seu lugar, surge uma vítima abstrata: o soberano, o Estado, a lei, a sociedade. Aqui, reside a gênese da noção de crime da modernidade liberal e individualista, na qual a ideia de dano é substituída pela ideia de infração. A infração já não será mais um dano cometido por um indivíduo contra outro; será, agora, uma ofensa ou lesão de um indivíduo à ordem, ao Estado, à lei, à sociedade, à soberania, ao soberano. A infração é uma das grandes invenções do pensamento medieval e posteriormente racionalizada pelo pensamento penal liberal e iluminista.24
Nos termos de Anitua, aos funcionários instruídos, letrados, caberia a função de exercer a violência “legítima” reivindicada pelo Estado, e a dedicar-se à tarefa de criar um corpo teórico de pensamento capaz de justificá-la. Assim, “mais do que usurpar a função jurisdicional, o Estado e o Direito – o rei e seus juristas especializados – apropriaram-se das relações de poder interpessoais, do próprio conflito. O monopólio estatal do jus puniendi significa que não se substituía somente a sociedade em assembleia, mas, também, as vítimas de sua reclamação, e em seus lugares aparecem funções estatais que deviam ser respeitadas por aqueles.
O Estado teria interesse, desde então, na resolução dos conflitos, mais do que os particulares, o que se revelaria em falta de acusações e no surgimento das delações secretas como motor inicial das ações que promoveriam juízos e castigos”.25
A centralização do poder, a burocracia, e as formas inquisitoriais de produção da verdade, alimentam as tramas da justiça penal absolutista e canônica, em um cenário acirrado de disputas jurisdicionais. Todo esse processo resultou na “quebra do sistema acusatório e abriu caminho, de mãos dadas com o direito canônico que recuperava formas do processo romano imperial, ao sistema processual inquisitivo”. A noção de “infração” transforma todo e qualquer dano a outrem num crime contra o soberano, sempre ávido pela reparação ou castigo.26
Nesse sentido, a despeito das disputas jurisdicionais entre Estado e Igreja, os modelos processuais se entrecruzam e se assemelham de modo profundo, uma vez que a sentença e a verdade se afirmam, em ambos os casos, por basicamente dois caminhos: o do flagrante delito (intra-jurídico), presente já nos direitos feudal e germânico, e um segundo modelo, que foi o efetivamente adotado, o modelo de inquérito (inquisitio). Há, então, a partir desse modelo, a substituição da luta, do duelo, como mecanismo de resolução dos conflitos, nascendo, em seu lugar, o modelo da averiguação e da prova para a verificação de uma hipótese acusatória promovida pelo representante do soberano. Já não mais importa o dano causado, “o que resulta transcendente era a indisciplina, a desobediência, a falta de respeito para com a lei do soberano”. Inventa-se, a partir daí, o delito e o delinquente.27
O imaginário punitivo dominante, enquanto episteme, assume a forma de um saber sacralizado, revelado por uma autoridade transcendental, a partir de um poder político incontrastável, enquanto a grande personagem principal. O exercício desse poder se realiza mediante a técnica do interrogatório, questionando, uma vez que “não sabe a verdade e procura sabê-la”. Com efeito, “o poder, para determinar a verdade, dirige-se aos notáveis, pessoas capazes de saber segundo sua notabilidade, riqueza, idade etc.”, exigindo-se que se “reúnam livremente e que deem uma opinião coletiva”. Nesses termos, “o inquérito teve uma dupla origem: administrativa, ligada ao surgimento do Estado na época carolíngea; origem religiosa, eclesiástica, presente na Idade Média (inquérito entendido como olhar sobre as almas, corações, atos, intenções)”. Nos termos de Foucault, “trata-se não de um progresso da racionalidade, mas de uma técnica de administração, uma modalidade de gestão. O inquérito é uma determinada maneira do poder se exercer”. A sua introdução no cenário jurídico se dá a partir da Igreja e, por conseguinte, está impregnado de categorias religiosas. A própria noção de infração traz consigo a ideia de falta moral (lesão à lei e falta religiosa se misturam). Por essa razão, “o inquérito é uma forma de saber-poder”.28
Estão cerradas as bases do saber criminológico e penal, envolto com a justificação de um poderio político irrevogável e ilimitado, transcendente e inquestionável, violento e implacável. É sobretudo como saber-poder inquisitorial que ele se estabelece e se desenvolve. O imaginário punitivo enraíza-se na “duplicação” da vítima e na anulação do ofensor, transformado em objeto – réu, do latim res, coisa – da indagação. O acusado passa a ser objeto da acusação, e dele deveria extrair-se a confissão, uma vez que a verdade reside no corpo do acusado. Nessa
caminhada, “a prática da confissão logo requererá a tortura”, a qual passa a incrustar-se nas modalidades punitivas estatais”.29
O belo filme Sombras de Goya, do diretor checo Miloš Forman, retrata com finura o empreendimento penal inquisitorial. Francisco Goya, na Madri de 1792, dissemina gravuras que inquietam um seleto corpo burocrático do sanguinário Tribunal do Santo Ofício espanhol. Nas imagens, a representação de um clero desfigurado, de feições monstruosas, agrupados em torno de cálices de bebidas e ouro ou em delírios orgásticos, cenas sexuais tórridas, na execução de torturas de homens e mulheres declarados portadores do mal e da heresia.
Assustados e indignados, os cardeais dialogam não apenas sobre o sentido atentatório das pinturas, mas, sobretudo, acerca da “alma perigosa” de seu autor. “Isto é como o mundo nos vê”, afirma um dos cléricos enfurecido, sacudindo uma gravura nas mãos. No entanto, Francisco Goya é o pintor escolhido por um deles para realizar seu auto retrato. Sua justificativa, o artista de renome fora nomeado pelo rei e pela rainha o pintor da Corte. “Eles o consideram um grande pintor da Espanha”, afirma com autoridade Irmão Lorenzo.
O embate ganha um tom mais elevado, pois as “gravuras perturbadoras” sinalizam que “esse tal Goya” é fatalmente “um representante das forças das trevas”.
Ao advogar pela integridade da alma do artista, Irmão Lorenzo reivindica a necessidade de se “voltar aos velhos costumes”, uma vez que “encontrou mulheres que não sabem dizer uma única oração”. “Elas sim, elas sim merecem ser queimadas”, sentencia o cardeal. “Estou falando sobre os costumes do passado, da temência a Deus”, sugere em resposta. A perseguição se reaviva e recai, inadvertidamente, sobre a bela jovem Inês Bilbatua, filha de um nobre e rico comerciante.
Inês é presa pela Inquisição, acusada de judaísmo, apenas por ter recusado, em uma festa na Taberna, acompanhada dos irmãos, a comer carne de porco, local onde, por acaso, estavam delatores do Santo Ofício. Torturada insistentemente de forma covarde e cruel, Inês confessa ser praticante de ritos judaicos, a despeito de desconhecê-los por completo. Deleção, tortura, confissão. Esses três enormes monumentos inquisitivos produzem sistematicamente bruxas e hereges, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, mais tarde, criminosos, em nome do Estado e da defesa social.
A linda jovem, modelo de Francisco Goya, em uma pintura, jamais poderia desconfiar, em sua doce e singela inocência, de que o sistema punitivo inquisitorial, sempre apto a fuçar heresias em todo canto, fabrica diariamente seus demônios a fim de acionar e justificar suas santas inquisições. “Você já viu um
fantasma?”, indaga Goya à doce Inês. “Não, mas eu já vi uma bruxa”, responde ela. “E como ela era?”, retruca o pintor. “Ela era curvada e dava arrepios. E ela fedia”, aduz a jovem. “Isto é interessante, porque a bruxa que conheço é jovem, muito amável e cheira a Jasmim”, conclui sabiamente Francisco Goya. As bruxas são produtos do poder, não existem em si mesmas, não possuem uma existência ontológica. É a palavra do poder que as fazem surgir. Francisco Goya, com sua sabedoria política e criminológica, compreendeu isto desde o início. A jovem amável que cheira a Jasmim poderia ser convertida imediatamente em bruxa, desde que afirmado pelo poder punitivo inquisitorial. E assim o foi.
Inês jamais poderia supor que, pouco depois, seria julgada bruxa, precisamente por não apreciar o sabor e se recusar a comer carne de porco. E apenas por isto. Paradoxalmente, também não apenas por isso. Foi punida por ser mulher, bela, sexualmente perigosa. A potência sexual feminina como encarnação do perigo e do pecado. O “delito”, a conduta da recusa à carne suína, foi apenas o álibi para sua danação existência, sua perseguição e posterior condenação. A conduta é, e sempre será, um pretexto para perseguir pessoas e grupos definidos como perigosos. Eis as forças das engrenagens do sistema punitivo que emergem do “confisco do conflito”, da união política e espiritual entre Estado e Igreja, jamais completamente desfeita. A partir de então, o sistema penal será, nas palavras de Louk Hulsman, a expressão permanente da escolástica medieval30. Nenhuma tentativa de secularização será totalmente possível ou suficiente para depurar e dissolver essa mistura sacrossanta. O crime será sempre a falta moral, e a punição e o castigo as redenções expiatórias. O processo punitivo será sempre o ritual penitencial e purificador à salvação possível e desejada pelo poder oficial. E o suplício espetacular aparecerá como a sua mais profícua manifestação político-teológica. Dos suplícios à penitenciária (local da penitência, da imposição do sofrimento e do arrependimento redentor).
Nesta direção, o filme articula com imensa precisão as bases fundamentais do sistemas penais inquisitoriais, articulados a partir do “confisco do conflito” e da epistemologia da verdade gestada pelo imaginário punitivo medieval. Historicamente, tais fundamentos estabelecem as principais fontes imaginárias dos sistemas penais modernos (a invenção da infração, o monopólio do poder punitivo, a estrutura do inquérito como mecanismo de produção da “verdade”, a emergência do procurador do rei, a verdade sacralizada da decisão penal etc.), jamais dissolvíveis, mas sim politicamente apropriadas e transformadas pelo pensamento criminológico da modernidade.