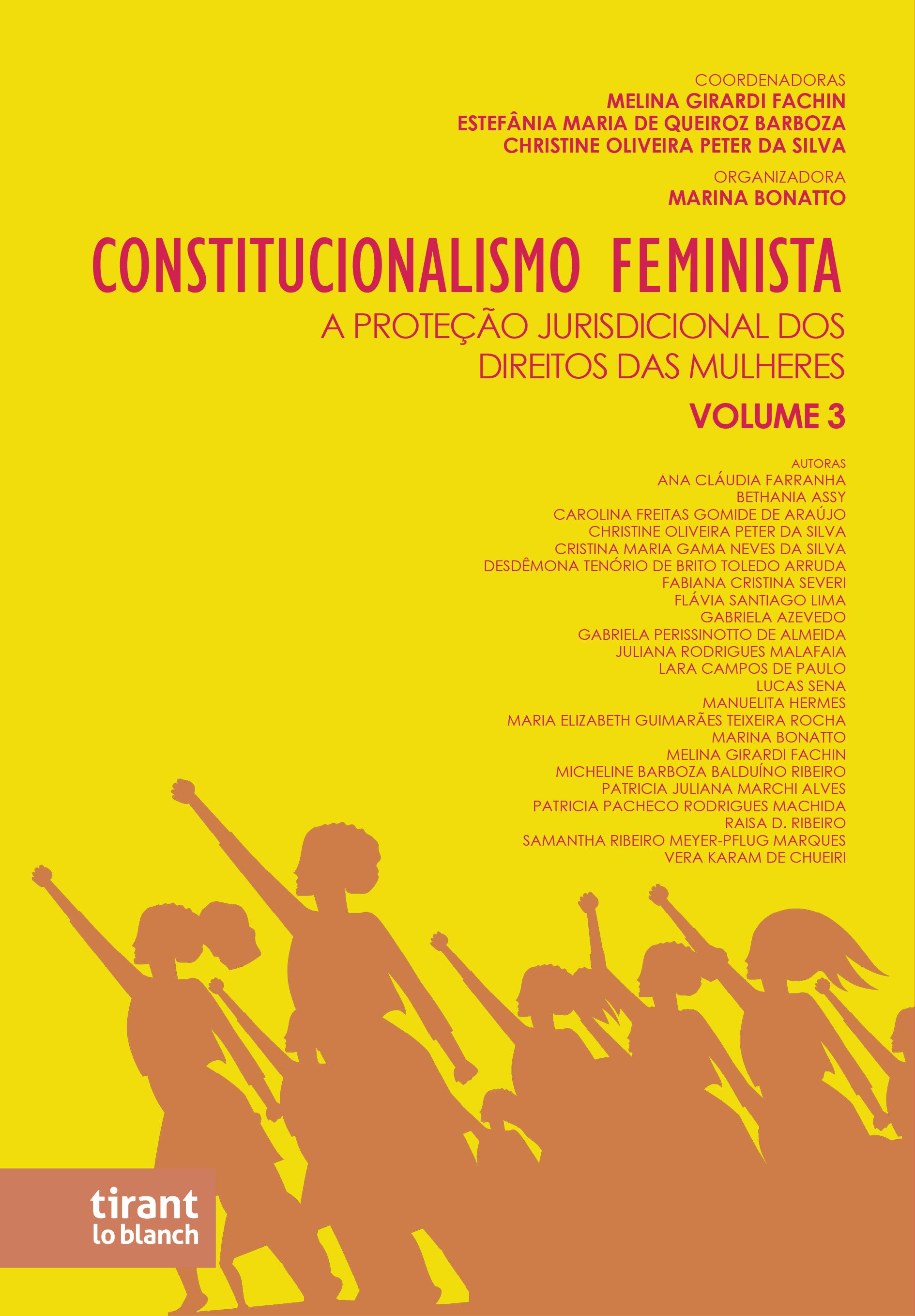
Coordenadoras:

Melina Girardi Fachin
Estefânia Maria de Queiroz Barboza
Christine Oliveira Peter da Silva
Organizadora: Marina Bonatto

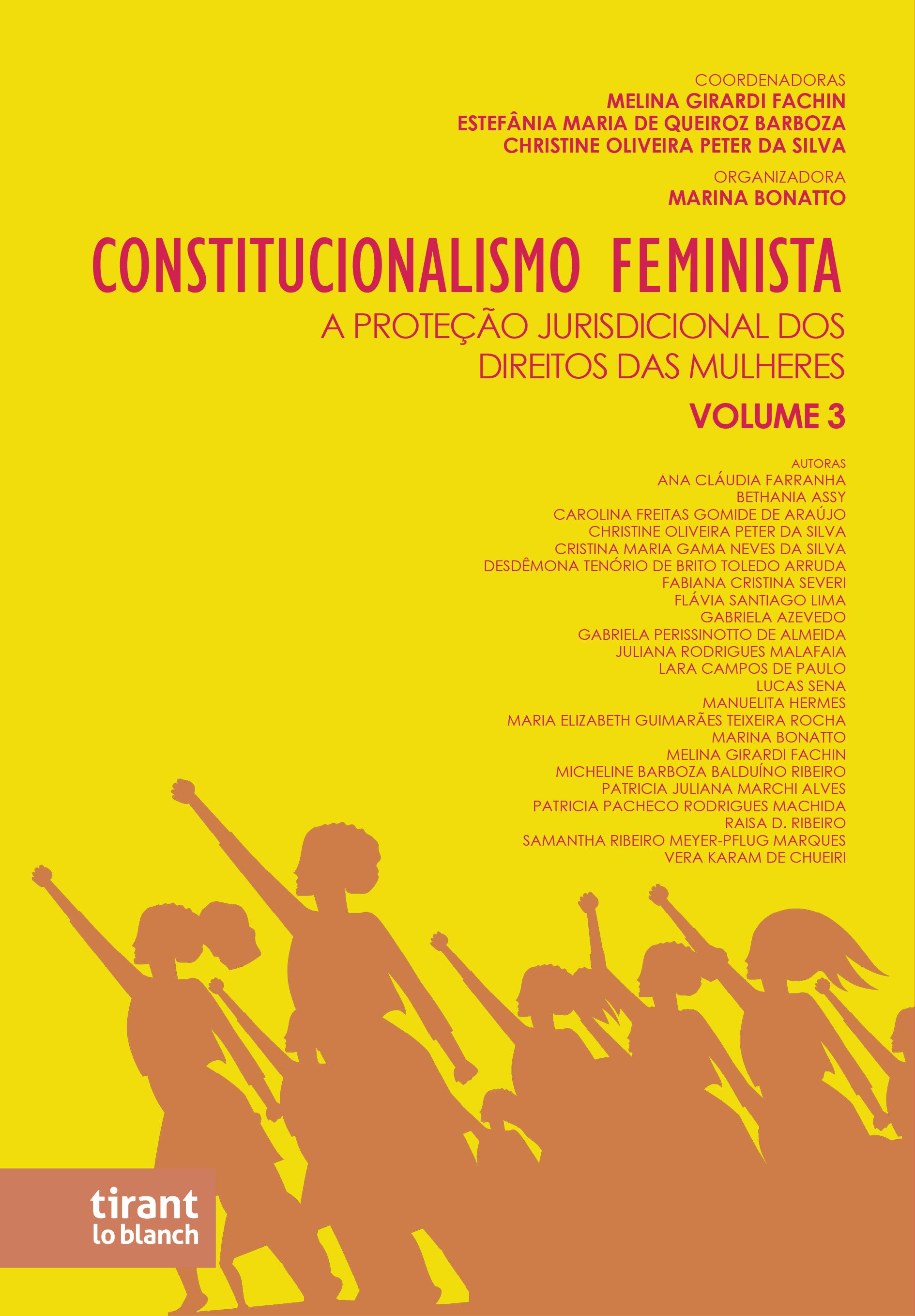
Coordenadoras:

Melina Girardi Fachin
Estefânia Maria de Queiroz Barboza
Christine Oliveira Peter da Silva
Organizadora: Marina Bonatto
A proteção jurisdicionAl dos direitos dAs mulheres
volume 3
Copyright© Tirant lo Blanch BrasilEditor Responsável: Aline Gostinski
Assistente Editorial: Izabela Eid
Diagramação e Capa: Analu Brettas
CONSELHO EDITORIAL CIENTÍFICO: eduardo Ferrer maC-GreGor Poisot
Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Investigador do Instituto de Investigações Jurídicas da UNAM - México Juarez tavares
Catedrático de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil luis lóPez Guerra
Ex Magistrado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Catedrático de Direito Constitucional da Universidade Carlos III de Madrid - Espanha owen m. Fiss
Catedrático Emérito de Teoria de Direito da Universidade de Yale - EUA tomás s. vives antón
Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência - Espanha
F253

Constitucionalismo feminista : a proteção jurisdicional dos direitos das mulheres volume 3 [livro eletrônico] / Ana Cláudia Farranha...[et. al.]; Marina Bonatto (Org.); Christine Oliveira Peter da Silva, Estefânia Maria de Queiroz Barboza, Melina Girardi Fachin (Coord.); prefácio Vera Karam de Chueiri. -1.ed. – São Paulo : Tirant lo Blanch, 2023.
4.142 kb; livro digital
ISBN: 978-65-5908-549-1
1.Direito constitucional. 2. Direito da mulher 3. Direitos humanos. I. Título.
CDU: 396
Bibliotecária responsável: Elisabete Cândida da Silva CRB-8/6778
DOI: 10.53071/boo-2023-05-14-64615f796f807
É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais.A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art.184 e §§, Lei n° 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei n°9.610/98).
Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch.
Fone: 11 2894 7330 / Email: editora@tirant.com / atendimento@tirant.com tirant.com/br - editorial.tirant.com/br/
Impresso no Brasil / Printed in Brazil
Coordenadoras:
Melina Girardi Fachin
Estefânia Maria de Queiroz Barboza
Christine Oliveira Peter da Silva
Organizadora: Marina Bonatto
A proteção jurisdicionAl dos direitos dAs mulheres
volume 3
AUTORAS

Ana Cláudia Farranha
Bethania Assy
Carolina Freitas Gomide de Araújo
Christine Oliveira Peter da Silva
Cristina Maria Gama Neves da Silva
Desdêmona Tenório de Brito Toledo Arruda
Fabiana Cristina Severi
Flávia Santiago Lima
Gabriela Azevedo
Gabriela Perissinotto de Almeida
Juliana Rodrigues Malafaia
Lara Campos de Paulo
Lucas Sena
Manuelita Hermes
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
Marina Bonatto
Melina Girardi Fachin
Micheline Barboza Balduíno Ribeiro
Patricia Juliana Marchi Alves
Patricia Pacheco Rodrigues Machida
Raisa D. Ribeiro
Samantha Ribeiro Meyer-Pflug Marques
Vera Karam de Chueiri
O constitucionalismo é movimento, ou melhor, diz respeito a movimentos e se flexiona, necessariamente, no plural. Nesta pluralidade e em sua potencialidade, o constitucionalismo feminista, em seu movimento e seus desdobramentos, avança, transforma e promete. Esta terceira edição do livro organizado pelas professoras e pesquisadoras Melina Girardi Fachin, Estefânia Maria de Queiroz Barboza e Christine Oliveira Peter da Silva (com o precioso auxílio da pesquisadora Marina Bonatto), aquelas da Faculdade de Direito da UFPR e esta da Faculdade de Direito da UNICEUB, traz em seu conjunto a dinâmica desta dupla (constitucionalismo e feminismo) em temas centrais para o debate contemporâneo do direito constitucional e da teoria feminista. Cada capítulo é um desdobramento do compromisso e da promessa constitucional com perspectiva de gênero, sua garantia e promoção por meio do exercício de direitos expressos e implícitos na Constituição e das políticas públicas a estes relacionadas. Entretanto, o compromisso e a promessa constitucional movimentam o tempo e o espaço da Constituição para falar de gênero, para defender perspectivas de gênero, enfim, para generalizar o debate constitucional, na medida da sua aplicação. Não por acaso, essa incrível e potente 3ª edição do Constitucionalismo feminista traz, em cada um dos capítulos, temas que foram objeto de decisão judicial pela jurisdição constitucional e, em alguns casos, pela jurisdição do sistema interamericano de Direitos Humanos.
As autoras (e autor) discutem os casos, as respectivas decisões e, também, a metodologia empregada para enfrentá-las, tanto descritiva, quanto prescritivamente. Isto porque não é tão simples selecionar casos que envolvam decisões com perspectiva de gênero, descrevê-los e discutir suas premissas normativas. Todo cuidado é devido à forma (metodologia) quanto ao conteúdo discutido, pois uma agenda constitucional e feminista não pode relativizar em relação a quem, ao como e nem ao que dizer. E neste ponto reside a potência e a inteligência deste livro, na escolha das autoras, dos temas, na organização da sua estrutura e na consolidação de um campo de pesquisa e de ação (jurisdicional, política e social) que é mais do que urgente.
A qualificação das que escrevem neste livro seria suficiente para indicar, com entusiasmo e orgulho, a sua leitura. São professoras, pesquisadoras, profissionais de outras carreiras jurídicas mas, sobretudo, mulheres inquietas e indignadas com o silenciamento histórico e cotidiano de tantas outras e com a naturalização de práticas sexistas. São mulheres, constitucionalistas e feministas que com seus movimentos têm sacudido a poeira do direito constitucional brasileiro. São, de fato, imprescindíveis, como também é ler o que elas escrevem.
Neste sentido, a discussão no livro inicia com o capítulo intitulado IN-
TERSECCIONALIDADE E DIREITO CONSTITUCIONAL: UMA CHAVE
METODOLÓGICA PARA ANÁLISE, de Ana Cláudia Farranha e Lucas Sena, chamando a atenção para as dimensões de gênero e raça na tomada de decisão, em casos em que direitos são disputados. Daí o conceito de interseccionalidade servir como uma chave metodológica que abre o direito constitucional para horizontes em que gênero, raça e classe se entrelaçam, sobretudo em contextos de aplicação profundamente desiguais.
O segundo capítulo, intitulado TEMA N. 973 DA REPERCUSSÃO GERAL: UM ESTUDO DE CASO NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS DAS MULHERES, de Desdêmona Tenório de Brito Toledo Arruda, discute a compatibilidade entre o tema n. 973 da repercussão geral, cujo mérito foi apreciado pelo STF, em novembro de 2018, e os parâmetros interpretativos construídos pelo constitucionalismo feminista, destacando o papel da Corte na consolidação de precedentes importantes, como este, no qual se prestigia uma compreensão feminina e feminista do direito constitucional à igualdade.
O capítulo terceiro, intitulado O DIRETO À IDENTIDADE DE GÊNE-
RO (ADI 4275/18): IMPACTOS DO FEMINISMO INTERAMERICANO NA
MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA, de Raisa D. Ribeiro e Lara Campos de Paulo, discute a formação de uma jurisprudência feminista brasileira em relação à identidade de gênero, a partir do que se tem produzido no constitucionalismo feminista e no feminismo interamericano, a partir da análise da ADI 4275, julgada pelo STF, tendo em vista (1) a presença de mulheres em julgamento de casos de identidade de gênero; (2) o gênero de quem fez a relatoria e (3) o diálogo com cortes externas atentas para a realidade feminista. As autoras observam, ainda, a influência neste caso, do entendimento da CIDH exarada na Opinião Consultiva n. 24/17 e emitida poucos meses antes do julgamento pelo STF.
O capítulo quarto, intitulado HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL FEMINISTA: UMA ANÁLISE DO JULGAMENTO DO RE 576.967, de autoria de Christine Oliveira Peter da Silva e Carolina Freitas Gomide de Araújo, analisa o discurso dos advogados e advogadas, ministros e ministras do STF, na sessão presencial de julgamento do referido recurso extraordinário, como também, os registros da sessão virtual, para destacar em que medida as mulheres participaram dessa construção de sentido da Constituição. O capítulo assume a premissa de que uma teoria feminista da Constituição deve ser feita “de” e “para” mulheres, por meio da sua participação na interpretação e aplicação da Constituição e, daí, a importância de localizar e identificar esses discursos e falas femininas.
O quinto capítulo, intitulado A MATERNIDADE COMO LIMITE E POTÊNCIA NO DIREITO BRASILEIRO de Bethania Assy e Gabriela Azevedo discute a maternidade em relação ao emprego no Brasil como dimensão da reprodução social e sua proteção constitucional, a partir do julgamento da ADI 1946, com foco nas mulheres cis. A proteção constitucional ao trabalho durante a gravidez e após é um mecanismo de correção legal de assimetrias, em face das condições diferenciadas em que os sujeitos de direito se encontram no mundo. Daí a utilização da Teoria da Reprodução Social e a noção de sujeito da injustiça para se referir a esses sujeitos, cujo acesso à igualdade formal e material é precário e as vezes interditado e como essa experiência tem potencial de modificar o direito politicamente.
O sexto capítulo, intitulado, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 778.889/ PE E A EQUIPARAÇÃO DAS LICENÇAS ADOTANTE E GESTANTE: UM AVANÇO DEMOCRÁTICO RUMO À AUTONOMIA DA MULHER, de autoria de Manuelita Hermes, discute esse caso da equiparação dos prazos das licenças adotante e gestante sublinhando na decisão do STF a necessidade da observância dos princípios constitucionais da isonomia, do melhor interesse do menor e da primazia da proteção integral, contrariando distinções legislativas injustificadas e tratamento legal que acarrete proteção deficiente. Ainda, destaca a importância da decisão no âmbito do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos prevenindo contra possível responsabilização do Estado brasileiro por descumprimento de compromissos assumidos internacionalmente, em especial, dos direitos das mulheres.
O capítulo sétimo, intitulado DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 436.996-SP ATÉ O TEMA 548: UMA ANÁLISE DA GARANTIA DO DIREITO À CRECHE E PRÉ-ESCOLA NO STF SOB A PERSPECTIVA FEMINISTA de autoria de Flávia Santiago Lima, no qual a autora discute a decisão do STF no RE n. 436.996-SP, em 2005, e a fixação, em 2022, do Tema 548, em sede de repercussão geral, como parâmetros jurisprudenciais para o controle judicial de políticas públicas, ao afirmarem a aplicabilidade direta, imediata e integral do direito à creche e pré-escola com repercussão não apenas constitucional, mas social e econômica. Sublinha a autora que o direito à creche e à pré-escola devem ser compreendidos para a promoção de igualdade material, direitos sociais, autonomia sexual e direitos reprodutivos, além da proteção da mulher no âmbito familiar e, neste sentido, ressalta as potencialidades da judicialização para a concretização de tais políticas públicas.
O oitavo capítulo, intitulado A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIO -
NALIDADE N. 5938 E O DEBATE SOBRE TRABALHO GESTANTE EM
AMBIENTE INSALUBRE, de autoria de Fabiana Cristina Severi e Gabriela Perissinotto de Almeida, trata da decisão do STF na ADI 5938, cujo tema diz
respeito ao trabalho das gestantes em ambiente insalubre, a qual foi julgada procedente declarando inconstitucional os incisos II e III do art. 394-A da CLT que admitia algumas hipóteses em que grávidas ou lactantes poderiam trabalhar em atividades insalubres, sendo afastadas somente quando apresentassem atestado médico. As autoras discutem e problematizam o relativo avanço desta decisão, em face da sua limitação em termos de garantia de direitos e, sobretudo, sob fundamentos conservadores.
O capítulo nono, intitulado HC 143.641 - HABEAS CORPUS COLETI-
VO PARA MÃES E CRIANÇAS, de Cristina Maria Gama Neves da Silva e Juliana Rodrigues Malafaia, discute o referido caso e seu impacto nas decisões com perspectiva de gênero no âmbito do direito penal, do processo penal e da execução da pena, sobretudo em relação à mulher que se encontra presa, ao exercício da maternidade e à vivência plena e integral da infância. Destacam as autoras que a decisão do STF representou um novo parâmetro ao afirmar a imprescindibilidade da manutenção da mãe com a filha ou filho ao garantir a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar de gestantes e mães.
O capítulo dez, intitulado OS PASSOS DA CONSTRUÇÃO DO DIREI-
TO AO ABORTO NO BRASIL: UMA ANÁLISE DO HC 124.306, de autoria de Marina Bonatto e Melina Girardi Fachin, discute o aborto como uma questão constitucional, na medida em que o direito ao acesso ao aborto seguro está relacionado aos direitos explícitos na Constituição, como também aos implícitos, isto é, aos que decorrem da cláusula de abertura do art. 5º, par. 2º e, cuja garantia, é fundamental para a democracia constitucional. Neste sentido, destacam as autoras o avanço ocorrido na compreensão do STF acerca deste direito, analisando a decisão da Primeira Turma do STF, Habeas Corpus 124.306, e o precedente firmado. A escolha deste precedente se justifica em razão da sua temporalidade, isto é, entre o julgamento da ADPF 54 (aborto de fetos anencêfalos) e o que ainda não houve da ADPF 442 (descriminalização do aborto).
O capítulo onze, intitulado A ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
DA AÇÃO PENAL EM CASO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A
MULHER: UMA ANÁLISE DA ADI 4424/DF, de autoria de Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha e Micheline Barboza Balduíno Ribeiro discute a repercussão da lei Maria da Penha (n. 11.340/06) na política criminal, na defesa da mulher vítima de violência doméstica e sublinha a importância da compreensão majoritária do STF na referida ação constitucional, ao dar interpretação conforme aos artigos 12, I, e 16 da Lei Maria da Penha, reconhecendo a natureza incondicionada da ação penal, em caso de crime de lesão corporal, pouco importando a extensão desta, praticado contra a mulher no ambiente doméstico.
Por fim, o capítulo doze, intitulado ADPF 779-MC-REF/DF: A LEGÍ-
TIMA DEFESA DA HONRA E A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, de Samantha
Ribeiro Meyer-Pflug Marques, Patricia Juliana Marchi Alves e Patricia Pacheco Rodrigues Machida, discute a decisão do STF, de março de 2021, pela inadmissibilidade do argumento da legítima defesa da honra, tanto na fase pré-processual quanto na processual, em casos de crime de feminicídio, por violar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da vedação de discriminação e os direitos à igualdade e à vida. Anotam as autoras que essa decisão se alinha ao Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, lançado em 2021 pelo CNJ, no combate à violência de gênero no Brasil.
Pois bem, esse livro que se apresenta ao leitor é uma oportunidade de pensar com as autoras (e autor) sobre a urgência do constitucionalismo feminista nas agendas de ensino e pesquisa em direito constitucional e nas ações com a sociedade. A experiência brasileira -e, também, alhures- de declínio democrático nos últimos seis anos tem no constitucionalismo feminista um dos principais movimentos de resistência. Como diz Djamila Ribeiro, (m)inha luta diária é para ser reconhecida como sujeito, impor minha existência numa sociedade que insiste em negá-la.
Professora Titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UFPR
Professora Associada da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília-UnB. Pesquisadora visitante no Centro de Estudos do Brasil ( Center for Brazil Studies), na Universidade de Oklahoma. Doutora em Ciências Sociais pela Unicamp. Coordenadora do Grupo de Estudos Observatório de Políticas Públicas (GEOPP).
Mestrado em Filosofia Política e Social pela Universidade Federal de Pernambuco (1996), Mestrado em Filosofia pela New School for Social Research, NY-USA (1998), Doutorado em Filosofia pela New School for Social Research, NY-USA (2003). Pós-Doutorado na Birkbeck Law School, London University. Coordenadora Adjunta da Cátedra UNESCO (PUC-RIO): Direitos Humanos: Violência, Governo e Governança. Professora do Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e Professora Associada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
CAROLINA FREITAS GOMIDE DE ARAÚJO
Mestranda em Direito do Estado (Direito Constitucional) pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Bacharela em Direito pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB). Pesquisadora do Núcleo de Estudos Constitucionais (NEC-UniCEUB), nas linhas de direitos fundamentais, direito constitucional comparado e constitucionalismo feminista. Integrante do Grupo de Pesquisa Cortes Constitucionais, Democracia e Direitos Humanos (CCDDH - UniCEUB). Advogada.
CHRISTINE OLIVEIRA PETER DA SILVA
Doutora e Mestra em Direito, Estado e Constituição pela UnB. Ex-secretária geral do TSE. Ex-assessora do Procurador-Geral da República. Professora Associada do Mestrado e Doutorado em Direito das Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília (UniCeub). Líder de Pesquisa do Núcleo de Estudos Constitucionais - NEC/UniCeub. Pesquisadora do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais ICPD/ UniCeub. Membro efetivo da Associação Brasileira de Direito Processual e Constitucional. Assessora do Ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal.
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA
Advogada e sócia do Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados. Mestre pela University of California Berkeley. Especialista em direito constitucional e teoria crítica em direitos humanos. Presidente da Elas Pedem Vista. Diretora de Políticas afirmativas do IBRADE. Membro do LiderA, observatório eleitoral. Secretária-geral adjunta da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/DF. Diretora Jurídica do Instituto Gloria.
Especialista em Direito Público, Máster em Seguridade Social pela Universidade de Alcalá, cursa Master of Public Policy na Escola Nacional de Administração Pública, em convênio com o Columbia Global Center (2022), é assessora de Ministro do Supremo Tribunal Federal e membro do Columbia Women’s Network in Brazil (2019).
Professora Associada ao Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) e do Programa de Mestrado da mesma instituição. Livre Docente em Direitos Humanos pela FDRP-USP (2017). Doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo. Mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Coordenadora do Centro de Estudos em Direito e Desigualdades. E-mail: fabianaseveri@usp.br.
Doutora em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco/UFPE. Pós-Doutorado em Direito pela Universitat de València/ Espanha. Professora Adjunta da Faculdade de Direito da Universidade de Pernambuco (UPE/Recife). Líder do Grupo de Pesquisa JUSPOLÍTICA - Diálogos, Historicidades e Judicialização de Políticas (Direito/UPE). Advogada da União.
GABRIELA AZEVEDO
Doutora em Direito (UERJ), com período de sanduíche na Universidade do Porto). Faz Pós Doutorado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É Mestre em Direito pela UERJ e Mestre em Direito pela PUC-Rio, bacharel e licenciada em História (UNIRIO) e em Direito (UFRJ). É pesquisadora LEICC/ UERJ, co-coordenadora Curso de Extensão Universitária “Diálogo de Saberes na Produção da Justiça e dos Direitos” (UFRJ) e professora do CEPED-UERJ.
GABRIELA PERISSINOTTO DE ALMEIDA
Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de São Carlos, com bolsa CNPq. Atualmente, é Visiting Scholar na Cornell Law School, com bolsa sanduíche CAPES/Print. Mestra e Graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
JULIANA RODRIGUES MALAFAIA
Especialista em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP) e em Direito Penal e Processo Penal pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP/DF). É associada ao Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) e membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim) e da Comissão de Jogos da OAB/DF. É Tesoureira da Abracrim/DF e Secretária-Geral da Abracrim Mulher/DF.
LARA CAMPOS DE PAULO
Advogada. Mestranda em Políticas Públicas em Direitos Humanos pela UFRJ. Pesquisadora integrante do Núcleo Interamericano de Direitos Humanos (NIDH-FND/UFRJ) e dos projetos “Feminismo Interamericano” e “Feminismo Literário” (UNIRIO). E-mail: laracamposdepaulo@ufrj.br.
LUCAS SENA
Doutorando em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (DCP-USP). Mestre em Direito, Estado e Constituição pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB). Cientista Político. Pesquisador do Grupo de Estudos Observatório de Políticas Públicas (GEOPP).
MANUELITA HERMES
Doutora em Direito pela Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Roma, Itália), em cotutela com a Universidade de Brasília (UnB) e períodos de pesquisa no Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law (Heidelberg, Alemanha) e na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Paris, França). Mestra em Sistemas Jurídicos Contemporâneos pela Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Roma, Itália), com título reconhecido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e com períodos como pesquisadora visitante no Max Planck Institute for Social Law and Social Policy (Munique, Alemanha) e no Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law (Heidelberg, Alemanha). Especialista em Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional dos Direitos Fundamentais pela Università di Pisa (Pisa, Itália) e em Direito do Estado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Integrante da Associação Internacional de Direito Constitucional (IACL/AIDC) e do Centro de Estudos Constitucionais Comparados da Universidade de Brasília (CECC). Professora dos cursos de Pós-Graduação lato sensu em Direito Constitucional, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), e em Advocacia Pública, da Advocacia-Geral da União (AGU). Docente colaboradora do curso de Graduação em Direito da UnB. Procuradora Federal. Secretária de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do Supremo Tribunal Federal. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3250051949245797. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4140-0820. E-mail: manuelitahermes@gmail.com.
Doutora em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Doutora Honoris Causa pela Universidad Inca Garcilaso de La Vega – Lima/Peru. Mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Católica Portuguesa – Lisboa/Portugal. Especialista em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Professora universitária e autora de vários livros e artigos jurídicos publicados no Brasil e no exterior. Ministra do Superior Tribunal Militar do Brasil.
Mestra em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Bacharela em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Pesquisadora do Centro de Estudos da Constituição da Universidade Federal do Paraná. Assessora de juíza no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Professora Associada dos Cursos de Graduação e Pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Pós-doutoramento pela Universidade de Coimbra no Instituto de direitos humanos e democracia (2019/2020). Doutora em Direito Constitucional, com ênfase em direitos humanos, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP.) Visiting researcher da Harvard Law School (2011). Mestre em Direitos Humanos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Autora de diversas obras e artigos na seara do Direito Constitucional e dos Direitos Humanos. Advogada sócia de Fachin Advogados Associados.
Especialista em Direito Processual Penal pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Norte- FESMP/RN e Analista processual do Ministério Público da União.
Mestranda em Direito pela Universidade Nove de Julho (UNINOVE) e Juíza do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
Doutoranda e Mestra em Direito pela Universidade Nove de Julho e pós-graduada em Educação em Direitos Humanos com ênfase em Gênero pela Universidade Federal da Bahia (UFBA– NEIM). Delegada de Polícia Civil na DDM Online lotada no Departamento de Inteligência da Polícia Civil de São Paulo.
RAISA D. RIBEIRO
Doutora em Teorias Jurídicas Contemporâneas pela UFRJ, mestra em Direito Constitucional pela UFF e especializada em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. Professora de Teorias do Estado e da Constituição da UNIRIO e Advogada feminista. Coordenadora do projeto “Feminismo Interamericano” e presidente do selo editorial “Feminismo Literário”. E-mail: raisa.ribeiro@unirio.br.
SAMANTHA RIBEIRO MEYER-PFLUG MARQUES
Professora Titular do Programa de Doutorado e Mestrado em Direito da Universidade Nove de Julho, Doutora e Mestre em Direito pela PUC-SP. Pós-doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. Presidente da Academia Internacional de Direito e Economia-AIDE, da Academia Paulista de Letras Jurídicas-APLJ. Advogada.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha e Micheline Barboza Balduíno Ribeiro ADPF
Samantha Ribeiro Meyer-Pflug Marques, Patricia Juliana Marchi Alves e Patricia Pacheco Rodrigues Machida
A interseccionalidade tem sido um campo cada vez mais ressonante na sociedade civil e na academia, especialmente entre intelectuais e entre militantes negros. Nas políticas públicas, o tema ainda não possui ampla discussão, mas tem servido para impulsionar caminhos que deem luz às complexas intersecções das experiências sociais. Neste sentido, este trabalho3 apresenta-se como um exercício inicial para se compreender contextos institucionais para o desenvolvimento de interpretações constitucionais que considerem o conceito.
Desse modo, utiliza-se o conceito de interseccionalidade como aspecto metodológico para se sugerir abordagens que percebam os diversos recortes sociais e suas implicações no processo decisório e interpretativo da norma constitucional. A intenção, então, deste trabalho baseia-se em incentivar a promoção de estudos que se apropriem da temática da análise interseccional no campo das políticas públicas e do direito.
Como se verá no decorrer deste trabalho, políticas interseccionais são importantes para a análise da complexidade social e das consequências das sobreposições de marcadores sociais. Em consequência, o objetivo deste estudo é contribuir para a construção de metodologias de análise que utilizem a perspectiva da interseccionalidade para, por meio de uma metodologia formativa que amplie o escopo interpretativo sobre o Direito.
Ao longo deste estudo, traça-se a questão acerca de como o conceito de interseccionalidade permite compreender melhor as dinâmicas políticas. Para isso,
1 Professora Associada da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília-UnB. Pesquisadora visitante no Centro de Estudos do Brasil ( Center for Brazil Studies), na Universidade de Oklahoma. Doutora em Ciências Sociais pela Unicamp. Coordenadora do Grupo de Estudos Observatório de Políticas Públicas (GEOPP).
2 Doutorando em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (DCP-USP). Mestre em Direito, Estado e Constituição pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB). Cientista Político. Pesquisador do Grupo de Estudos Observatório de Políticas Públicas (GEOPP).
3 Esse texto foi originalmente publicado em FARRANHA, Ana Cláudia; SILVA, Lucas Sena. Interseccionalidade e políticas públicas: avaliação e abordagens no campo do estudo do direito e da análise de políticas públicas. Revista Aval, Fortaleza, v. 5, n. 19, p. 44-67, jan./jun. 2021. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/63395.
define-se interseccionalidade e sua consonância com o Direito, busca-se aprofundar a compreensão do contexto institucional e, ainda, tenta-se identificar como o conceito de interseccionalidade pode ser usado como categoria analítica. Em seguida, o foco de compreensão dirige-se para o apontamento de novos debates que são levantados e promovidos por meio desse conceito, sobretudo em relação ao marco da análise das políticas públicas.
Diante disso, este estudo está dividido, para além da introdução e das considerações finais, em mais outras três partes. Primeiro, apresentam-se o percurso metodológico e os conceitos de interseccionalidade, bem como o seu uso como chave interpretativa para o Direito (nesse caso, o tema da avaliação interessa muitíssimo). Em seguida, compartilham-se caminhos de análises possíveis e questões que podem ser usadas numa abordagem interseccional. Por fim, com base nas políticas públicas de igualdade racial, discorre-se acerca do desenvolvimento da pesquisa e mapeamento das normativas que possibilitam uma análise interseccional.
Do ponto de vista metodológico, este trabalho utiliza de uma perspectiva de análise que, em política pública, denominamos como análise pós-positivista da política (LEJANO, 2006). Essa metodologia combina a análise dos documentos oficiais produzidos por programas e políticas públicas e esforça-se para compreender os aspectos do contexto institucional a partir da triangulação de dados (MINAYO, 2008), no qual as metodologias de análise produzidas por atores envolvidos no processo (ONGs; Observatórios de Políticas Públicas, estudos acadêmicos, avaliações externas) se constituem em evidências contrafactuais e possibilitem respostas às perguntas levantadas.
A avaliação de política pública é um campo que se desenvolve desde a década 1950. De lá para cá, buscam-se formatos e métodos capazes de designar qual seria a melhor forma de identificar o desenvolvimento de uma intervenção político-governamental. Sendo assim, o conceito de avaliação é fundamental para o presente estudo. Aguilar e Ander-Egg (1994) destacam que a prática da avaliação consiste em um juízo sobre o mérito e o valor dos diferentes componentes de um programa (tanto na fase de diagnóstico, programação ou execução), ou de um conjunto de atividades específicas que se realizam, foram realizadas ou se realizarão, com o propósito de produzir efeitos e resultados concretos (AGUILAR; ANDER-EGG, 1994, p. 31)
Shandish, Jr; Cook e Leviton (1991) apontam que alguns modelos de avaliação foram construídos em torno da busca de respostas para a questão do resul-
tado alcançado em termos de avaliação. Nessa constelação de modelos, é possível identificar desde os métodos que se voltam à compreensão da causa e do efeito, os quais são capazes de produzir determinado resultado, até uma visão que indaga qual seria a utilidade do uso de uma avaliação. No último caso, nos anos 1970, Weiss (1972) tornou-se uma referência para se pensar a avaliação como utilidade.
A avaliação como utilidade consiste em compreender as avaliações não somente a partir dos resultados de um programa, mas como uma série de outros fatores, a saber: a reação dos participantes, a recepção pública do programa, os custos, a disponibilidade dos técnicos e instalações, bem como outras possíveis alternativas. A avaliação pode proporcionar a elucidação acerca dos ganhos e perdas que dada decisão tem no contexto institucional (WEISS, 1972, p. 5). Além disso, ela pode ser útil ainda para proporcionar melhor conhecimento sobre as falhas que as decisões podem produzir (WEISS, 1972).
Sob essa perspectiva, a compreensão da avaliação como processo formativo, ou seja, que confere à prática da avaliação a perspectiva de continuidade, revela-se elemento importante para a discussão teórico-metodológica deste processo (FARRANHA, 2014). A avaliação abrange não apenas diferentes fases que compõem um programa social, mas pressupõe, além disso, o entendimento do processo de formulação e implementação de uma dada política.
Com isso em vista, algumas perguntas são basilares para se traçar questionamentos mais amplos e profundos e que indiquem a perspectiva de continuidade, a saber:
• Como os programas e políticas públicas com esse recorte vêm sendo estruturados?
• Qual é o desenho institucional? Ele está relacionado ao uso de mais governança e cooperação entre os atores envolvidos?
• Que elementos estão contidos no plano de ação?
• Como metas e resultados são desenhados?
• Qual é o contexto de desigualdade no qual a política ou programa se desenhou – seja ele de gênero – étnico-racial – capacidade – orientação sexual?
• Como identificar e medir elementos relacionados aos impactos produzidos pela política/ programa?
• Quais são as sinergias existentes entre um determinado programa de promoção de equidade e o conjunto de programas de um Ministério, Secretaria, departamentos no âmbito das organizações, etc.?
• E qual é a sustentabilidade dos programas/políticas de promoção de ação afirmativa?
• Que decisões judiciais há sobre programas e políticas públicas? Elas têm considerado a dimensão da interseccionalidade na sua estruturação?
Observando a perspectiva formativa de continuidade, indagações como essas contribuem para a aferição do processo de avaliação, seu resultado e o impacto que as políticas provocam sobre a realidade social. Esses questionamentos nos conduzem à necessidade de se assimilar que a análise de políticas públicas deve ser norteada também por um elemento que permita a percepção da interligação de ferramentas analíticas, o que aqui se faz a partir da utilização da interseccionalidade.
Originalmente, o conceito de interseccionalidade foi empregado pela feminista negra Kimberlé Crenshaw (1994) para elucidar os diversos tipos de agressões e violências as quais estavam inseridas as mulheres negras. A conceituação da autora foi pioneira nessa abordagem e partia dos recortes de raça e gênero para nortear a discussão. Para a autora, a subordinação pela qual alguns sujeitos estão submetidos não se explica somente por meio de um fator específico. Em suma, isso significa dizer que interseccionalidade requer observar como elementos de raça, gênero, classe, entre outros, influenciam na produção de desigualdades e subordinação de grupos sociais.
Crenshaw (2002) define a interseccionalidade em relação às múltiplas dimensões estruturais existentes nas relações sociais, de modo a se constatar que essas estruturas ecoam desigualdades básicas, as quais engendram consequências discriminatórias contra grupos sociais. Como ressalta a autora,
A associação de sistemas múltiplos de subordinação tem sido descrita de vários modos: discriminaçãoo composta, cargas múltiplas, ou como dupla ou tripla discriminação. A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações e polÌticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento. (CRENSHAW, 2002, p.7)
Crenshaw observa que a experiência interseccional reverbera-se de diferentes formas a depender das experiências das pessoas. Isto é, a discriminação incide de formas mais violentas quando as opressões se sobrepõem. A interseccionalidade, então, permite não apenas visualizar as múltiplas desigualdades existentes na realidade social, mas possibilita também a percepção de que as múltiplas opressões podem se inter-relacionar, tornando a experiência de uma pessoa ou de um grupo social ainda mais marginalizada.
À vista disso, Crenshaw (2002) propõe um modelo para a identificação das várias formas de subordinação. Sua sugestão vislumbra a criação de instrumentos internacionais, ou melhor, de um protocolo de análise que possibilite identificar a intersecção desses elementos, especialmente aqueles relacionados às discrimina-
ções de raça e gênero. O desafio apontado por Crenshaw (2002, p. 18) refere-se à proposta de se “facilitar o diálogo produtivo e o desenvolvimento de informações acessíveis sobre as dimensões de raça e gênero da subordinação interseccional”. Assim sendo, a análise contextual diz respeito a se fornecer um gancho investigatório capaz de compreender que as circunstâncias pelas quais a subordinação de determinados grupos sociais ocorre é complexa e requer a coleta de informações de baixo para cima. Dessa maneira, o desenvolvimento de metodologias como essa permite examinar primeiro as experiências das mulheres marginalizadas. Em geral, os métodos de pesquisa não abordam a dimensão interseccional e jogam no campo da invisibilidade informações necessárias para a proposição de caminhos de resolução das desigualdades. (CRENSHAW, 2002, pp. 181-183).
Dialogando com Crenshaw e outras pensadoras, Patricia Hill Collins e Sirma Bilge (2020), explicam que o termo, enquanto ferramenta analítica, pode ser usado para resolver problemas sociais. Nas políticas públicas, a visão das autoras é a de que o conceito ajuda a tornar inteligível a desigualdade econômica entre os grupos sociais:
Pessoas negras, mulheres, pobres, LGBTQs, minorias étnicas e religiosas, povos indígenas e pessoas oriundas de castas e grupos considerados inferiores nunca desfrutaram dos benefícios da cidadania plena e, consequentemente, têm menos a perder e mais a ganhar. (COLLINS; BILGE, 2020, p. 40)
Collins e Bilge (2020) alertam para o que tem sido o uso da interseccionalidade no imaginário político das economias neoliberais. O crescimento de políticas autoritárias, injustas e neoliberais, ao redor do globo, tem sido influenciado por um imaginário político que se apoia na interseccionalidade para gerar desigualdades e marginalização. Como descrevem as autoras, “as histórias específicas de privação de direitos, associada a racismo, heterossexismo, exploração de classes, colonialismo e subordinação de casta/étnica/religiosa que se moldam em contextos sociais específicos, não são mais entendidas como eventos separados, mas, ao contrário, como interconectadas” (COLLINS; BILGE, 2020, p. 185).
Outros trabalhos também se debruçam no tema. Nash (2008) observa alguns limites acerca do conceito de interseccionalidade. Assim, a estudiosa problematiza o aspecto de sua validade a partir da construção de uma teoria mais complexa em torno da identidade e da opressão. Em Melo e Gonçalves (2010), os autores discorrem sobre o sentido de diferença. A diferença é compreendida a partir da lógica que destaca a inserção social como um mapa, o qual se articula por meio de coordenadas geográficas (BERGER, 2007). Nesta perspectiva, trata-se de questionar em que lugar os agentes se localizam no mapa. Nota-se que o recurso à tipologia proposta por Berger consiste em afastar as polaridades que atravessam o tecido social.
Partindo deste ponto, apontam os estudiosos que interseccionalidade compõe “uma categoria analítica que permite a leitura do social a partir das múltiplas opressões que atravessam a existência singular de cada pessoa, em todos os contextos sociais (...)” (MELO; GONÇALVES, 2010, p. 3). Observado isso, os autores pensam as políticas públicas a partir da interseccionalidade e destacam como nos serviços de saúde os lugares sociais são invisibilizados por uma perspectiva universalista de acesso aos serviços públicos, os quais muitas vezes deixam de ser ofertados a mulheres-negras-jovens-lésbicas ou jovens-gays-negros-pobres.
Muitas vezes, o terreno das políticas públicas se funda num campo universalista que, embora não seja o intuito inicial, resulta em exclusões de sujeitos não somente à margem social, mas, ainda, de indivíduos e grupos heterogêneos. A multiplicidade de grupos e atores sociais já não permite ignorar as diferenças, pois, a partir delas, é possível perceber que uma sociedade plural é também uma sociedade diversa. No mesmo sentido, as decisões judiciais que interpretam direitos que reportam o conceito de interseccionalidade também pouco consideram essa lente em suas estruturas. Como na formulação de políticas públicas, a interpretação e/ou decisão judicial pauta-se sobre a ideia de universalismo, desconsiderando que diversidades e múltiplas situações discriminatórias também merecem ser considerados na compreensão do direito constitucional.
Diante desta compreensão, os autores propõem como conclusão a seguinte observação:
Considerando os limites das políticas universalistas enquanto um dos pilares do projeto de sociedade típico da modernidade, refletir sobre a diferença a partir de uma perspectiva interseccional pode nos ajudar a compreender como e porque grupos subalternizados diversos têm reivindicado atenção diferenciada a suas demandas identitárias de acesso a direitos e garantia de cidadania. Tais reivindicações políticas têm sido apresentadas como caminho possível para enfrentar as exclusões decorrentes de um viés universalista que, em nome de uma igualdade fantasmática, continua assegurando privilégios aos grupos dominantes históricos nas sociedades capitalistas: homens, brancos, heterossexuais, cristãos, escolarizados, ricos/classe média etc. O campo das políticas públicas, em particular, parece ser terreno propício para ilustrar os desafios que se tem pela frente quando se almeja acesso a serviços públicos de qualidade, sem privilégios de classe/escolarização, raça/etnia, orientação sexual/identidade de gênero e nacionalidade/ filiação religiosa, entre outros. Procuramos, portanto, neste texto, sinalizar como e porque o sujeito marcado necessita reafirmar na arena política sua humanidade e lutar, muitas vezes solitariamente, para ter acesso a direitos sociais supostamente assegurados a todas/os e vistos como intrínsecos e universais nos regimes democráticos. (MELO; GONÇALVES, 2010, p. 9)
Fernanda de Carvalho Papa (2012), ao trazer ao debate o estudo sobre transversalidade nas discussões sobre administração pública e políticas públicas para mulheres, investiga o conceito de transversalidade, para o qual apresenta a seguinte definição:
Assumimos a transversalidade como um instrumento estratégico para a gestão de políticas públicas que dependem de um organismo específico para dialogar com as demais áreas do governo às quais se pretende levar a perspectiva transversal de determinado tema. Neste estudo,