 Israel Domingos Jorio
Israel Domingos Jorio
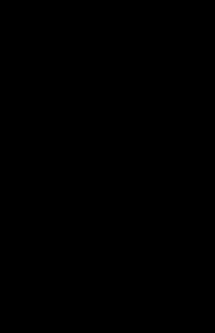

 Israel Domingos Jorio
Israel Domingos Jorio
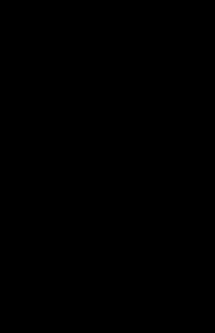
Os limites do poder estatal de criminalizar condutas
Copyright© Tirant lo Blanch Brasil
Editor Responsável: Aline Gostinski
Assistente Editorial: Izabela Eid
Capa e diagramação: Jéssica Razia
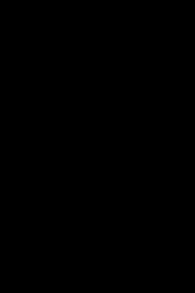
CONSELHO EDITORIAL CIENTÍFICO:
eduardo Ferrer MaC-GreGor Poisot
Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Investigador do Instituto de Investigações
Jurídicas da UNAM - México
Juarez tavares
Catedrático de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil
luis lóPez Guerra
Ex Magistrado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Catedrático de Direito Constitucional da Universidade Carlos III de Madrid - Espanha
owen M. Fiss
Catedrático Emérito de Teoria de Direito da Universidade de Yale - EUA
toMás s. vives antón
Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência - Espanha
Conceito material de crime : os limites do poder estatal de criminalizar condutas [livro eletrônico] / Israel Domingos Jorio. - 1.ed. – São Paulo : Tirant lo Blanch, 2023.
1Kb; livro digital
ISBN: 978-65-5908-615-3.
1. Teoria do crime. 2. Conceito material de crime. 3. Harm principle. I. Título.
CDU: 364.1
Bibliotecária Elisabete Cândida da Silva CRB-8/6778
DOI: 10.53071/boo-2023-07-24-64bebc049687d
É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art.184 e §§, Lei n° 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei n°9.610/98).
Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch.
Fone: 11 2894 7330 / Email: editora@tirant.com / atendimento@tirant.com
tirant.com/br - editorial.tirant.com/br/
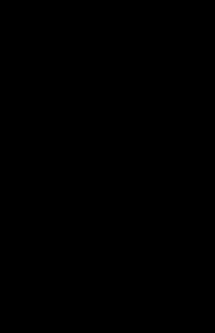
Os limites do poder estatal de criminalizar condutas
Che possiamo ritrovarci
Un giorno
In un luogo distante Lontano dal dolore
(Para meus pais)
A Deus, sempre e em primeiro lugar.
A meus filhos, Daniel, Viktor e Laura, donos do meu coração. A Isa, sol da minha vida.
A meus pais (in memoriam), por uma vida inteira de amor incondicional.
À minha família, pelo apoio e a torcida.
A Raphael Boldt e Thiago Fabres de Carvalho (in memoriam), sócios, amigos, irmãos de longa jornada.
Aos Professores João Maurício Adeodato, Juarez Tavares, Juarez Cirino dos Santos, Américo Bedê e Ricarlos Almagro, por suas valiosas contribuições para esse trabalho.
Aos amigos Alexandre Wunderlich, Anderson Burke, Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, Cláudio Brandão, Felipe Schwan, Gustavo Senna, Marcelo Zenkner, Matheus Sardinha, Paulo César Busato, Saulo Salvador Salomão e Wilton Bisi, hábeis interlocutores e companheiros de jornada acadêmica.
Aos colegas professores da Faculdade de Direito de Vitória (FDV), a quem cumprimento especialmente nas pessoas de Antonio José Ferreira Abikair, Elda Coelho Azevedo Bussinguer, Jorge Abikair e Ricardo Goretti.
Este livro enfrenta um problema ao mesmo tempo dogmático, relativo aos limites do direito positivo, e filosófico, pois refere-se ao conteúdo ético material do direito. No plano dogmático, discute se o legislador tem o direito “à sua disposição” (Alexy), ou seja, se o legislador constituinte originário pode fazer qualquer opção, criminalizar qualquer conduta. No plano filosófico, a questão se confunde com o próprio conceito de justiça, pergunta se ele se pode sobrepor e fixar fronteiras éticas à lei.
Este problema é a possibilidade de um conceito material de crime, um limite que se define pelo seu próprio conteúdo.
Um conceito material de crime iria de encontro ao formalismo positivista da legitimação pelo procedimento. Não basta o direito ter sido elaborado por autoridade competente, seguindo o rito prescrito pelo sistema: é necessária também a validade material. No positivismo tal expressão, ambígua e vaga, é descartada porque pode ser alegada em qualquer direção. Por isso a norma fundamental não traz qualquer conteúdo ético (Kelsen).
Mas o conceito material fica acima de uma eventual lei que o contrarie? E quem diz qual é esse conceito, que escapa ao procedimento? Escapa porque, por definição, coloca limites que o procedimento não pode atingir. O problema é mesmo filosófico e pode-se até dizer que é o principal problema ético para a filosofia ocidental: há regras acima, que não podem ser atingidas pelo poder constituinte originário, não importa quão legítimo e aceito por todos ele seja? Ou tudo se resume ao procedimento formal (autoridade e rito)?
Seria difícil exagerar a importância dessa questão em um contexto contemporâneo no qual Estado tende a fazer uso abusivo do Direito Penal. A tendência daqueles que advogam pela insuficiência do procedimento é fixar limites éticos que valeriam por si mesmos, sobre fundamentos diversos como a divindade (Aquino), a razão humana (Grotius), as “constantes axiológicas” (Reale).
A tese deste livro é que é possível construir um conceito material de crime que não se apoie em bases ontológicas, mas em um lastro histórico-cultural liberal. As escolhas do poder, assim, não seriam absolutamente “livres”, como quer o positivismo mais radical, porém condicionadas pelo ambiente.
Essa resposta material não seria a única correta nem definitiva, porém a mais adequada em determinado contexto, sempre sujeita a modificações, como um discurso temporariamente vitorioso. De acordo com essas bases retóricas, o autor não parte de um conceito material determinado de crime, mas sim de um conceito possível dentre vários outros. No momento histórico atual, de um conceito dentro da ideologia política liberal e do Estado democrático de direito.
Tais bases retóricas, milenares, consistem no humanismo, que se apoia na distinção entre physis e nomos para buscar as especificidades do mundo humano; no historicismo, que desconsidera a ideia de essência e assume que todo o humano varia no tempo e no espaço; e no ceticismo, que combate as certezas ontológicas e impõe o distanciamento metodológico, a epoché, a isostenia, a ataraxia.
Como o autor vê com bem clareza, não há “o” relato histórico, há relatos concorrentes sobre o passado, sobre os contextos do passado e expectativas também concorrentes a respeito do futuro. A menção de casos para nós eticamente repugnantes, efetivamente ocorridos, mostra a procedência da tese, por mais chocante que pareça. É o realismo filosófico: tais comportamentos acontecem, são humanos e precisam ser levados em consideração.
O domínio das ontologias que o livro critica, como tudo, se revela na linguagem: a começar pela “realidade”, que vem de “res” (coisa); “objeto”, o que jaz à frente, “fato”, aquilo que aconteceu. São os filhos do conceito de verdade. Como se tudo fossem “dados” e nada fosse “construído” (Gény). A falibilidade das ontologias se mostra: os dados empíricos não prevalecem a não ser em poucos ambientes que já partem de acordos, como o ambiente científico experimental, que toma como assente a prevalência dos dados empíricos. Em muitos contextos, contudo, os dados empíricos são ignorados, por isso a Terra é plana. Sabemos como a empiria depende do observador.
A sociedade nunca foi tão complexa, pelo menos no seu viés ocidental. Por isso, embora as ontologias tenham sempre predominado, estão arrefecendo. A complexidade gera o desacordo e a necessidade da dúvida e da tolerância. Na sociedade menos complexa há mais acordo sobre o sentido das palavras, tanto no conhecimento quanto na ética.
Israel Domingos Jório entendeu bem os problemas filosóficos envolvidos com sua temática, principalmente aqueles que envolvem a objetividade dos valores e, neles, o problema sobre se os valores éticos são criados no contexto ou descobertos pelo ser humano a eles submetido.
O livro destaca-se na seara do direito penal por sua preocupação filosófica, sem descurar da dogmática, no rasto de grandes penalistas brasileiros e estrangei-
ros, todos referidos com um rigor raro de se encontrar no debate atual. É obra de leitura obrigatória e já se torna um marco na literatura jurídica nacional.
João MauríCio adeodato Professor da Faculdade de Direito de Vitória e da Universidade Nove de Julho. Ex-Professor Titular da Faculdade de Direito do Recife (UFPE). Livre Docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Pesquisador 1-A do CNPq. Professor Convidado da Fundação Alexander von Humboldt.
Caro leitor, Esse é um livro sobre Direito Penal e, mais especificamente, sobre teoria do crime. Impossível, no entanto, tratar de modo sério de assuntos altamente complexos como “limitações materiais ao poder de criminalizar condutas”, “conceito material de crime” e “fundamentos de legitimidade das normas penais incriminadoras” sem recorrer a outros saberes, com evidente destaque para a filosofia (geral e do Direito). Para que tenhamos uma obra com a desejável profundidade teórica e filosófica, mas que não force o leitor a longos desvios e digressões a cada instante, pensamos um formato diferente.
O presente trabalho é o produto de uma planejada adaptação da tese de doutorado intitulada “O conceito material de crime e a limitação do poder estatal de criminalizar condutas: uma análise sob o prisma da filosofia retórica”, modificada para transformar-se em um livro com feições mais didáticas e convidativas para seu verdadeiro público-alvo: o dos penalistas.
Bem se sabe que a imensa maioria dos livros que cuidam dos temas “bem jurídico” ou “conceito material de crime” faz uma longa revisão teórica de cada uma das principais posições teóricas dos autores mais proeminentes, com ênfase na doutrina alemã. O leitor encontrará semelhante abordagem nesse trabalho, pois, embora não seja ela nosso foco, seguramente coopera para a melhor compreensão do assunto. Mas, como o propósito é o de contribuir com uma visão nova, as revisões teóricas e conceituais foram postas em segundo plano. Figuram em um anexo, posicionado ao final do livro. Ali o leitor encontrará muitas páginas sobre as teorias de Welzel, Hassemer, Roxin, Schünemann, Mill, Feinberg e outros.
Do mesmo modo, soa desnecessário forçar o leitor, provavelmente estudioso das letras penais, a dar longos mergulhos filosóficos que, apesar de enriquecedores, não constituem os objetos centrais do interesse da maioria. É claro que há um núcleo filosófico indispensável, e ele está entranhado em todo o texto. Mas as digressões mais detidas foram lançadas em separado, também ao final do livro, para a livre consulta dos que assim o desejem, na medida dos respectivos interesses.
Boa leitura!
jurídico .................................................
b) A segunda razão do fracasso: se o bem jurídico e o harm to others existissem no plano sensível, ou eles não teriam essência, ou essa essência não seria apreensível pelos aparelhos cognitivos humanos. .................................................................................................................................
c) A terceira razão do fracasso: a pretensão de obter um conceito unívoco, definitivo e perfeito é incompatível com as próprias características da linguagem.
15. Explicando a falha no plano prático: o conceito material de crime como meio e os parâmetros empíricos do projeto ............................................................................
42.2. Funcionalização a partir da pessoa: não há crimes contra a sociedade ou contra os “bons costumes” (tabus sexuais, prostituição, pornografia) ..................................................................
42.3. A exigência de demonstração argumentativa de efetivo potencial de nocividade para a pessoa: proibição da presunção absoluta de nocividade (embriaguez ao volante, vedação da insignificância em crimes contra a administração pública e presunção absoluta de vulnerabilidade em crimes sexuais) .....................................................................................................................................
42.4. A impossibilidade de criminalização do que é meramente desviante e do que apenas causa incômodo ou repulsa (crimes contra o sentimento religioso) .....................................................
Algumas das mais elementares perguntas da vida estão entre as mais complexas e difíceis questões sobre as quais se pode debruçar um ser humano, não constituindo exagero afirmar que, dentre elas, há aquelas que são verdadeiramente irrespondíveis se existir sobre a solução uma expectativa de certeza ou de consenso. Como é possível o conhecimento? A verdade existe? Como alcançá-la? Há condutas essencialmente boas ou más? Os valores são criações culturais ou preexistem ao homem e são por ele apenas apreendidos? No campo jurídico, exemplos de perguntas-chave seriam: para que serve o Direito? Há direitos inerentes ao ser humano?
Qualquer afirmação que se faça, seja ligada ao conhecimento ou à ética, está sujeita à possibilidade de verdadeira aniquilação por um bom manuseio de argumentos opositores. Algumas falas, no entanto, por sua coesão e pelo sólido amparo na experiência, são altamente persuasivas e tendem a ser mais resistentes à refutação. Eis o mais próximo que se pode chegar da “verdade”.
Apesar de árdua, a tarefa de buscar resposta para algumas dessas questões é inescapável. Não falamos, aqui, de uma resposta pronta, acabada, definitiva. Mas praticamente qualquer pesquisa que se queira fazer sobre temas filosóficos ou jurídicos centrais dependerá da existência de concepções ligadas a cada um desses pontos fundamentais. Tais concepções correspondem a premissas, verdadeiros pontos de partida para qualquer análise que se queira fazer ou qualquer raciocínio que se pretenda construir. A depender da solução apontada para cada uma dessas indagações nevrálgicas, os rumos da investigação podem seguir caminhos diversos e alcançar destinos completamente diferentes, não só distantes, mas verdadeiramente antagônicos. Não é arriscado dizer que, quanto mais fundamental a questão proposta, maior a necessidade de se estabelecerem os pontos de partida. E não é suficiente, nesse campo, operar o tradicional corte epistemológico, imprescindível não apenas à delimitação do campo da investigação, mas à sua própria viabilidade, eximindo o pesquisador da missão de responder com profundidade cada questão incidental e de apresentar cada solução possível, de acordo com as incontáveis perspectivas teóricas, metodológicas ou filosóficas concebíveis. Pela primordialidade e a fundamentalidade de cada uma dessas questões, é crucial estabelecer um grande número de pontos de partida, deixando claro, assim, que a validade das eventuais soluções apontadas como viáveis somente é concebível dentro do exíguo perímetro formado por esse conjunto de premissas.
É possível dizer, após uma breve olhada pelo retrovisor de um veículo que se move em alta velocidade para um futuro repleto de incertezas, que algumas das questões fundamentais do Direito Penal não foram e sequer estão, após séculos, em vias de ser solucionadas de modo minimamente seguro. Perguntas elementares, ligadas às missões (declaradas e ocultas) do Direito Penal, às condições de legitimidade das suas intervenções e aos limites de suas interferências nas vidas e nas liberdades das pessoas não apenas permanecem sem uma resposta definitiva; elas seguem causando os mesmos níveis de divergências e polêmicas de quando foram elaboradas pelas primeiras vezes. Nosso trabalho se ocupa de algumas dessas questões, e, portanto, não traz consigo a ingênua pretensão de decifrar o genoma do Direito Penal ou de elaborar um teorema infalível para a criação ou o manuseio de suas normas. A ideia, logicamente, é contribuir com um ou dois acordes para essa longa sinfonia da dogmática penal, regida a várias mãos por tantos mestres do passado e do presente.
Vivemos e, ao que parece, continuaremos a viver em sociedade, pelo menos por um longo tempo. Só por conta disso, devemos estar absolutamente seguros de que conflitos entre as pessoas sempre existirão. Levemos em conta a explosão demográfica, o gradual esgotamento dos recursos e os elementos desagregadores das desigualdades socioeconômicas. Some-se a isso uma empiricamente constatada, ao longo dos mais variados períodos da história, intolerância em relação às diferenças. Adicionem-se, também, os poderosos catalisadores do dinamismo da vida moderna, como a instabilidade das verdades científicas, a velocidade das informações, o multiculturalismo, a pluralidade das filosofias de vida e a globalização. O que se tem é um quadro altamente propício para o acirramento das disputas por espaços de sobrevivência, de bem-estar e de poder. É natural que se observem embates cada vez mais frequentes e, se não mais violentos, mais complexos. Precisamos, até agora, e continuaremos a precisar – pelo menos enquanto não alcançamos um estágio evolutivo, como indivíduos e como membros da sociedade, que o dispense – de algum tipo de poder concentrado e verticalizado para manter “uma ordem”. Esse papel é assumido pelo Estado. E o Estado continuará a precisar de uma ampla variedade de instrumentos de intervenção para fazer valer suas políticas e soluções. O Direito Penal, é claro, é um desses instrumentos. O mais rigoroso deles, aliás. O direito Penal expressa, sempre, uma violência.1
As questões que imediatamente se seguem são: o Estado é livre para escolher quando intervir, e quais ferramentas serão usadas nesse processo? É possível que seja usado o Direito Penal da maneira como bem entenderem os represen-
tantes políticos? Enfim, o Estado pode punir o que quiser, quando quiser, e como quiser, devendo os súditos apenas se curvarem a qualquer que seja a política de intervenção por ele adotada?
Há muitos tipos de “Estados” e muitos tipos de “ordens”. Desde Estados totalitários, comandados por tiranos, comprometidos com manter uma ordem baseada desigualdades, regalias e exclusões, até Estados democráticos, guiados por representantes políticos eleitos, que governam com participação popular em busca de uma sociedade em que sejam respeitadas as liberdades e asseguradas condições de vida dignas para todos, indistintamente. Cada Estado, e cada ordem pretendida, terá uma diferente política de gestão dos interesses e dos conflitos. Um Estado que queira resolver a maior parte dos conflitos será intervencionista. Um estado que o queira fazer por meio do Direito Penal será terrorista. Um Direito Penal sempre presente, e com pretensão máxima de eficiência, transformará a pena em terror penal2, e não se permitirá refrear por direitos e garantias fundamentais ou por princípios político-criminais de índole liberal.
É quase impossível, ou, pelo menos, inútil, estabelecer discursivamente limites para a atuação do Estado totalitário. Por definição, seu alcance é absoluto e seus poderes são inquestionáveis. À exceção dos governantes e dos que pertençam às classes circunstancialmente privilegiadas, não há valor na individualidade. Não há um espaço existencial ou de liberdades reservado para as pessoas, que estão inteiramente sujeitas aos arbítrios dos detentores do poder. Aqui, sim, o Estado pune o que quer e como quer. Ou não existem mecanismos de controle de conteúdo das normas penais, ou esses mecanismos estão em poder do próprio Estado. Aos divergentes, sejam eles acadêmicos ou pensadores, sejam eles guerrilheiros com armas em punho, restam a resistência e a oposição, sujeitas a todo tipo de represália imaginável.
Boa parte dos povos passou por experiências dessa natureza. Desde os antigos despotismos monárquicos absolutistas até as ditaduras contemporâneas, ora mais, ora menos atrozes (com não raros picos de uma sanguinolência furiosa, como nos casos da China, da Alemanha, da Itália e da Rússia, todos no século XX), a relação entre a “pessoa” e o “Estado” é marcada por abusos, traumas e uma justificada desconfiança. À custa de revoluções, de perseguições, de montanhas de cadáveres e rios de sangue, observaram-se movimentos mundiais de repúdio às barbaridades estatais e de proclamação de direitos e garantias ligadas às liberdades e ao desenvolvimento das pessoas. Ao longo do caminho, em meio a livros, tratados, dicionários e enciclopédias iluministas, tivemos uma Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma Declaração Universal dos Direitos Humanos,
centenas de pactos internacionais envolvendo a dignidade da pessoa humana e, enfim, uma guinada quase generalizada dos povos em direção a regimes democráticos e suas políticas de reconhecimento e emancipação.
Desde o giro antropocêntrico iluminista, o Estado – ou seus condutores – não pode deter poderes absolutos e inquestionáveis. Instaurou-se uma mentalidade que, apesar de não ser infalível, como mostram as ascensões do nazismo e do fascismo, passou a ser amplamente compartilhada pelos povos. Especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, isso conduziu, em muitas partes do mundo, a uma gradual inclinação democrática. E, por conta da característica valorização do indivíduo nesse tipo de regime, tornaram-se Estados e governantes muito mais expostos a críticas e a mecanismos de controle projetados com o especial fim de limitar os “poderes públicos”, comprovadamente tendentes à expansão e ao abuso ao longo da experiência humana.
Antes mesmo de detalhar o problema central da pesquisa, é importante compreender que ele não é fruto de uma mera angústia teórica. É, antes, determinado pela recorrente constatação empírica de que, ao longo dos séculos, o Estado tende a fazer uso extremamente abusivo do Direito Penal. Como evidência, basta a lembrança das ordálias, das barbáries e dos suplícios. Das confissões sob tortura. Da confusão perniciosa entre crime, pecado e imoralidade para a criação de leis penais irracionais, preconceituosas ou nitidamente perseguidoras. Basta citar que, durante o período nacional-socialista, o Direito Penal já foi usado para “proteger a pureza da raça alemã”. Ou trazer à tona que, no Brasil, país de rachaduras socioeconômicas estruturais abismais e pátria de milhões de desempregados e famintos, a conduta de “mendigar” constituía uma infração penal até 2009.3 Se voltamos os olhos para o presente, a situação, não se revela mais animadora. Pelo contrário: mesmo após tanta luta e tanto esforço, em pleno Século XXI, manter relações homossexuais é crime em cerca de 70 países, e, em alguns outros, há pena de apedrejamento até a morte para a mulher adúltera.
Claro, algumas criminalizações existentes em países estrangeiros nos soam como completos absurdos, e vice-versa. Então, há elementos culturais que não podem ser desprezados. Mas que tipo de papel podem exercer esses traços de tradição e cultura? De início, parecem existir apenas dois caminhos: ou se segue a doutrina do Direito natural, afirmando-se a existência de limites ontológicos intransponíveis para qualquer legislador, ou se adota uma linha positivista, e desde que sejam observadas as regras do devido processo legislativo e as normas de hierarquia superior, não há como se questionar uma decisão de criminalização. A questão até passa por esse debate, mas a ele não se restringe.
Se a pergunta a mover a investigação for “o que pode o Estado legitimamente criminalizar?”, teremos uma tarefa praticamente inexequível. Depende inteiramente, dentre outras coisas, do tipo de Estado e da orientação filosófica acerca do conceito de “legitimidade” das normas jurídicas. Quando afunilamos a análise, indagando acerca do que se pode legitimamente criminalizar dentro de um Estado democrático de Direito, e segundo uma perspectiva filosófica retórica, a jornada se torna viável, embora se conserve extremamente sinuoso o trajeto. Quando consultamos o caminho que a dogmática penal trilhou no sentido de elaborar barreiras de contenção dos abusos do poder punitivo, deparamo-nos com construções como a teoria do bem jurídico e o harm principle. Segundo considerável parte da doutrina, os conceitos-chave daí extraídos desempenham uma função crítica do sistema penal e conduzem a uma limitação da atividade legislativa, que está desautorizada a criminalizar determinados tipos de comportamentos, sob a pena da ilegitimidade e invalidade das normas produzidas. Percebemos que, no fim, o que se quer é uma superação da noção formal de crime enquanto “um comportamento proibido pela lei penal, sob a ameaça de uma pena”. Um conceito assim mantém o legislador – como dito, muito propenso a abusos – no inteiro controle de decidir o que pode e o que não pode constituir um delito. Sua única obrigação é a de descrever de modo suficientemente claro a conduta proibida por meio de uma lei aprovada sob estrita observância do devido processo legislativo. Busca-se, destarte, embora essa rubrica nem sempre apareça nos escritos, um conceito material de crime, ou seja, um conceito de crime que agregue, à regular previsão em lei do comportamento proibido (princípio da legalidade penal), algum tipo de característica sem a qual ele não possa ser considerado criminoso. Um comportamento, para que configure crime, deve estar claramente descrito pela lei penal e “ser ou ter algo a mais”. O que é esse “algo a mais” é o cerne da discussão sobre o conceito material de crime e a limitação do poder punitivo estatal. Seria um alto grau de desvalor social? Seria a causação de um prejuízo para um interesse alheio? Seria a produção de um dano ou um perigo para um bem jurídico?
São três as investigações da obra:
1. Considerando-se a pluralidade de valores, concepções de mundo e culturas, é possível formular um conceito material de crime?
2. Um conceito material de crime é um instrumento capaz de funcionar como filtro de legitimidade e critério de limitação da atividade estatal de criminalizar?
3. Qual seria um conceito material de crime adequado a um Estado democrático de Direito?
Para enfrentar essas questões, faremos o seguinte percurso:
Parte Um: Estabelecemos as premissas filosóficas anti-ontológicas do trabalho. Trabalhamos com os elementos centrais da filosofia retórica, que são o historicismo, o ceticismo gnoseológico, o ceticismo ético, o humanismo e o destacado papel constitutivo do mundo e da realidade desempenhado pela linguagem.
Parte Dois: Fizemos a colocação do problema. Especialmente a partir de paralelos entre diversas opções político-criminais estrangeiras e algumas formulações hipotéticas, vemos uma confirmação das premissas retóricas que, no campo do Direito Penal, conduzem ao reconhecimento de que simplesmente não existe uma ontologia do crime ou qualquer espécie de “delito natural”. Passamos, em seguida, pelo delineamento das características de um Estado democrático de Direito, investigando como algumas de suas características principais – a pluralidade e a tolerância – interferem na reflexão sobre o que se pode punir, como se pode punir e, afinal, por que se deve punir uma conduta. Encerramos essa parte com a apresentação do início da jornada liberal em busca do conceito material de crime, marcada pelo desenvolvimento das teorias alemãs do bem jurídico e do harm principle anglo-saxônico. Conforme veremos, ambos partem das mesmas premissas liberais e sofrem com as mesmas inquietações, o que os leva a investigar se “É possível encontrar razões além do Direito positivo para decidir quais comportamentos devem ser punidos e quais não?”4
Parte Três: Demonstramos que é inevitável o fracasso do projeto de segundo o qual o bem jurídico ou o harm to others se converteria em uma barreira instransponível frente aos abusos do poder punitivo estatal. As características do conhecimento humano e da linguagem impedem que se construa um conceito perfeito de bem jurídico ou de harm to others, o que indica que não se podem apostar todas as fichas nessa empreitada ou esperar que, por meio da sua realização, será obtido um filtro crítico infalível. Nesse ponto, volta a nos socorrer a filosofia retórica, que fornece todos os elementos que conduzem a essa conclusão e que aponta para a necessidade de que faça um ajuste nas expectativas de rendimento crítico-limitativo do conceito.
Parte Quatro: Um conceito material de crime sobre o qual se tenha pretensão de real aplicabilidade e de efetivo poder crítico-limitativo deve ser elaborado com atenção às demandas empíricas da sociedade a que se refere. Somente isso pode fazer com que o ele deixe de ser uma quimera teórica ou um ornamento dogmático para ganhar concretude e utilidade prática. Nessa parte, expusemos diversos exemplos que mostram que há tipificações verdadeiramente indispensá-