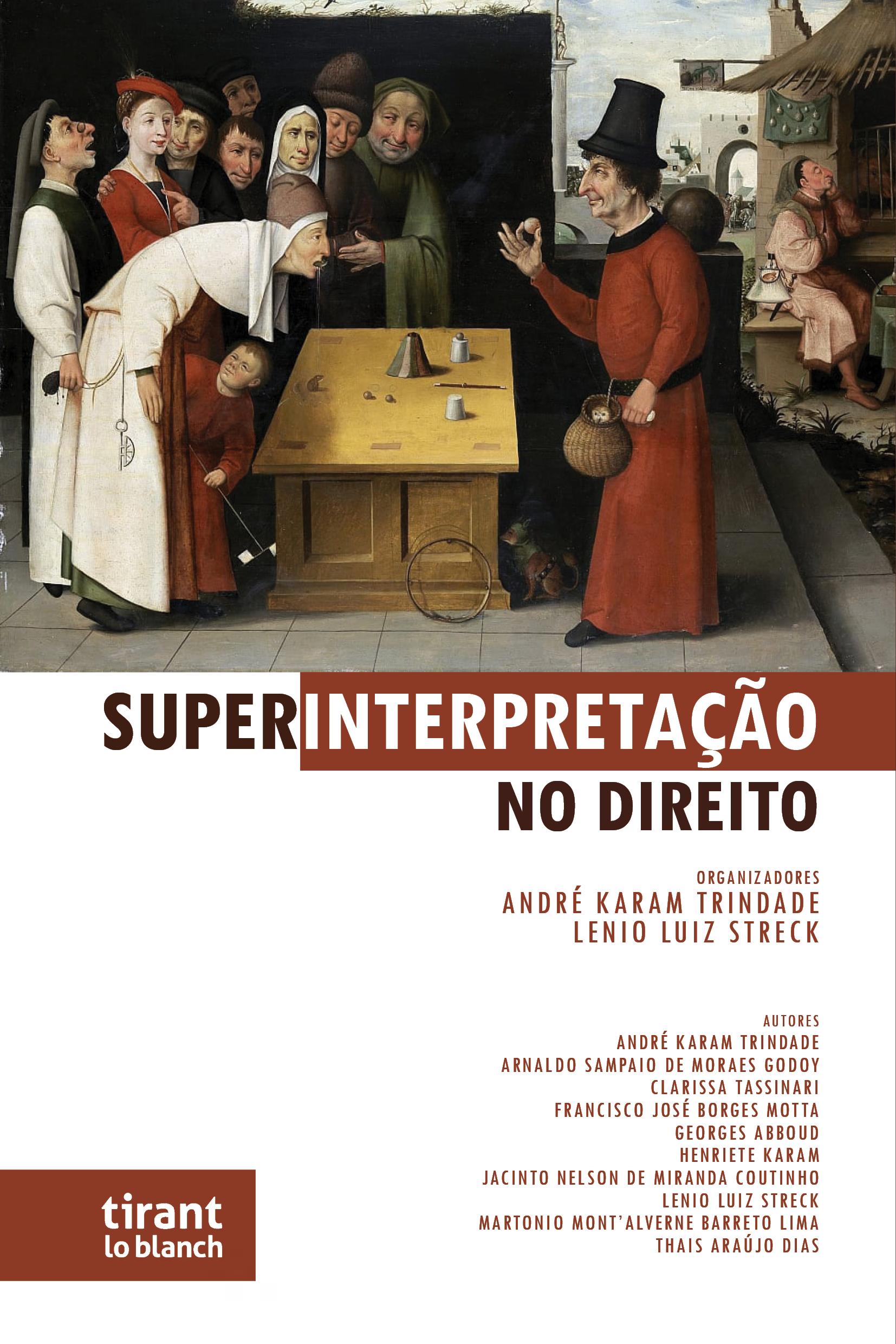
Organizadores
 André Karam Trindade
Lenio Luiz Streck
André Karam Trindade
Lenio Luiz Streck

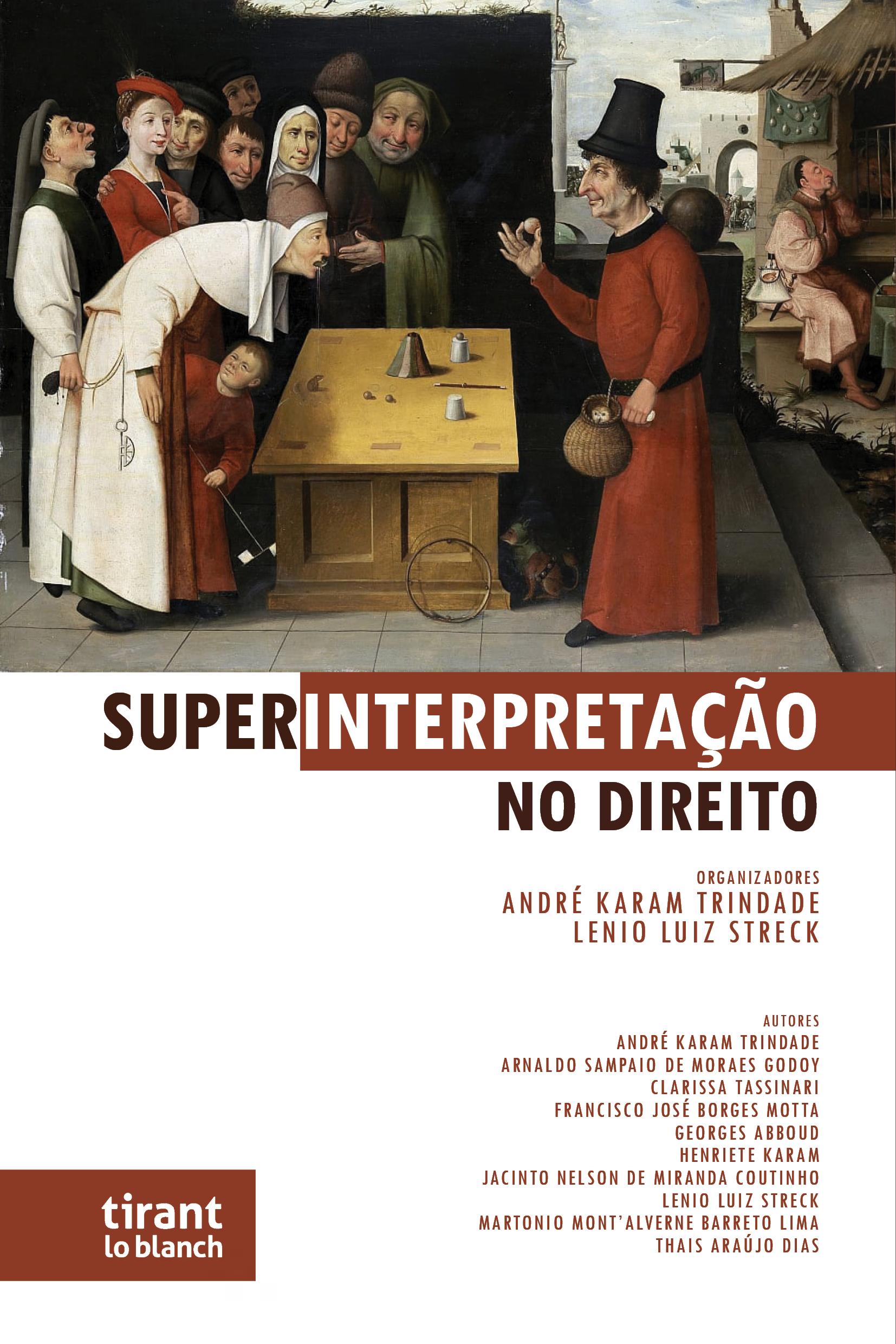
 André Karam Trindade
Lenio Luiz Streck
André Karam Trindade
Lenio Luiz Streck
Copyright© Tirant lo Blanch Brasil
Editor Responsável: Aline Gostinski
Assistente Editorial: Izabela Eid
Capa e diagramação: Analu Brettas
Imagem da capa: Hieronymus Bosch, The Charlatan
eDuarDo Ferrer Mac-GreGor poiSot
Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Investigador do Instituto de Investigações Jurídicas da UNAM - México
Juarez tavareS
Catedrático de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil
LuiS López Guerra
Ex Magistrado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Catedrático de Direito Constitucional da Universidade Carlos III de Madrid - Espanha
owen M. FiSS
Catedrático Emérito de Teoria de Direito da Universidade de Yale - EUA
toMáS S. viveS antón
Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência - Espanha
S956

Superinterpretação no direito [recurso eletrônico] / organizadores André Karam Trindade, Lenio Luiz Streck. - 1. ed. - São Paulo : Tirant Lo Blanch, 2023. recurso digital ; 1 MB
Formato: ebook

Modo de acesso: world wide web
ISBN 978-65-5908-571-2 (recurso eletrônico)
1. Hermenêutica (Direito). 2. Livros eletrônicos. I.. I. Trindade, André Karam. II. Streck, Lenio Luiz.
23-83794
CDU: 340.132.6
Meri Gleice Rodrigues de Souza - Bibliotecária - CRB-7/6439
DOI: 10.53071/boo-2023-05-15-646231ccd23d7
É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art.184 e §§, Lei n° 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei n°9.610/98).
Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch.
Fone: 11 2894 7330 / Email: editora@tirant.com / atendimento@tirant.com tirant.com/br - editorial.tirant.com/br/
Impresso no Brasil / Printed in Brazil

André Karam Trindade
Lenio Luiz Streck
Autores
André Karam Trindade
Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy
Clarissa Tassinari
Francisco José Borges Motta
Georges Abboud
Henriete Karam
Jacinto Nelson de Miranda Coutinho
Lenio Luiz Streck
Martonio Mont’Alverne Barreto Lima
Thais Araújo Dias
In memoriam, José Calvo González
Carlos María Cárcova
Este livro resulta de um projeto de investigação sobre uma das questões hermenêuticas que mais assombra os juristas, ao menos desde a consolidação do positivismo jurídico: os limites da interpretação, em cuja base está o problema da indeterminação do Direito.
Na verdade, essa temática sempre me acompanhou, desde o início de minha vida acadêmica, assim como me possibilitou encontrar um caminho para trilhar minhas pesquisas e, desse modo, construir uma trajetória própria sem, contudo, renunciar à matriz teórica que orientou toda a minha formação.
De todo modo, apesar dos grandes avanços verificados nos campos da teoria do direito, filosofia do direito e direito constitucional, a abordagem aqui proposta revela-se totalmente inédita, inclusive no âmbito dos estudos em Direito e Literatura, mais especificamente da intersecção estrutural e metodológica, de viés teórico, que contempla uma dimensão semiótica, em ascensão na atualidade.
O objeto desta obra é o fenômeno da superinterpretação e sua manifestação no Direito brasileiro. E, quando falamos em superinterpretação, não há como dissociar esse conceito do pensamento crítico de Umberto Eco (1932-2016), que o empregou, originalmente, na ocasião de suas Tanner Lectures na Universidade de Cambridge, em um debate com membros da Clare Hall – os professores Richard Rorty, Jonathan Culler e Christine Brooke-Rose –, cujo teor restou publicado na obra Interpretation and Overinterpretation (1992).
Aliás, é curioso como, ultrapassadas mais de três décadas, o tema das superinterpretações – que se ocupa dos limites do alcance das interpretações (im)possíveis – ainda não recebeu atenção e, por consequência, não foi devidamente explorado por parte da ciência jurídica, seja no Brasil, nos Estados Unidos, ou na própria Itália.
Na verdade, o mesmo movimento identificado pela Teoria Literária parece repetir-se na Teoria do Direito. Em certo momento da história, no século XIX, o positivismo legalista nos levou a acreditar
que interpretar era descobrir a vontade do legislador (mens legis); depois, ao longo do século XX, o positivismo normativista passou a sustentar que interpretar é um ato de vontade e que os juízes possuem discricionariedade para decidir os casos difíceis. Ou seja, da vontade do legislador (intentio auctoris) saltamos para a vontade do juiz (intentio lectoris), como se a interpretação do Direito continuasse a depender exclusivamente da vontade, ora do autor, ora do leitor.
No Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o que há em comum entre os casos envolvendo, recentemente, o empate favorável ao réu apenas em habeas corpus (AR 2.921); a prisão em segunda instância (HC 126.292); a possibilidade de redução salarial sem a participação dos sindicatos (ADI 6.363); a dispensa da revisão da prisão preventiva a cada noventa dias (SL 1.395); a hipótese de reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado (ADI 6.524); e, para referir um ainda mais antigo, a norma constitucional que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano (ADI 4)?
Em todos eles, se levarmos a sério a proposta teórica de Eco, observaremos uma tensão entre o direito dos textos e o direito dos leitores. No fundo, mais uma vez, o que está em jogo é a fidelidade e a liberdade do intérprete em relação ao texto. O grande problema – e esse é um traço particular dos textos jurídicos – é a violência produzida pelo Direito a partir de interpretações que autorizam o uso pretensamente legítimo da força.
Ainda a título ilustrativo, a noção de superinterpretação constituiu a base de toda fundamentação teórica e técnica da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 44 – proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ante a mutilação do texto constitucional –, cuja procedência restabeleceu a garantia da presunção de inocência, com a vedação à prisão automática em segunda instância, além de representar um passo fundamental para a defesa da democracia na luta contra o autoritarismo instalado no país.
É nesse contexto que a proposta deste livro foi concebida a partir do convite para que dez reconhecidos professores no cenário nacional analisassem o fenômeno da superinterpretação no Direito brasileiro. Os ensaios aqui reunidos giram em torno de quatro eixos:
(1) questões conceituais e modelos teóricos; (2) aspectos relativos aos perigos, efeitos e abusos à produção democrática do direito; (3) problemas envolvendo a formação da jurisprudência dominante e de certos precedentes; (4) alguns casos práticos envolvendo decisões do Supremo Tribunal Federal. Que sua leitura possa amplificar a crítica hermenêutica e, sobretudo, inspirar a realização de novas pesquisas, sem perder de vista o compromisso democrático com a produção do Direito.
Agradeço, por fim, à colaboração do Prof. Me. Alex Meira, à época meu orientando e bolsista da CAPES, pelo suporte à organização do livro. Sem seu apoio e auxílio esse projeto jamais teria saído do papel.
Harold Bloom, um dos mais importantes críticos literários da atualidade no âmbito mundial, publicou O cânone ocidental, em 1994. Nesse importante livro, ele critica o fenômeno que denominou balcanização dos estudos literários, entendido como o movimento resultante de diversas correntes em ascensão – como o feminismo, o neo-historicismo, o pós-colonialismo, o afrocentrismo, entre outros – que rejeitam a existência de cânones literários como forma de implementar seus programas de mudança social.
Na verdade, com a publicação desse livro, Bloom está reagindo à chamada escola do ressentimento, que havia se tornado a moda nas faculdades estadunidenses e propugnava a necessidade de se abandonarem a tradição estética e os padrões intelectuais, sob o álibi da harmonia social e da remediação à injustiça histórica. Com isso, um poema não poderia mais ser lido simplesmente como um poema, porque ele seria, antes, um documento social ou, talvez, um texto filosófico. Contra esse tipo de abordagem ressentida, Bloom resiste bravamente. Para ele, é preciso preservar a poesia em sua forma mais pura possível.
Pois, no campo jurídico, ao menos no Brasil, verificamos um fenômeno bastante semelhante àquele denunciado por Bloom: a
1 Este capítulo foi publicado, originalmente, na RECHTD – Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (TRINDADE, 2019) e, posteriormente, foi objeto de discussão da 4ª Sessione do Seminario Interdisciplinare Diritto e Intertestualità, ocorrido na Università Degli Studi Roma Tre, em 2022.
2 Doutor em Teoria e Filosofia do Direito (Uniroma3/Itália). Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNIVEL. Visiting Professor da Università degli Studi Roma Tre. Ex-presidente da Rede Brasileira Direito e Literatura. E-mail: andrekaramtrindade@gmail.com
destruição do cânone – no caso, o texto constitucional – e, com ela, a perda de autonomia do Direito.
Na teoria do direito, assim como no direito constitucional brasileiro, por exemplo, há algumas tendências que pretendem alçar o Poder Judiciário, com destaque para o Supremo Tribunal Federal, à posição de vanguarda iluminista da sociedade. Uma dessas tendências é, precisamente, o neoconstitucionalismo, que também vem fortemente marcado pela ideia de ressentimento.
Tal qual denunciado por Bloom, para concretização dos direitos fundamentais, o que importa seriam os valores que o intérprete-juiz deve privilegiar em detrimento do cânone. É esse caminho que, no direito brasileiro, vem sendo assumido pela dogmática constitucional, quando se trata da interpretação da Constituição de 1988.
Eis o cenário em que exsurgem e, atualmente, intensificam-se as denominadas superinterpretações no Direito.
2. oS LiMiteS Da interpretação a partir Da teoria Literária De uMberto eco
Umberto Eco – importante semioticista italiano, falecido em 2016, reconhecido mundialmente pela publicação do romance O nome da rosa (1980), obra traduzida para mais de quarenta idiomas e adaptada para o cinema – dedicou-se, no campo da teoria literária, aos problemas da interpretação, lecionando na prestigiada Universidade de Bolonha.
Em Opera aperta, publicada nos anos 1960, Eco sustentava o papel ativo do leitor na interpretação de textos dotados de valor estético. A questão de fundo, à época, era a dialética entre os direitos dos textos e os direitos de seus intérpretes. Nos trabalhos sucessivos que produziu, ele buscou os fundamentos semióticos dessa experiência de abertura a cujas regras não havia se dedicado inicialmente.
No entanto, três décadas mais tarde, em Interpretazione e Sovrainterpretazione (1995), preocupado com a licença delegada por alguns dos principais setores do pensamento crítico contemporâneo, em especial de certos desconstrucionistas – que teriam promovido
uma apropriação perversa da noção de semiótica ilimitada –, para que o leitor produza um fluxo ilimitado e incontrolável de “leituras”, o mesmo Eco insurge-se conta os exageros muitas vezes cometidos pelos intérpretes.
Nesse importante livro, estão reunidas as três conferências proferidas por Eco em suas Tanner Lectures, na Universidade de Cambridge, em 1990, junto aos membros da Clare Hall, seguidas dos debates com Richard Rorty, Jonathan Culler e Christine Brooke-Rose, em que o pensador italiano explora as maneiras de se limitar o alcance das interpretações possíveis e, consequentemente, de identificar as denominadas superintepretações.
Desde o início, Eco chama atenção para um aspecto importante, que certamente também se aplica ao Direito: é possível reconhecermos a superinterpretação de um texto sem que precisemos indicar qual é a interpretação correta, ou sequer acreditar que deva existir uma interpretação correta.
O principal exemplo utilizado por ele para ilustrar o fenômeno das superinterpretações é a leitura rosa-cruzeana proposta por Gabriele Rossetti a respeito de A divina comédia, de Dante Alighieri. Para Rossetti, a narrativa dantesca contém uma série de símbolos e práticas litúrgicas típicas da tradição da rosa-cruz, apesar de documentos históricos confiáveis indicarem que a ascensão dessa fraternidade ocorreu somente no século XVII.
Eco traz ainda outros exemplos para ilustrar e reforçar sua tese. Um deles, reconhecidamente radical, envolve Jack, o estripador, o célebre serial killer inglês do final do século XIX. Eco alega que, se alguém alegasse que Jack praticava seus crimes baseado na interpretação que fazia do Evangelho segundo São Lucas, então muitos dos adeptos do protagonismo do leitor teriam de concordar que Jack havia lido o apóstolo de uma maneira despropositada, enquanto os críticos afirmariam que Jack estava complemente louco.
Eco retoma toda essa crítica num livro chamado I limiti dell’interpretazione (1990), também dedicado ao resgate do valor do texto e, portanto, da intentio operis. Nesse livro, ele admite que, nos anos 60, preocupava-se com a tensão entre a fidelidade e a liberdade do
intérprete em relação ao texto. Entretanto, passados trinta anos, Eco reconhece que a balança pendeu excessivamente para o lado da liberdade concedida ao intérprete, conferindo-lhe um lugar privilegiado. Todavia, a questão que se coloca não é pender, agora, a balança para o lado oposto. A controvérsia não está na possibilidade de um texto comportar diversas interpretações. Isso já está superado. Que a linguagem é plurívoca, não há dúvida. O ponto é que o fato de um texto admitir diferentes interpretações não significa, de maneira nenhuma, que desse texto se possa fazer qualquer interpretação. Algumas interpretações são manifestamente equivocadas, não podendo prevalecer por violarem a materialidade do próprio texto, ou seja, sua própria textualidade. A respeito dos limites da interpretação, Eco afirma:
Prima che un testo venga prodotto, potrebbe essere inventata ogni sorta di testo. Dopo che un testo è stato prodotto, è possibile fargli dire molte cose – in certi casi un numero potenzialmente infinito di cose – ma è impossibile – o almeno criticamente illegitimo – fargli dire ciò che non disse. Spesso i testi dicono più di quello che i loro autori intendevano dire, ma meno di quello che molti lettori incontinenti vorrebbero che dicessero (ECO, 1990, p. 107).
É preciso, portanto, respeitar o texto. Há critérios para limitar – e, portanto, controlar – a interpretação, seja ela literária ou jurídica. É possível fazer coisas com palavras? Sim, é possível, como já demonstrou John Austin (1990). Mas não é possível fazer qualquer coisa. E, aqui, reside a importância da Crítica Hermenêutica do Direito, que Lenio Streck (2014) vem desenvolvendo faz alguns anos, segundo a qual não se pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa (TRINDADE e TOMAZ DE OLIVEIRA, 2017).
No campo jurídico, especialmente quando se discute o modo de produção das decisões judiciais, sempre que o interesse do leitor/ intérprete puder se sobrepor ao texto deveria acender um sinal amarelo, indicando o risco de se incorrer em interpretações voluntaristas. Afinal, o ato interpretativo pressupõe a pretensão de compreender certa textualidade, e não de participar de um jogo de imaginação ou adivinhação.
Como alerta Eco, existe um sentido dos textos, ou melhor, podem existir muitos, mas não se pode dizer que não exista nenhum
ou, ainda, que todos sejam igualmente bons. Por isso, quando falamos dos limites da interpretação, o que se busca é estabelecer um modus, uma medida, um parâmetro, que sirva para identificarmos o excesso.
Em síntese: se, num primeiro momento, Eco privilegiou a autoridade do leitor — e, aqui, ele cita a maliciosa metáfora de Tzvetan Todorov (1987): um texto não passa de um piquenique em que o autor traz as palavras e os leitores o sentido (que, na verdade, é uma frase de Georg Lichtenberg em alusão aos trabalhos de Jakob Böhme) —, contribuindo para certa arrogância do leitor, que assumiu um papel ativo demais na livre atribuição de sentidos; num segundo momento, Eco se preocupa, então, com os limites que o texto impõe à atividade interpretativa. Ora, para que uma interpretação seja exitosa, parece recomendável que ela possa ser verificável, tendo por base o próprio objeto interpretado, no caso o texto.
A conclusão é de que, entre a inacessível intenção do autor (intentio auctoris), muito difícil de se descobrir, além de irrelevante para a compreensão, e a discutível intenção do leitor (intentio lectoris), que desbasta o texto até atingir uma forma que sirva a seu propósito, existe a intenção do texto (intentio operis), que refuta interpretações insustentáveis.
Superados os paradigmas da objetividade e da subjetividade, o que temos é um processo dialógico e intersubjetivo de cooperação entre o leitor, o autor e o (con)texto, que ocupa a centralidade dessa interação dialética. Isso porque o leitor sempre se encontra com o texto por meio de sua manifestação linear. Sua interpretação, entretanto, sempre dependerá do horizonte de sentido e de expectativas do leitor. Ocorre que, para além disso, há uma enciclopédia cultural que abarca não apenas a língua e seu funcionamento, mas também o registro de todas as interpretações anteriores desse mesmo texto, isto é, a tradição conformada por determinada comunidade de leitores, uma vez que um texto sempre remeterá a outro texto, que remeterá a outro texto, e assim por diante. E isso não pode, jamais, ser ignorado, ao menos quando se busca uma interpretação adequada.
Assim, a superinterpretação – sempre mais polêmica porque exagerada – seria uma leitura insustentável, inapropriada, inconcebível do texto. Ela caracteriza-se pela imposição da vontade do leitor, que desrespeita a intenção do texto, ao violar a sua coerência ou, então, por usurpar seus limites semânticos, apoderando-se de seu sentido.
3. Superinterpretação: uMa FiGuração eM MachaDo De aSSiS
Muito antes de Umberto Eco, o problema referente aos limites da intepretação já havia sido magistralmente explorado por Machado de Assis, no famoso conto A Sereníssima República (1997), publicado originalmente em Papeis avulsos, no ano de 1882.
A narrativa consiste na transcrição da conferência proferida pelo cônego Viana para comunicar sua grande descoberta: a existência da república das aranhas. Ele relata os resultados de seu extenso e aprofundado estudo de uma espécie de artrópode. Tendo observado que as aranhas possuíam uma “língua rica e variada, com sua estrutura sintática, os seus verbos, conjugações, declinações, casos latinos e formas onomatopeicas”, o cônego percebe que elas eram capazes de formar uma sociedade organizada. Decide, assim, testar as aptidões políticas das aranhas e as conduz a adotarem o modelo de sorteio da antiga República de Veneza, em virtude da simplicidade de seu sistema eleitoral, que, no caso, seria utilizado para o provimento de todos os cargos: as bolas recebem os nomes dos candidatos e, no dia da eleição, são colocadas no saco e retiradas até se ter o número dos eleitos necessários. A princípio tudo corria bem, mas começaram a ocorrer irregularidades: primeiro, entraram no saco duas bolas com o nome do mesmo candidato e, para evitar que isso voltasse a ocorrer, diminui-se o tamanho do saco visando a reduzir o espaço à fraude; depois, um candidato não teve seu nome escrito na bola e o saco voltou ao tamanho inicial para evitar exclusões; a seguir, no nome de dois dos três candidatos faltava uma letra e ficou decidido que o tecido do saco deveria permitir a visualização dos nomes escritos nas bolas; então, um candidato pode fraudar a eleição sinalizando para o oficial encarregado da extração, com o
qual entrara em conluio, a bola que continha seu nome e a solução foi restaurar o tecido mais espesso e decretar a validação das bolas cujos nomes não estivessem grafados corretamente, desde que cinco pessoas jurassem que o nome inscrito era o próprio nome do candidato. O novo estatuto não resolveu o problema: na eleição seguinte, entre os candidatos estavam um que se chamava Caneca e outro cujo nome era Nebraska; na bola extraída estava escrito Nebrask; diante do erro de grafia, cinco pessoas juraram – nos termos da lei – que se tratava mesmo do próprio e único Nebraska da República; tudo estaria resolvido não fosse o fato de Caneca ter requerido provar que a bola trazia o seu nome, e não o de Nebraska. Um grande filólogo veio testemunhar e declarou que:
- a ausência da última letra (um simples a) não era fortuita, já que não resultava da fadiga, do amor à brevidade ou da falta de espaço, mas, sim, intencional;
- a intenção não podia ser outra senão a de chamar a atenção do leitor para a última letra do nome, a letra k;
- a letra k, por um efeito mental, é reproduzida no cérebro tanto por sua forma gráfica (k) quanto por sua forma fônica (ca);
- logo, ao chamar a atenção para a letra final, o efeito produzido pela falha na escrita é incrustar imediatamente no cérebro a sílaba ca;
- a seguir, como movimento natural do espírito é ler o nome todo, o espírito se volta para a primeira sílaba da palavra Nebrask (ne), do que resulta Cané = ca + né.
Por fim, disse o filólogo, faltava apenas explicar o processo de redução da sílaba do meio (bras) para a sílaba ca, que finalizaria a composição do nome Caneca. Tal redução poderia ser facilmente demonstrável, porém isso exigiria o “entendimento da significação espiritual ou filosófica da sílaba, suas origens e efeitos, fases, modificações, consequências lógicas e sintáxicas, dedutivas ou indutivas, simbólicas e outras”. Assim, a simples existência da suposta demonstração bastaria para comprovar, de modo evidente e claro,
sua afirmação de que ca era a terceira sílaba e, ao ser acrescentada às anteriores (Cane), resultava no nome Caneca.
4. a reLação autor-leitor-texto: Da Literatura ao Direito
O exercício desta aproximação hermenêutica ao fenômeno da superinterpretação no Direito insere-se no campo das pesquisas em Direito e Literatura (TRINDADE e GUBERT, 2008), mais especificamente da matriz denominada Direito como Literatura – ainda pouco explorada no Brasil (TRINDADE e BERNSTS, 2017) –, que se dedica aos estudos a respeito da extensão dos métodos de análise e de interpretação desenvolvidos no âmbito da crítica literária à análise dos textos e discursos jurídicos (AGUIAR E SILVA, 2011), abordando um conjunto de questões teóricas relacionadas à própria noção de narrativa aplicada ao Direito (CALVO GONZÁLEZ, 1996, 2013).
O problema relativo às superinterpretações praticadas nos tribunais é um reflexo da discussão a respeito dos limites da interpretação. Aliás, é curioso como a evolução dos modelos interpretativos, na área do direito, segue um percurso semelhante àquele observado, anteriormente, na teoria literária: (1) a crença na intenção do autor, (2) a aposta na intenção do leitor; (3) o resgate da intenção do texto.
Isso fica muito claro no pensamento de Ronald Dworkin, para aproveitarmos um teórico que desenvolveu a metáfora do romance em cadeia (novel chain), demonstrando a maneira como o direito se assemelha à literatura.
Em A Matter of Principle (1985), ele aponta as limitações do intencionalismo (de E. D. Hirsch, por exemplo), que privilegia o significado de uma obra literária a partir do ponto de vista de seu autor – o que, no plano do direito, corresponderia à vontade do legislador –, colocando-o como protagonista da interpretação.
Mas ele também se opõe à estética da recepção (de Hans-Robert Jauss e Wolfgang Iser, por exemplo), que deixa os significados à disposição do leitor, na medida em que a ele cabe atribuir os sentidos
o que, no plano do direito, implicaria aceitar que a interpretação dependeria da criatividade dos juízes –, deslocando-o para o centro do processo hermenêutico.
Como observa Marí (1998), apesar de negar qualquer vinculação ao New Criticism (de I. A. Richards) – que resiste às contribuições da filosofia europeia continental, especialmente aos aportes da fenomenologia e da hermenêutica, ao contrário do que ocorre com os formalistas russos –, Dworkin aponta, com base na formulação da hipótese estética, que a interpretação literária deve buscar a valorização substancial da obra literária e seu contexto político-social, observando os traços formais de identidade, coerência e integridade.
E isso também vale para o Direito, embora nesse caso a preocupação não seja propriamente em relação à propriedade estética do texto (LLANOS, 2017). Afinal, se a interpretação não é uma atividade inventada pelos teóricos da literatura, o mesmo se aplica aos juristas, que dela não detêm nenhum monopólio ou exclusividade.
Como se sabe, em certo momento da história, no século XIX, o positivismo legalista nos levou a acreditar que interpretar era descobrir a vontade do legislador (mens legis); depois, ao longo do século XX, o positivismo normativista passou a sustentar que interpretar é um ato de vontade e que os juízes possuem discricionariedade para decidir os casos difíceis. Ou seja, da vontade do legislador (intentio auctoris) saltamos para a vontade do juiz (intentio lectoris), como aponta Lenio Streck (2016). E, ao longo desse percurso, perdemos o cânone de vista, comprometendo a autonomia do Direito.
O fenômeno das superinterpretações também assola o Direito. Com a agravante de que, no Direito, seus efeitos revelam-se muito mais nocivos e perigosos.
Se, na literatura, a superinterpretação de um romance, por exemplo, pode levar a incontáveis discussões e debates teóricos, com a realização de dezenas de seminários e congressos, além da produ-
ção de artigos, teses e livros, o que se verifica no campo do direito é muito diferente.
Isso porque a força das decisões judiciais pressupõe o exercício legítimo da violência por parte do Estado. Isso significa dizer que uma superinterpretação das normas jurídicas pode resultar, por exemplo, na restrição da liberdade, no confisco e bens, no afastamento do lar, na interdição de um estabelecimento etc.
Não é objetivo deste ensaio oferecer um catálogo das superinterpretações no direito brasileiro, ou ainda no âmbito do Supremo Tribunal Federal – embora esse seja um desdobramento natural cujos primeiros passos já foram dados. De todo modo, parece importante materializar o argumento desde o início sustentado.
E, para tanto, nenhum exemplo poderia ser mais ilustrativo do que o polêmico julgamento do Habeas Corpus nº 126.292/SP, de relatoria do ministro Teori Zavascki, por meio do qual, em 17 de fevereiro de 2016, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, procedeu a um overruling, uma virada jurisprudencial, ao relativizar a garantia constitucional da presunção de inocência, revogando, assim, o precedente que vedava a execução antecipada da pena.
Como isso foi possível, considerando as disposições contidas na Constituição e no Código de Processo Penal? Para responder, é preciso atentarmos para o que diz textualmente a Constituição:
- “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, LVII, CR), ocasião em que se iniciará o efetivo cumprimento da pena; e
- “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei” (art. 5º, LXI, CR), hipóteses relativas às modalidades de prisão provisória.
O Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece: “Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decor-
rência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva” (art. 283, CP).
Acrescente-se que esse dispositivo legal foi incluído pelo legislador, em 2011, precisamente, para compatibilizar a legislação infraconstitucional à interpretação conferida ao texto constitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em 2009, a partir do julgamento do Habeas Corpus nº 84.078/MG, de relatoria do ministro Eros Grau.
Ocorre que a modificação do entendimento da Corte observou outros parâmetros. A posição majoritária apresentou uma série de fundamentos pragmáticos – de nítido viés metajurídico –, como, por exemplo, a legítima demanda da sociedade, estatísticas sobre a reversibilidade das decisões em grau de recurso, maior equilíbrio e funcionalidade do sistema de justiça, a redução da seletividade e o fim da impunidade.
Também se utilizou do equivocado argumento – já invocado no HC nº 85.886/RJ, de relatoria da ministra Ellen Gracie –de que “em país nenhum do mundo, depois de observado o duplo grau de jurisdição, a execução de uma condenação fica suspensa, aguardando referendo da Corte Suprema”, esquecendo-se de dizer que a Constituição de nenhum desses países traz a concepção de presunção de inocência em termos sequer semelhante à brasileira. A Constituição de 1988 é, ao menos formalmente, mais garantista e garantidora do que as europeias. E isso jamais poderia ser suscitado como um defeito.
Como se não fosse o suficiente, a decisão silenciou sobre o disposto no artigo 283 do Código de Processo Penal. Tudo indica que, ao denegarem o writ, os ministros se esqueceram de que a lei processual também garantia a presunção de inocência nos mesmos moldes da Constituição. Isso ensejou o ajuizamento de três ações declaratória de constitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, todas relatadas pelo ministro Marco Aurélio (ADCs nº 43, 44 e 54).
Na ADC nº 44, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a denúncia da superinterpretação pratica-