

Mauricio Stegemann Dieter
Política criminal atuarial
a criminologia do fim da história
2ª Edição
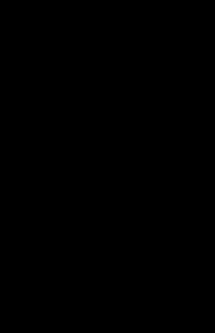
Copyright© Tirant lo Blanch Brasil
Editor Responsável: Aline Gostinski
Assistente Editorial: Izabela Eid
Capa e diagramação: Analu Brettas
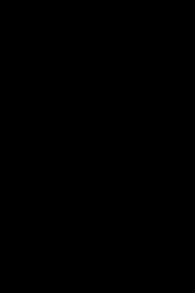
Atualização: Iara Cunha Passos
Imagem da capa: Milcho Pipin
Arte da capa: Mariane Roccelo
CONSELHO EDITORIAL CIENTÍFICO:
Eduardo FErrEr mac-GrEGor Poisot
Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Investigador do Instituto de Investigações
Jurídicas da UNAM - México
JuarEz tavarEs
Catedrático de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil luis lóPEz GuErra
Ex Magistrado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Catedrático de Direito Constitucional da Universidade Carlos III de Madrid - Espanha
owEn m. Fiss
Catedrático Emérito de Teoria de Direito da Universidade de Yale - EUA
tomás s. vivEs antón
Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência - Espanha
D565 Dieter, Mauricio Stegemann
Política criminal atuarial : a criminologia do fim da história [livro eletrônico] / Mauricio Stegemann Dieter; Prefácio Nilo Batista. - 2.ed. – São Paulo: Tirant lo Blanch, 2023.
1Kb; livro digital
ISBN: 978-65-5908-634-4.
1. Direito penal. 2. Política criminal atuarial. I. Título.
CDU: 343.9
Bibliotecária Elisabete Cândida da Silva CRB-8/6778
DOI: 10.53071/boo-2023-08-09-64d3eb82aeb26
É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art.184 e §§, Lei n° 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei n°9.610/98).
Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch.
Fone: 11 2894 7330 / Email: editoratirantbrasil@tirant.com / atendimento@tirant.com
tirant.com/br - editorial.tirant.com/br/
Impresso no Brasil / Printed in Brazil
Mauricio Stegemann Dieter
Política criminal atuarial
a criminologia do fim da história
2ª Edição
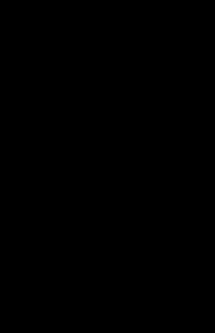
aPrEsEntação à sEGunda Edição
A segunda edição deste livro é inteiramente tributária à insistência de colegas professores e queridos alunos, que me convenceram sobre a necessidade de voltar ao texto diante da importância do tema e a relativa popularidade da obra, já que ainda é pouca e tímida a crítica criminológica ao uso de prognósticos atuariais de risco de reincidência na criminalização secundária.
Mas se essa iniciativa chegou a bom termo foi somente graças ao entusiasmo e à extraordinária contribuição da pesquisadora Iara Cunha Passos, responsável pela revisão das notas de rodapé e verificação de todas as referências eletrônicas, coleta de documentação adicional e atualização sobre as ferramentas atuariais em uso nos EUA e outros países – sendo, inclusive, por conta de seu aporte a necessidade de escrita do inédito capítulo 2.4.5, sobre o uso de ferramentas atuariais no espaço “pré-processual”.
Boa leitura.
PrEFácio
Este livro, que socializa o denso estudo doutoral de Mauricio Stegemann Dieter, desenvolvido sob a arguta orientação de Juarez Cirino dos Santos na Universidade Federal do Paraná, exprime antes de mais nada uma severa advertência sobre a autocolonização intelectual de setores políticos e acadêmicos brasileiros, que incorporam acriticamente toda e qualquer novidade teórica, como se o saber penalístico avançasse ao ritmo das bugigangas telemáticas que por vezes tornam obsoletos produtos recentemente lançados.
Uma crônica desses tempos e dessas práticas teria que deter-se muito particularmente sobre os riscos da incorporação ao discurso penalístico do conceito de “sociedade de riscos”.
Sabemos dos estragos, no campo da política criminal, causados por uma concepção de sociedade que, como frisou um de seus corifeus, afinal distribuiria igualitariamente os riscos da modernização e por isso faria “saltar pelos ares o esquema de classes”1. Nesta surpreendente sociedade subitamente sem classes porém repleta de riscos, a pena tem que dispor de funções preventivas, gerais e especiais, ou estaremos todos literalmente fritos; mais do que em qualquer outra sociedade, é preciso crer fervorosamente nas lendas da “tutela penal”. Os estragos na dogmática também são visíveis numa expansão sem precedentes das fronteiras da criminalização através de variados dispositivos que, de alguma forma, terminam por operar uma regressão no centro de gravidade do conceito jurídico-penal de perigo que o afasta do objeto periclitante e o aproxima da fonte do perigo. O mapa geral dos estragos político-criminais e dogmáticos da invasão do conceito de risco pode ser traçado a partir da obra de Prittwitz, que examina outros modelos teóricos de “sociedade de riscos” distintos do de Beck e esmiuça seus reflexos no debate penalístico2. Algum dia, quando nos recordarmos de que passamos mais de um século discutindo se o perigo existe como imbricação natural regular de dois estados físicos ou como conjectura probabilística, poderemos dar-nos conta de que talvez o melhor nome para “sociedade de riscos” fosse “sociedade de medos”.
Mauricio Stegemann Dieter, cuja tese foi escrita ao mesmo tempo em que, em nome de uma “adaptação de nossa legislação à sociedade de riscos”, produzia-
-se o pior projeto de Código Penal jamais redigido por brasileiros, revela como se deu a hegemonia do risco na execução penal, na segunda metade do século XX.
A quantidade de sofrimento punitivo a ser imposto ao condenado e a autoridade pública à qual caberia tal quantificação eram questões muito claras para a política criminal ilustrada. À primeira delas respondia enfática requisição de proporcionalidade: “é de interesse da sociedade que elas (as penas) sejam sempre proporcionais aos delitos”, afirmava o Amigo do Povo3. Passemos ao largo dos desafios criados pelo critério de referência dessa proporcionalidade, que poderia ser uma característica pessoal do condenado, como sua “sensibilidade”4 ou sua fortuna5. Descartados o talião (que a razão ilustrada desqualifica como mandamento e utiliza como limite do sofrimento punitivo imponível) e o homomorfismo penal (cujas raízes penitenciais não se coadunavam com o novo estilo de punir) é realmente difícil imaginar proporcionalidade entre fatos tão díspares quanto um delito e um castigo6.
De maior consistência desfrutava a unanimidade da segunda resposta. “Nos governos republicanos é da natureza da constituição que os juízes observem literalmente a lei”, preconizava Montesquieu7. “Só as leis – ouçamos Beccaria
podem decretar as penas contra o crime; esta autoridade só pode residir no legislador, que representa toda a sociedade unida por um contrato social”8. Como poderia um juiz, “que é parte da sociedade, infligir pena contra outro membro dela?”9. Muito cuidado com a interpretação das leis, que pode variar caprichosamente sob a influência “di una facile o malsana digestione”10...
A demanda burguesa por legalidade, por livrar-se do concurso frequentemente litigioso de direitos, jurisdições e privilégios que a aurora da modernidade herdara das relações jurídicas baixo-medievais, produziria no âmbito do direito privado um movimento metodológico que ficou conhecido como escola da Exegese. No âmbito penal, e como reação ao arbítrio judicial do regime velho, a consequência foi esta: a pena é dada pela lei, e ao juiz toca apenas a função de proclamá-la. O Código penal francês de 1791 cominava ao venefício a pena de
3 Marat, Jean-Paul, Plan de Legislation Criminelle, Paris, 1974, ed. A. Montaigne, p. 69.
4 Através de Bentham, esse debate chegaria a nosso Código Criminal de 1830; cf. Zaffaroni, Raúl et al., Direito Penal Brasileiro, Rio, 2003, ed. Revan, v. I, pp. 432.
5 “Não podem as penas pecuniárias ser proporcionais às fortunas?”, indagava Montesquieu, O Espirito das Leis, trad. F.H. Cardoso et al., S. Paulo, 1962, ed. Dif. Eur. Liv., v. 1º, p. 118 (Liv. VI, cap. XVIII).
6 O verbete peine, redigido por Jaucourt para a Encyclopedie, inclui “une juste proportion” em sua definição; mais adiante, assegura que “tudo aquilo que a lei chama de pena é efetivamente uma pena”; finalmente, frisa que “as leis criminais extraem cada pena da natureza particular do crime” e que “não se trata do capricho de legislador e sim da natureza da coisa” (Encyclopedie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, t. XII, pp. 246 ss).
7 Op. cit., p. 101 (Liv. VI, cap. III).
8 Dei Delitti e delle Pene, § III.
9 Idem, ibidem
10 Op. cit., § IV.
morte11; ao influxo dessas mesmas ideias, nosso código imperial oferecia ao juiz, para aplicar a pena do venefício, três graduações: morte, galés perpétuas ou prisão com trabalhos por vinte anos no mínimo12.
Se uma pena tarifada, mais ou menos rigidamente, pela própria lei se adaptava bem a um penalismo contratualista, era um desastre para as emergências cotidianas do controle das ilegalidades populares, e muito especialmente para o oscilante recrutamento de mão de obra do capitalismo industrial. A burguesia não tardaria a compreender que precisava de coerção penal para além da lei e para além do crime. Um personagem aristocrático de Sade, pelo qual se interessaram Adorno e Horkheimer, revela o que substituiria, na árvore do conhecimento que governa os negócios, o galho da teologia, podado pelas luzes:
“é pelo mais extremo terror que é preciso substituir as quimeras religiosas. Liberte-se o povo do terror a um inferno futuro, e ele se entregará em seguida, destruído o medo, a tudo. Em vez disso, substitua-se esse pavor quimérico por leis penais de uma severidade prodigiosa e que atinjam a ele (ao povo) apenas”13
Em 1834, a Inglaterra reforma a velha Lei dos Pobres elizabethana, de 1601, para adaptá-la às necessidades do capitalismo industrial: o estorvo a ser removido ali era o pobre apto para o trabalho que não estivesse trabalhando14. Sobre vadios e mendigos passa a incidir um olhar que neles surpreende o operário potencial, o trabalhador que a preguiça e os vícios afastaram da máquina.
Um ano depois da reforma inglesa, um dos pais fundadores da estatística está interessado em caracterizar a “tendência ao delito (penchant au crime)”, que seria, “dados homens situados em circunstâncias similares, a probabilidade maior ou menor de cometer um crime”15. Na trilha de Candolle, cujas Considerations haviam sido publicadas um lustro antes, Quetelet experimenta aquelas determinações que tanto interessarão ao positivismo criminológico: regiões geográficas, etnias, estações, clima, gênero, profissões, instrução, pobreza... Em favor do inventor do homem médio (homme moyen), frise-se algum ceticismo às vezes manifestado: “as causas que influem sobre os crimes são tão numerosas e distintas que fica quase impossível (qu’il devient presque impossible) atribuir a cada uma seu grau de importância”16.
11 Segunda Parte, tit. II, seção I, art. 12.
12 Art. 192.
13 Adorno, Theodor W. e Horkheimer, Max, Dialética do Esclarecimento, trad. G.A. Almeida, Rio, 1985, ed. Zahar, p. 86. O mesmo personagem assegura que os ricos não se oporiam e que lhes fosse imposta “a mais densa sombra da tirania, desde que sua realização recaia sobre os outros” (p. 87).
14 Cf. Engels, Friedrich, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, trad. José Paulo Netto, S. Paulo, 2008, ed. Boitempo, pp. 61, 314 e passim; também Geremek, Bronislaw, La Piedad y la Horca, trad. J.A. Matesanz, Madri, 1989, ed. Alianza, pp. 247 ss.
15 Quetelet, Adolphe, Sur l’homme et le développement de ses facultés, ou Essai de physique sociale, Paris, 1835, ed. Bachelier, t. 2º, p. 160.
16 Op. cit., p. 198.
Uma teoria e um dispositivo se ocupariam de legitimar e realizar a pena sem lei e sem crime de que tanto necessitava o disciplinamento da mão de obra industrial. A teoria foi a defesa social; o dispositivo seria a medida de segurança. Acompanhemos um personagem acadêmico comprometido com ambos. Adolphe Prins, alto funcionário do Ministério da Justiça, professor da Universidade de Bruxelas que seria presidente da União Internacional de Direito Penal (antecessora da AIDP) é não apenas um destacado mentor da primeira defesa social como também um pioneiro na formulação das medidas de segurança17.
Prins – que leu Quetelet mas desconfiava do homem médio18 – vai partir da “noção de risco profissional” que “nasceu no direito industrial em matéria de acidentes de trabalho”: “não se trata de estabelecer a culpa do patrão ou do operário”, mas tão só de “comprovar o acidente e a lei regula a indenização”19. Tomando do direito privado alemão o critério da responsabilidade pela causação, legitimar-se-ia a intervenção punitiva “mesmo quando o fato não fosse imputável moralmente” ao punido20. Prins saúda as primeiras expressões legislativas dessa tendência: o artigo 65 do código norueguês de 1902 (que permitia, reconhecido o réu como “particularmente perigoso”, permanecesse ele preso além do termo legalmente cominado “tanto tempo quanto fosse necessário”), uma lei inglesa de 1908 (que facultava acrescer à pena dos “habitual criminals”) de 5 a 10 anos de prisão) e o § 38 do anteprojeto do código penal austríaco de 1909 (que impunha a quem reincidisse dentro de 5 anos após o cumprimento da pena uma detenção suplementar de 3 a 10 anos). O fundamento comum dessas leis era o “estado perigoso permanente” do acusado21.
As medidas de segurança negarão rotundamente o princípio da legalidade graças à fraude das etiquetas: como a medida de segurança não é uma pena, e sim um “remédio” para o melhoramento do condenado-paciente, não há razão para não se aplicar o “remédio” só porque chegou à drogaria legal – à lei – após a “doença”...
Em outra obra22, Prins teve a oportunidade de tratar de mendigos e vadios. Definidas a mendicância (como “o fato de pedir esmola”) e a vadiagem (como “perambular sem domicílio e sem pedir ao trabalho meios de subsistência”), e
17 Cf. Bruno, Aníbal, Perigosidade Criminal e Medidas de Segurança, Rio, 1977, ed. Rio, p. 13. Sobre Prins, a esmerada apresentação bio-bibliográfica de Rodrigo Codino, tradutor de La Defensa Social y las Transformaciones del Derecho Penal, B. Aires, 2010, ed. Ediar.
18 Prins, Adolphe, La defensa social y las transformaciones del derecho, trad. F. Castejón, Madri, s/d, ed. Reus, pp. 18 ss. (há tradução mais recente, cf. nota 17).
19 Op. cit., p. 63.
20 Ibidem.
21 Op. cit., pp. 81-82.
22 Prins, Adolphe, Science Pénale et Droit Positif, Bruxelas, 1899, ed. Bruylant-Christophe, pp. 569-570.
anotado que não constituíam crimes no direito belga, Prins trata de informar que estão ambas vinculadas ao direito penal porque “uma legislação recente as trata como delitos” e também porque “a ciência moderna reconhece que há uma espécie de mendicância e de vadiagem que configura um estágio da criminalidade e mantém relação direta com ela”. Na busca dessa espécie, que distinguirá os “mendigos e vadios acidentais” dos “profissionais”, Prins identifica três grupos:
“a) aqueles que não têm a força para trabalhar;
b) aqueles que têm a força, não porém os meios para trabalhar;
c) aqueles que têm a força e os meios, não porém a vontade de trabalhar”23.
A síntese de Prins – “é contra os seres anti-sociais do terceiro grupo que a sociedade tem o direito e o dever de se defender”24 – fotografa com rara nitidez a funcionalidade da defesa social para a acumulação capitalista industrial. A invenção teórica da “periculosidade” e de seu implante subjetivo (o “estado perigoso”), que permitia a aplicação das medidas de segurança por uma trilha fundamentadora distinta da pena (dependente de culpabilidade) se adaptaria plasticamente a muitos sistemas penais autoritários.
Em 1939, o ministro da Justiça do Reich alemão fez uma palestra, em Roma, sobre a execução penal no direito nazista. Não surpreende que ele propusesse uma concepção combinatória da pena, que simultaneamente exerceria funções expiatórias e preventivas, na linha da defesa social. Afinal, todos os autoritarismos modernos se valem da concepção combinatória, porque é aquela na que mais se expande o raio da criminalização. É como o lobo e o cordeiro: se a pena seria dispensável pela prevenção especial, puna-se pela geral ou em nome da expiação, e vice-versa. Mas cabe realçar no discurso de Gürtner o seguinte:
“Ninguém sabe com segurança como se comportará no futuro outra pessoa. Somente Deus o sabe. Nós somos induzidos a deduzir do passado de um indivíduo seu futuro. O passado significa neste caso: sua ascendência, sua herança física e moral, a família, a educação, o ambiente e por fim a própria conduta”25.
A história que Mauricio Stegemann Dieter nos conta, no presente trabalho, representa a culminação histórica dessas etapas na execução penal atuarial estadunidense que se desenvolverá em torno da promulgação, em 1987, das U.S Sentencing Guidelines, que sinalizava um esgotamento do modelo de sentenças indeterminadas regidas pela parole. Essa lei observava e prestigiava experiências estaduais da década anterior.
Estabelecer a quantidade de sofrimento punitivo a ser ministrado ao condenado a partir de “fatores de risco” estatisticamente prováveis exprime sem dúvida a mais cabal negação do direito penal do fato e da culpabilidade. A pena é dimensionada em nome não de algo que o condenado fez nem mesmo – o que já seria monstruoso – de algo que ele é, e sim em nome de algo que talvez ele venha a fazer. Finalmente o estereótipo criminal, que rege na subcultura policial a seletividade da criminalização primária, ganha vestes metodologicamente requintadas e, insatisfeito por atuar apenas no input do sistema penal, vai reinar também na saída.
O livro de Mauricio Stegemann Dieter é uma advertência muito oportuna, para além de seu indiscutível merecimento acadêmico. Planejou-se uma reforma de nosso código penal sob inspiração da “sociedade de riscos”: levada a sério, a execução penal teria que ser atuarial. O espírito atuarial erra, à noite, pela academia: um sociólogo não disse outro dia que nosso ponto ótimo ocorreria quando tivéssemos 800.000 presos? Estamos quase transpondo o Jordão, faltam só pouco mais de 200.000...
Em suma, o leitor tem em mãos um livro indispensável, que ajudará os operadores democráticos e progressistas do sistema penal a se unirem no repúdio a uma tendência que consolida o que houve de mais arbitrário, cínico e desumano na política criminal ocidental moderna.
Arpoador, 23 de março de 2013 nilo batista26
introdução
A crítica criminológica do século XX demonstrou que a cada modo de produção correspondem formas de punição adequadas para sua reprodução e desenvolvimento, e que no Estado capitalista isto é realizado fundamentalmente mediante cominação, aplicação e execução de pena privativa de liberdade para retribuição equivalente do crime, conforme uma medida de tempo.1
Constatou também que às determinações estruturais que garantem a prisão no centro do arquipélago punitivo do Estado capitalista correspondem discursos2 apologéticos, mistificadores ou cínicos – enfim, ideológicos3 – que racionalizam as práticas punitivas oficiais e extraoficiais, legitimando a repressão apesar de suas contradições criminogênicas,4 ao mesmo tempo em que continuamente as redefinem nos limites dessas determinações.5 A idealizada história do pensamento criminológico é, assim, essencialmente a articulação desses discursos no eixo da diacronia.
Analisando-os, David GARLAND denominou esses discursos de projetos para destacar sua natureza instrumental e distinguiu-os em governamentais
1 Critério absolutamente conveniente neste horizonte porque simultaneamente ligado à determinação do valor do trabalho e da mercadoria, como explica em detalhes PACHUKANIS, Evgeny Bronislanovich. A Teoria Geral do Direito e o Marxismo, p. 107-139 e 183-202. Para uma introdução ao tema imprescindível o texto de RUSCHE, Georg e KIRCHHEIMER, Otto. Punishment and Social Structure, especialmente sua síntese inicial, p. 3-7.
2 A categoria discurso aqui é definida como construção (“ensemble”) diferencial de uma cadeia de significantes na qual o significado é constantemente renegociado a partir de um centro que é paradoxalmente estruturante, mas não estruturado. Todavia, em oposição à tradição formalista, subjetivista e transcendental impregnada nesta definição – caminho pela qual se invade a problemática universal e “tudo vira discurso” – atenta-se para a necessidade de sempre aterrar as formações discursivas ao contexto histórico e práticas que legitimam, sendo especialmente útil neste propósito a célebre abordagem alternativa foucaultiana, que escapa ao estruturalismo pedestre. Sobre o tema ver, em ordem, TORFING, Jacob. New Theories of Discourse, p. 85-90; LACLAU, Ernesto. Discourse, p. 431-437; DERRIDA, Jacques. Writing and Difference, p. 352-366; BOYNE, Roy. Foucault and Derrida, p. 90-122; e FOUCAULT, Michel. Politics and the Study of Discourse, p. 54-63.
3 A palavra ideologia é aqui – e durante todo o texto – utilizada no sentido estrito e original das primeiras obras conjuntas de MARX e ENGELS, ou seja, toda e qualquer representação ideal prenhe de interesses materiais que não se reconhece como produto de condições sócio-históricas determinadas e que, por isso, necessariamente expressa uma falsa consciência da realidade. Falsa consciência, todavia, não é o mesmo que consciência falsa ou errada: a ideologia é, conforme a feliz metáfora dos autores, a inversão da imagem na câmera escura, não a negação da imagem. Logo, não obstante falsa, é uma consciência que opera historicamente e que, precisamente por sua falsidade, permite sua autolegitimação contra toda crítica interna. Não se trabalha, portanto, com o conceito de ideologia no sentido de concepção de mundo, ou (o que é a mesma coisa) sistema de valores, pressuposto da famosa inversão entre ideologia e ciência. Para detalhes ver MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A Sagrada Família, p. 21-26, 34-67 e 95-163 e MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã, p. 25-117.
4 Isto é, apesar de seu fracasso, consoante a lição eternizada no segundo e mais específico capítulo sobre a origem da prisão em FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir, p. 299-342.
5 Pois não é possível reduzir um discurso dessa natureza, por mais rudimentar que seja, à condição de simples cortina de fumaça para implementação de interesses hegemônicos. Afinal, a dialética entre a base material que põe determinações aos discursos e sua capacidade de convencimento que é constitutiva da realidade implica simultaneamente mudanças nas estratégias de controle social, que se rearticulam nos limites das determinações antes postas. Excelente demonstração no trabalho de CIRINO DOS SANTOS, Juarez. A Criminologia da Repressão, p. 29-112. Nesse sentido, os métodos punitivos não são derivações simples de regras de direito ou meros indicadores de estruturas sociais, mas técnicas que estão envolvidas em outros processos de poder. Esse é o motivo pelo qual, segundo FOUCAULT, é preciso considerar toda prática penal como um capítulo próprio da anatomia política do poder, ao invés de supô-la como simples consequência de teorias jurídicas. Lição completa em FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir, p. 32-38.
e lombrosianos. Os projetos governamentais, para ele, estariam primariamente comprometidos com a legitimação científica – especialmente jurídica – de práticas punitivas oficiais definidas como necessárias pelo Estado, estejam elas prestes a entrar em ação ou já em curso, cabendo-lhes racionalizar a repressão em atenção aos propósitos políticos imediatos, com amplo predomínio do interesse pragmático. Os projetos lombrosianos, por sua vez, estariam antes dedicados à etiologia do crime e do criminoso para, de início, propor uma teoria explicativa de suas determinações e, só depois, propor (ou negociar) medidas preventivas junto ao poder público, sobressaindo-se aqui o interesse teórico.6
À parte problemas nessa distinção,7 em um momento histórico no qual a permanente inter e transdisciplinariedade no campo das ciências criminais é vista simultaneamente como virtude e defeito,8 é possível destacar a importância da dicotomia garlandiana remetendo-a, respectivamente, aos mais familiares significantes Política Criminal e Criminologia.
Assim, a Política Criminal – tradicionalmente definida como programa que estabelece as condutas que devem ser consideradas crimes e as políticas públicas para repressão e prevenção da criminalidade e controle de suas consequências9 – aumenta sua densidade semântica ao incorporar o significado contido na definição de projeto governamental, ao passo que a Criminologia – ou ciência que busca identificar as determinações do crime – recepciona o conteúdo explícito de projeto lombrosiano.10 É a partir dessa ressignificação que essas categorias serão tratadas daqui em diante.
6 Apesar da diferença e relativo predomínio do segundo sobre o primeiro, haveria diálogo permanente entre ambos: tanto o projeto governamental pode buscar legitimidade em abordagens lombrosianas (desenvolvidas em universidades, institutos, centros de estudo etc.) quanto a práxis do sistema de justiça criminal pode ser o ponto de partida de uma proposta teórica específica, como explica GARLAND, David. Of Crimes and Criminals, p. 11-18.
7 Os problemas fundamentais da distinção proposta por GARLAND são os seguintes: primeiro, não há teoria que não esteja vinculada a uma prática, nem prática social que não pressuponha uma teoria, o que tornaria a diferenciação relativamente inútil; segundo, o compromisso fundamental de racionalizar os processos de criminalização reduz o ponto de partida de cada projeto a uma mera questão de conveniência histórica, insuficiente como para fundamentar uma dicotomia real; terceiro, e último, a troca da palavra discurso por projeto proposta pelo autor não parece ultrapassar o significado do primeiro termo nos limites da definição foucaultiana, sendo, portanto, e em última análise, desnecessária.
8 Perspectiva crítica em GARLAND, David. Disciplining Criminology?, p. 114-123. Propondo, à luz dessa inevitável confusão, uma nova “ciência integrada do Direito Penal”, especialmente à luz da revolução paradigmática produzida pela criminologia crítica – e assim não se confundindo, por óbvio, com a proposta de Franz von LISZT –, ver BARATTA, Alessandro. Tiene Futuro la Criminología Crítica?, p. 139-151.
9 Antes limitados aos desafios da retribuição e, quando muito, da prevenção, lidar com as consequências da criminalidade ainda é uma novidade nos programas de Política Criminal de países periféricos, notadamente daqueles que não incorporaram as conclusões dos estudos vitimológicos em suas propostas, não raro para priorizar a função simbólica da pena, como esclarece BARATTA, Alessandro. Política Criminal, p. 152.
10 À luz dessa redefinição e sob lente crítica, fica fácil perceber que a dialogicidade entre as duas antes apontada por GARLAND é – muito mais do que uma mera particularidade – evidência do compromisso original da Política Criminal e da Criminologia com a promoção ou não afetação dos interesses sistêmicos de Mercado, realizando sua principal função histórica de fundamentação formal do sistema de justiça criminal para ocultação desta adequação de sentido, justificando racionalmente o controle social das classes dominadas mediante gestão diferencial da criminalidade, como denuncia vigorosamente CIRINO DOS SANTOS, Juarez. A Criminologia Radical, p. 82-85.
Como evidencia o título, o texto prioriza a análise da Política Criminal, um campo de estudo definível como primo pobre da Criminologia11 porque nitidamente deficitário em termos de quantidade e qualidade de pesquisa científica, desde o momento em que são distinguíveis como disciplinas próprias.12 Os motivos desse desnivelamento, aliás, são relativamente simples: “outsider” ao criativo ambiente universitário, a Política Criminal encontra dificuldade para se desenvolver no espaço burocrático, lugar de onde se coordenam as políticas públicas de segurança e onde vigem interesses pouco afins à constante modificação requerida pela coerência científica.13 Por isso, em contraste com o caleidoscópio de teorias etiológicas da Criminologia tradicional e das novas hipóteses de investigação produzidas pela ruptura epistemológica do “labeling approach” na Criminologia Crítica, o campo político-criminal permaneceu em relativamente estável zona cinzenta, refém do senso comum teórico, de máximas próprias do conhecimento vulgar e da exploração rasteira e oportunista da classe política.
Não estranha, portanto, que às vésperas do séc. XXI os teóricos se mostrassem especialmente desanimados ao prognosticar o futuro da Política Criminal. O consenso de que os erros do passado deveriam servir de lição para o futuro esbarrava na falta de mínimo acordo sobre o significado das diferentes teorias já testadas e suas consequências, a indicar a provável repetição dessas falhas ou, simplesmente, mais do mesmo (“more of the same”).14 Das trincheiras das estratégias para prevenção e repressão da criminalidade, enfim, a notícia era quase sempre a mesma: “Im Westen nichts Neues”.15
11 Expressão que remete ao famoso quadro da década de 80 da televisão brasileira “Primo Rico e Primo Pobre”, protagonizado por Paulo Gracindo (“Primo Rico”) e Brandão Filho (“Primo Pobre”) e exibido no programa “Balança, mas não cai”, da Rede Globo. O quadro explorava principalmente a cínica mesquinhez do primo rico, que desdenhava dos pedidos para satisfação de necessidades vitais do primo pobre, justificando a falta de ajuda em função de gastos absolutamente supérfluos.
12 O que acontece no horizonte do paradigma científico positivista, especialmente nos primeiros decênios do século XX, quando a criminologia positivista se fixou como teoria etiológica do crime e como teoria tecnológica da política criminal, constituindo, em todo caso, um modelo integrado de Direito Penal, como explica BARATTA, Alessandro. Nuevas Reflexiones sobre el modelo integrado da las Ciencias Penales, la Política Criminal y el Pacto Social, p. 168.
13 Para uma ideia de quão lacônico é o debate acadêmico sobre Política Criminal no Brasil – ao menos no que se refere às Faculdades locais – basta nada mais constatar que a maioria dos programas de Pós-graduação em Direito Penal nem sequer oferecem a disciplina e que a literatura técnica disponível para este fim é, para dizer pouco, sofrível. Rara exceção, no que se refere à oferta da matéria em cursos de nível superior, é a cadeira ministrada pelo Prof. Dr. Nilo Batista na Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
14 A crítica, em SCHEERER, Sebastian. Three Trends into the New Millennium, p. 240-243, parece seguir no mesmo sentido da conhecida e irônica observação de MARX sobre a paródia da restauração imperialista promovida pelo sobrinho (igualmen- te) golpista de Napoleão Bonaparte. À semelhança dos grandes personagens e fatos históricos, que aconteceriam duas vezes (a primeira como tragédia, a segunda como farsa), a Política Criminal teria vocação para reciclar velhas – e terríveis – práticas punitivas em novos e falsificados disfarces, mais ou menos elaborados. O famoso ensaio e seu ainda mais famoso parágrafo introdutório em MARX, Karl. O 18 de Brumário de Luís Bonaparte, p. 25-154.
15 Referência explícita ao livro do sobrevivente da Primeira Guerra Mundial Erich Paul Remark – sob pseudônimo de Erich Maria REMARQUE – que serviu de base ao filme Nada de novo no front (All Quiet on the Western Front), dirigido por Lewis MILESTONE. A trágica história do jovem Paul Bäumer ilustra bem o contraste entre a falta de lógica interna inerente à dinâmica da violência com a plena racionalização de sua existência em função de interesses estruturais. Ilustra, também, a frustração de sucessivas investidas para tentar resolver uma brutal guerra de trincheiras, na qual cada novo esforço “over the top” resulta em mais e mais vítimas, sem que a situação total mude decisivamente.
Na verdade, a desilusão quanto à capacidade estatal de evitar ou compensar o crime sem a violação sistemática dos direitos humanos seria apenas um aspecto de uma desconfiança mais geral em relação ao próprio Estado, promotor de contradições incompatíveis com a justificação racional de sua existência – ao menos nos limites da proposta liberal clássica. Em crise de legitimidade, fato é que os governos ocidentais são hoje obrigados a enfrentar novos desafios – dos quais o envelhecimento da população, os movimentos migratórios, o esgotamento de recursos naturais e a reorganização geopolítica em torno de economias emergentes são exemplos de magnitude – sem terem antes resolvido os problemas herdados desde o fim do séc. XIX.
Diante desse panorama sombrio, três eram as tendências mais visíveis no que se refere à Política Criminal contemporânea: (a) o populismo, (b) o apelo à justiça global e (c) o gerencialismo (“managerialism”).16
Entre elas, uma análise dos mais recentes trabalhos nas ciências criminais – sociais e normativas – deixa pouca dúvida de que a mais expressiva delas é a última, desenvolvida sobre o modelo econômico de gestão do risco (“risk management”), promovida pelo princípio da eficiência e instrumentalizada pela lógica atuarial.17 Suporta tal certeza a constatação de que a aplicação direta de métodos para aferição do perfil de risco individual18 no sistema de justiça criminal estadunidense cresceu substancialmente desde o quarto final do século XX, invadindo setores muito além do campo da Execução Penal no qual se originou. Sem dar mostras de esgotamento, os principais pesquisadores do tema na atualidade concordam que sua influência sobre os processos oficiais de criminalização no século
16 SCHEERER, Sebastian. Three Trends into the New Millennium, p. 243-248. Ressalve-se, porém, que entendê-las como tendências predominantes não significa afirmá-las como novidades ou perspectivas incontroversas. Assim, por exemplo, o apelo a um sistema de justiça criminal internacional para fatos graves – como genocídio, escravidão, terrorismo etc. – esteve em pauta desde o final da Primeira Guerra Mundial, embora só alcançasse um maior grau de legitimidade após a Segunda e enfrenta, desde então, enormes desafios para se consolidar diante do permanente conflito com a jurisdição dos Estados nacionais. Da mesma forma, a categoria do populismo que remete ao início do século XX é ainda hoje reivindicada pelas posições mais atrasadas e policialescas, sem que graves inconsistências teóricas em sua definição sejam resolvidas. Em detalhes ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito Penal Brasileiro, p. 324-341 e 462. Especificamente, no que se refere ao populismo, vide a crítica ao uso do termo para desclassificar a luta dos trabalhadores, o que requer cuidado em seu uso. Logo, especifica-se desde já que por populismo define-se o apelo à retórica do medo – notadamente as fundadas nas célebres falácias das consequências adversas – para determinar a orientação de políticas públicas de segurança, especialmente em direção ao seu recrudescimento, sendo assim um discurso mais afim aos setores políticos conservadores e extremamente útil para a grande mídia em BATISTA, Nilo. Sobre el filo de la navaja. Mais sobre a cultura do medo da qual se alimenta o populismo que aqui se define em PASTANA, Débora Regina. Cultura do Medo, p.101-110, e GLASSNER, Barry. Cultura do Medo, p. 193. Sobre as falácias mais comuns ao debate pseudocientífico vide SAGAN, Carl. O Mundo Assombrado pelos Demônios, p. 210-215.
17 A expressão lógica atuarial remete à adoção sistemática do cálculo atuarial como critério de racionalidade de uma ação, definindo-se como tal a ponderação matemática de dados – normalmente inferidos a partir de amostragens – para determinar a probabilidade de fatos futuros concretos.
18 Importante esclarecer desde já que risco é sempre coletivo, porque sua existência depende dos dados de todo um grupo social. Isso não significa, por outro lado, que impossível o individualizar: cada pessoa pode ser diferenciada porque apresenta um nível de risco diferente dentro do risco total. Essa adequação é o que compõe o perfil de risco de cada um e é neste sentido que a expressão “risco individual” será utilizada. Ver EWALD, François. Insurance and Risk, p. 202-204.
XXI será ainda maior, consagrando-se a lógica atuarial como critério reitor na definição de estratégias preventivas para controle da criminalidade.19
Entre os motivos que determinam o protagonismo dessa tendência – outros serão discutidos adiante – dois saltam aos olhos.
Primeiro, sua absoluta aderência ao mais amplo processo de administrativização das práticas punitivas, reflexo direto da reorientação da atividade estatal em direção ao ideal de ação eficiente, devidamente internalizada como diretriz fundamental da administração pública pela agenda neoliberal.20 Integra-se perfeitamente, portanto, ao compromisso oficial do sistema de controle social com o eficientismo, caracterizado pela (a) prévia e precisa elucidação de seus objetivos, não raro via fixação de metas, (b) controle da produção (no caso, de criminosos), (c) redução de custos, (d) otimização de processos, (e) especialização de setores e (f) coordenação integrada de esforços.21
Segundo, a insuspeita capacidade da retórica do risco – responsável pela lubrificação ideológica de suas engrenagens – de congregar tanto a linha populista – que trabalha a partir da dimensão simbólica e cuja base de legitimidade é o senso comum midiático – quanto internacional – com a qual comunga o ideal de prevenção dorisco (global).22 Exatamente porque não é exclusivista e permite a coexistência periférica desses dois outros movimentos, o gerencialismo pode liderá-los, fazendo com que dividam entre si as explicações para a criminalidade excêntrica e os eventuais déficits de legitimidade do aparelho punitivo, o que diminui seu ônus argumentativo em caso de fracasso na realização de suas promessas (em todo caso, irrealizáveis).23
O referente teórico do presente trabalho se situa dentro dessa complexa marcha de colonização do sistema de justiça criminal pelo gerencialismo, que
19 Entre eles, FEELEY, Malcolm, e SIMON, Jonathan. Actuarial Justice, p. 173, e HARCOURT, Bernard E. Against prediction, p. 16.
20 Processo complexo, que introduz na administração pública valores da lógica privada de Mercado. No Brasil remete inevitavelmente à Emenda Constitucional nº 19 de 04/06/1998, que insere o princípio da eficiência da administração pública no artigo 37 da Constituição da República de 1988. Sobre o tema, naquela que é uma das melhores sínteses sobre a relação entre Direito e a nova diretriz gerencial da eficiência, ver MARCELLINO JÚNIOR, Julio Cesar. Princípio Constitucional da Eficiência Administrativa, p. 179-254.
21 CHRISTIE, Nils. Crime Control as Industry, p. 172.
22 Percebe-se o peso particular deste discurso na medida em que os medos globais – epidemias, AIDS, câncer, desastres naturais, revoluções, crises econômicas etc. – são apresentados e discutidos fundamentalmente a partir da noção de risco, fato que ultrapassa culturas muito distintas e sinaliza, com isso, a existência de um imperialismo da probabilidade, conforme provocativa definição de HACKING, Ian. The Taming of Chance, p. 4-5.
23 A convergência entre as tendências populista e internacional é nítida nas mais alienadas propostas para edificação de um próprio Direito Penal do risco, sob pretexto de adequação do sistema penal às “atuais necessidades de proteção”. De um lado, pela linha do populismo, inventa-se uma nova e terrível criminalidade (ambiental, econômica, de drogas etc.) cuja autoria normalmente é atribuída a entidades fictícias (pessoas jurídicas) ou um mítico crime organizado, tão poderoso e bem estruturado que a pesquisa criminológica dos últimos trinta anos ainda não foi capaz de encontrá-lo – exceto, talvez, no discurso de alguns agentes da repressão. De outro lado, na linha internacional, estas ameaças se caracterizam por escapar dos limites da territorialidade nacional em sua gênese e consequências, e somando-se a outras (especialmente o terrorismo) permitem a interferência da política externa sobre os sistemas de justiça criminal nacionais. O resultado final é, e não poderia ser diferente, a funcionalização do Direito Penal como política simbólica. Síntese em ALBRECHT, Peter-Alexis. Criminologia, p. 103-112.
vai progressivamente assumindo a racionalidade formal das políticas públicas de segurança.24 Processo que foi, sem aparente exagero, descrito como revolução silenciosa ou ruptura paradigmática do moderno sistema de justiça criminal: trata-se, propriamente, da Política Criminal Atuarial, expressão que, para todos os efeitos, é sinônimo do que já foi definido em outros textos como Justiça Atuarial (“Actuarial Justice”).25
Em rápida síntese, entende-se por Política Criminal Atuarial o uso preferencial da lógica atuarial na fundamentação teórica e prática dos processos de criminalização secundária26 para fins de controle de grupos sociais considerados de alto risco ou perigosos mediante incapacitação seletiva de seus membros. O objetivo do novo modelo é gerenciar grupos, não punir indivíduos: sua finalidade não é combater o crime – embora saiba se valer dos rótulos populistas, quando necessário – mas identificar, classificar e administrar segmentos sociais indesejáveis na ordem social da maneira mais fluida possível.27
Considerado um fenômeno nebuloso e ainda em desenvolvimento, sua manifestação mais visível consiste no uso de prognósticos de risco elaborados a partir de estatísticas criminais relativas a um grupo social para determinar critérios de justiça aplicáveis a alguém identificado como seu integrante, seja na condição de suspeito, acusado ou condenado.28
O processo de mensuração do
24 Trabalha-se aqui fundamentalmente com a categoria de racionalidade em Max WEBER, que significa o exercício de adequação lógica ou teleológica a uma atitude intelectual-teórica ou prático-ética. Em outras palavras, racionalidade é aquilo que orienta a ação social em relação a determinados fins, estabilizando-a em função de um norte programático, o que exclui – tanto quanto possível – a influência do singular, isto é, da subjetividade em sentido estrito. Por isso, na gramática da sociologia weberiana racionalidade é essencialmente racionalidade objetiva, isto é, aquela que pode ser submetida ao exame técnico-comparativo entre meios e fins. Não interessam nem mesmo os processos subjetivos de internalização da racionalidade, mas apenas a tradução racionalizada de sua expressão, ainda que esta se destine a ocultar as determinações reais – conscientes ou inconscientes – da ação. Neste ponto é preciso distinguir ainda entre racionalidade material e formal. A primeira se refere às infinitas lógicas não sistêmicas de avaliação de uma ação, que por sua complexidade são normalmente compreendidas no espaço da sociedade civil, demarcado pelo predomínio do “singular-particular”. A segunda corresponde a um padrão universal e sistêmico de avaliação, e por isso em regra identificado nos espaços menos caóticos – ou mais técnicos – do mercado e do Estado, onde haveria preponderância do “particular-universal”. A estabilidade da racionalidade formal justifica, em face da imprevisibilidade relativa da racionalidade material, o maior interesse do autor. Melhor síntese em WEBER, Max. Richtungen und Stufen religiöser Weltablehnung, p. 442.
25 Sendo esta expressão tornada célebre por FEELEY, Malcolm e SIMON, Jonathan. Actuarial Justice, p. 173-201. Também existem referências a Cárcere Atuarial, como em DE GIORGI, Alessandro. A miséria governada através do sistema penal, p. 93. A opção por Política Criminal Atuarial se justifica para aproveitar o significado de Política Criminal à luz da redefinição antes proposta, que incorpora integralmente o conceito de projeto governamental proposto por David GARLAND, sublinhando a prioridade pragmática.
26 Criminalização primária é ato ou efeito de criar uma lei penal, isto é, de uma norma que defina hipóteses de conduta com pena cominada ou estabeleça critérios para imputação de fatos típicos. Criminalização secundária, por sua vez, descreve o processo de seleção de um indivíduo concreto pelo sistema de justiça criminal em função da possível realização ou participação em crimes. Normalmente, este processo se inicia com a investigação policial, seguindo-se a submissão às agências judiciais de controle e, na pior das hipóteses, aplicação e execução de pena, cuja máxima expressão é, no Brasil, a privação da liberdade ambulatorial cumprida em penitenciárias. Descrição pormenorizada em ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito Penal Brasileiro, p. 43.
27 FEELEY, Malcolm e SIMON, Jonathan. Actuarial Justice, p. 173.
28 Diz-se nebuloso porque, como visto, não se reduz a um conjunto determinado de técnicas, nem se limite a uma teoria específica. Sua opacidade, aliás, é tributária ao fato de constituir uma tendência contemporânea da Política Criminal, o que dificulta tremendamente sua análise devido à proximidade histórica do objeto. Mas vale destacar que sua natureza relativamente amorfa não deixa de ser favorável à sua expansão, tornando-o menos suscetível de crítica. No mesmo sentido a observação de FEELEY, Malcolm e SIMON, Jonathan. Actuarial Justice, p. 174.
risco de um criminoso tem por núcleo a atribuição de um valor numérico às suas diferentes características individuais e sociais para depois comparar essa informação com os dados de diferentes sujeitos já criminalizados, com o objetivo de ordená-los dentro desse padrão e decidir o que fazer com ele em função de sua posição relativa.29
Política Criminal Atuarial envolve, portanto, diferentes discursos e técnicas em função de um só objetivo. A retórica do risco legitima o uso de instrumentos de cálculo atuarial para reorientação do sistema de justiça criminal, cujo fim imediato é o controle social de coletivos sociais, não de pessoas concretas.30
Evidentemente, na medida em que se contrapõe aos postulados clássicos que sustentam a Política Criminal do Estado Democrático de Direito, essa redefinição tem profundas implicações sobre o Direito Penal e a Criminologia.
Por um lado, no que se refere ao Direito Penal, a reestruturação da criminalização primária e secundária por ferramentas de avaliação do risco (“risk assessment tools”) reclama a subordinação de princípios e regras tributários à razão iluminista às diretrizes da lógica atuarial, não raro ao ponto de simplesmente negar a legitimidade do ordenamento jurídico, considerado indolente ou inapto para lidar com as atuais questões de segurança pública. As leis são vistas, portanto, como empecilhos à necessária automatização das práticas punitivas, que agora se reorganizam em torno da mais simples pretensão de continência do risco. A securitização do problema,31 assim operada, materializa por vias estritamente racionais o desvario positivista, esvaziando boa parte do conteúdo moral da dupla crime e castigo. Isto, contudo, ainda não é suficiente. Requer-se também o compromisso cego dos agentes da justiça criminal, dos quais se busca retirar toda a liberdade de ação para descriminalizar: em termos ideais, a repressão deve funcionar independentemente de quem esteja a ocupar tais cargos, ou seja, de maneira absolutamente impessoal. Em síntese, a infiltração do gerencialismo na justiça penal significa, simultaneamente, o perdimento definitivo das limitações de fundamento democrático enraizadas na tradição liberal-burguesa, a desumanização do ritual punitivo e a sacralização da razão cínico-gerencial no espaço público.32 Lamentavelmente, pouca resistência teórica é oferecida contra
29 CHAMPION, Dean J. Measuring Offender Risk, p. 2.
30 Vide FEELEY, Malcolm e SIMON, Jonathan. The new penology, p. 434-435, e FEELEY, Malcolm e SIMON, Jonathan. Actuarial Justice, p. 173-174.
31 Em inglês a palavra “Insurance” serve tanto para descrever os produtos da “indústria do seguro” quanto para se referir ao processo mais complexo de securitização, definido como a tecnologia do risco, na explicação de EWALD, François. Insurance and Risk, p. 198 e 206-208.
32 Um movimento conforme o processo de racionalização que constitui o referencial teórico de WEBER e descreve essencialmente o desenvolvimento da racionalidade formal – de natureza técnica – e sua instilação – não raro, conflituosa – por todos os campos da vida social, com o propósito de reduzir progressivamente o campo da racionalidade material com vistas à dominação ou hegemonia. Uma vez que o desenvolvimento da racionalidade técnica coincide, consoante a narrativa weberiana, com a evolução do modo de produção capitalista, a revolução industrial eleva à máxima potência o processo de redução do
