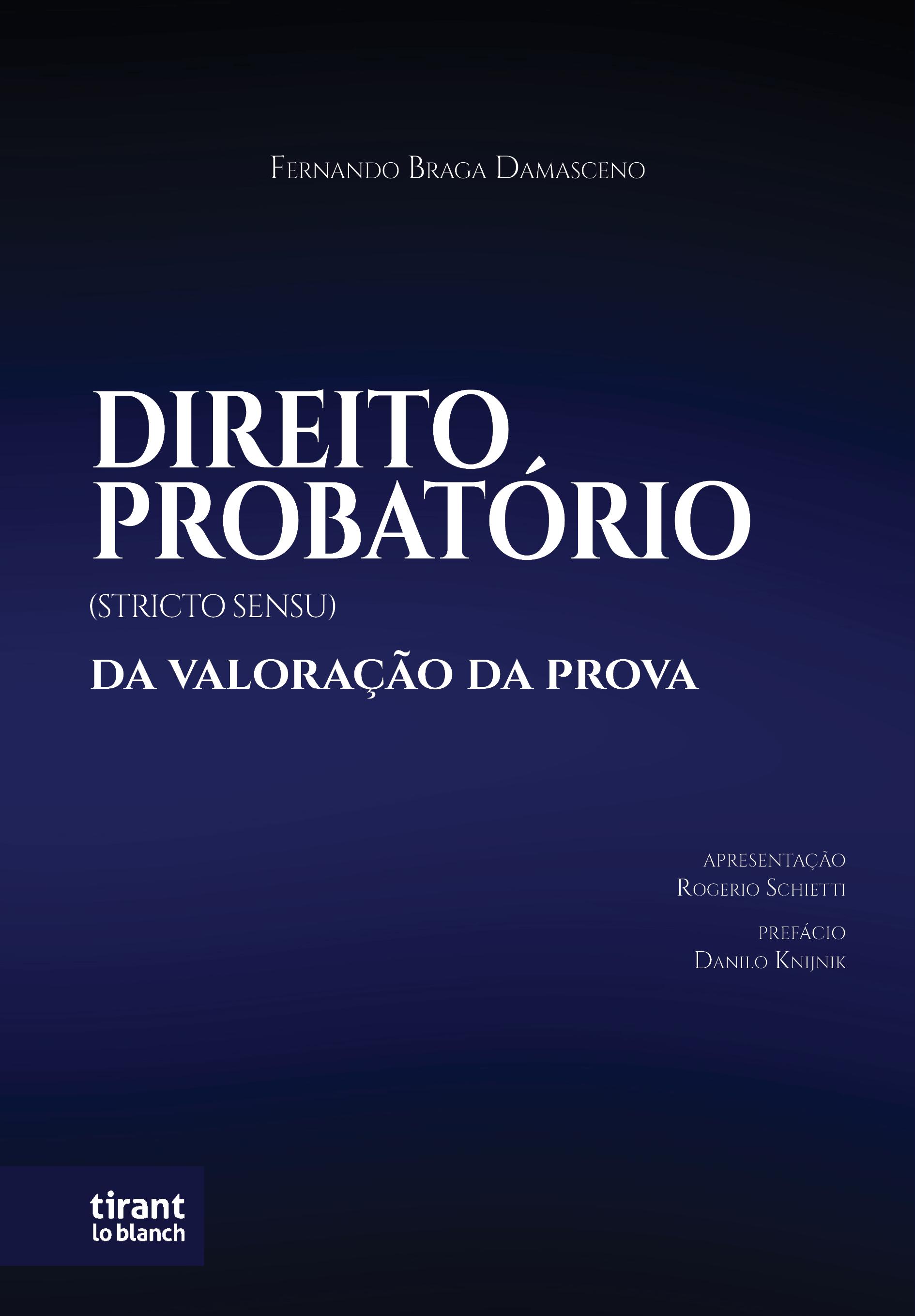 Fernando Braga Damasceno
Fernando Braga Damasceno
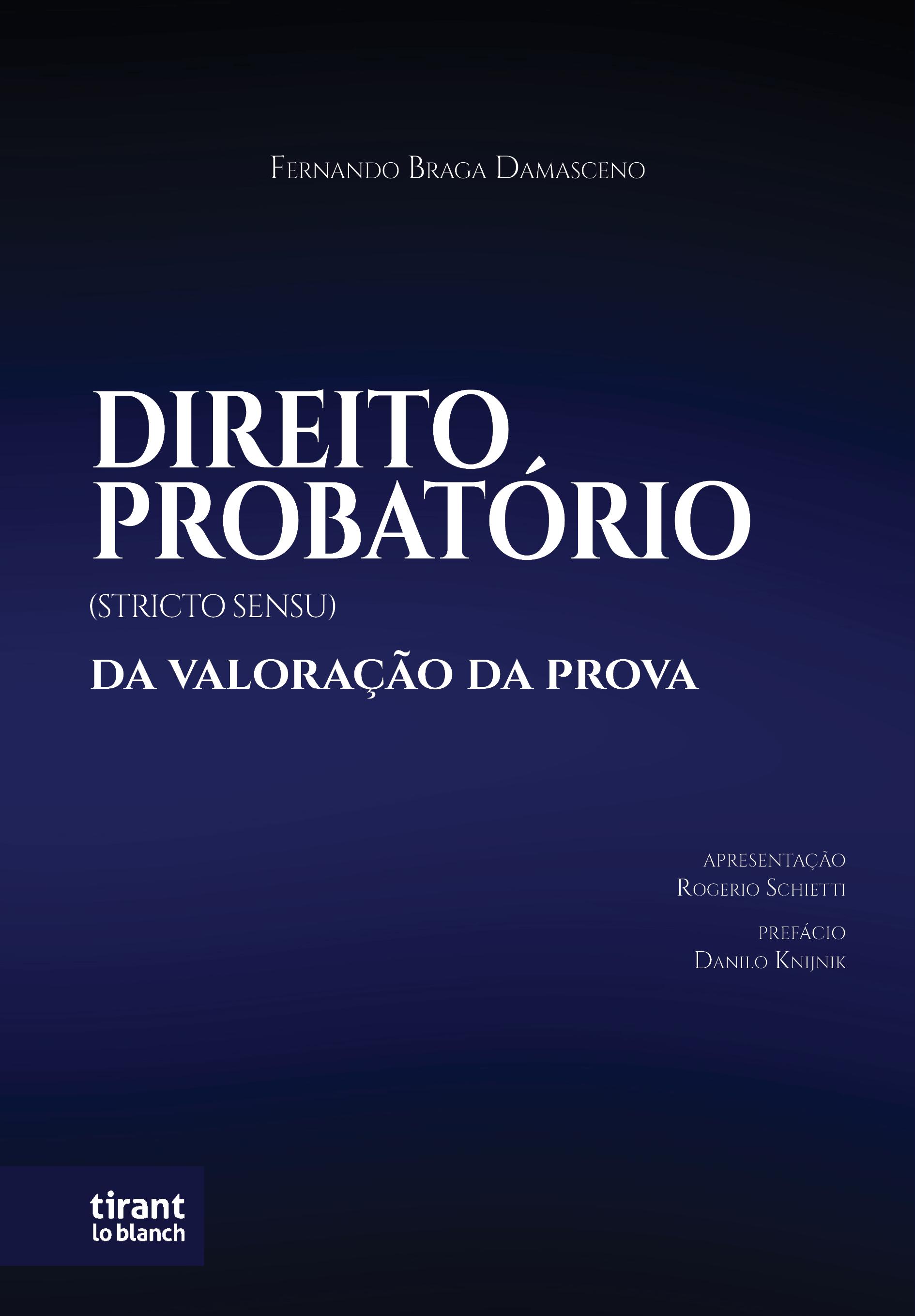 Fernando Braga Damasceno
Fernando Braga Damasceno
Direito Probatório (Stricto

Sensu)
da valoração da prova
Copyright© Tirant lo Blanch Brasil
Editor Responsável: Aline Gostinski
Assistente Editorial: Izabela Eid
Diagramação e Capa: Analu Brettas
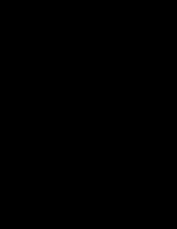
CONSELHO EDITORIAL CIENTÍFICO:
Eduardo FErrEr Mac-GrEGor Poisot
Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Investigador do Instituto de Investigações Jurídicas da UNAM - México
JuarEz tavarEs
Catedrático de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil
Luis LóPEz GuErra
Ex Magistrado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Catedrático de Direito Constitucional da Universidade Carlos III de Madrid - Espanha
owEn M. Fiss
Catedrático Emérito de Teoria de Direito da Universidade de Yale - EUA
toMás s. vivEs antón
Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência - Espanha
D162 Damasceno, Fernando Braga
Direito probatório (Strictu Sensu) : da valoração da prova [livro eletrônico] / Fernando Braga Damasceno. - 1.ed. – São
Paulo : Tirant lo Blanch, 2023.
1Kb; livro digital
ISBN: 978-65-5908-661-0
1. Direito probatório. 2. Strictu sensu. 3. Valoração. I. Título.
CDU: 347.94
Bibliotecária responsável: Elisabete Cândida da Silva CRB-8/6778
DOI: 10.53071/boo-2023-09-21-650c4bf7e353c
É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art.184 e §§, Lei n° 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei n°9.610/98).
Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch.
Fone: 11 2894 7330 / Email: editoratirantbrasil@tirant.com / atendimento@tirant.com tirant.com/br - editorial.tirant.com/br/ Impresso
Direito Probatório (Stricto

Sensu)
da valoração da prova
There is a Crack in Everything. That’s How the Light Gets In. (COHEN, 1992)
aGradEciMEntos
Ao Professor Leonardo Carneiro da Cunha, pela orientação, e aos professores Francisco Barros Neto, Manuela Abath, Lucas Buril, Hugo Segundo, Juraci Mourão, George Marmelstein, Gustavo Badaró, Anamaria Prates e Beclaute Oliveira, pelas valiosas contribuições ao aprimoramento deste trabalho.
Aos colegas de doutorado Rinaldo Mouzalas, Denarcy Souza e Isabelle Marne, pelo convívio e pelas ricas discussões, e a Rafael Montarroyos e Carlos Bradley, pelo imprescindível suporte.
Aos funcionários do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, pelo auxílio.
Aos meus filhos Matheus, Larissa, Fernando e Laís, pela compreensão dos inúmeros dias privados de convívio.
À minha esposa, Rosângela, pelo amor dedicado.
À minha mãe por tudo.
A Deus.
aPrEsEntação
Tudo o que se tem feito nos últimos dois ou três séculos – período em que “nasceu” e se consolidou o processo penal tal qual o concebemos hoje – se voltou a permitir ao Estado exercer sua função punitiva de modo efetivo, sem, todavia, ultrapassar os limites e regras estabelecidas por ele próprio, em sua composição normativa e estrutural.
É assim que o poder público utiliza seu aparato oficial à procura de um resultado que traduza a realização do direito objetivo, assegurando às partes um resultado tanto substancial quanto procedimentalmente justo.
E seguramente é na atividade probatória das partes – seu modo de ser e de se concluir tal atividade – que se exaltam as qualidades de um modelo ideal, no qual a verdade seja obtida de maneira constitucionalmente válida, conforme a lição de Ada Pellegrini Grinover e de Jorge de Figueiredo Dias, entre outros.
Nessa toada vem a lume o excelente livro de Fernando Braga, que deriva, em boa parte, de sua tese de doutorado defendida com êxito perante a Universidade Federal de Pernambuco.
O tema central do esmerado texto de Fernando Braga é a correlação entre o direito à prova, de que são titulares as partes, e o consequente direito a uma correta e racional valoração da prova, dever de que se incumbe o julgador na sua atividade ótima de julgar a pretensão punitiva em uma ação penal.
Muito oportuna a publicação do livro, porquanto, nos últimos anos, vem-se acentuando uma forte tendência da doutrina, estrangeira e nacional, para desenvolverem-se estudos e pesquisas na área do direito probatório, dada a importância que se deve dispensar a esse subsistema processual, estruturado para assegurar às partes a reconstrução histórica, ainda que de modo aproximativo, dos fatos sobre os quais pretendem a incidência (ou não) do Direito.
Na análise de muitos dos tópicos que compõem a ideia de um direito probatório, o livro, com riqueza informativa ímpar, aporta, no corpo do trabalho e nas precisas notas de rodapé, uma pletora de autores que oferecem subsídios para a compreensão dos novos rumos que se pretende dar ao processo penal.
Do livro se pode extrair a ideia central de que, para que se tenha um sistema processual epistemicamente sustentável, é mister que as partes tenham o direito ao acesso e à preservação das fontes de prova, o direito à incorporação da prova ao processo e o direito à adequada valoração da prova, mediante métodos
que sejam infensos ao subjetivismo judicial que sempre caracterizou, em maior ou menor extensão, os sistemas de avaliação da prova.
Daí se falar atualmente em regras que preservem a imparcialidade judicial, de sorte a que os vieses e preconceitos que todos, inclusive e nomeadamente o juiz, naturalmente carregam em si, sejam minimamente controlados, com regras objetivas que otimizem a atuação do julgador como um agente epistêmico virtuoso. É dizer, regras que forneçam mecanismos de contenção do pensamento judicial enviesado e que fomentem o desenvolvimento de virtudes – a maior delas, a imparcialidade – naquele que irá valorar a prova e, por conseguinte, julgar a causa.
O livro de Fernando Braga lança as mais recentes discussões sobre a temática central, permitindo ao leitor verticalizar seus estudos ou, ao menos, tomar ciência do que está na pauta na Academia, no Foro e na doutrina sobre direito probatório.
Tenho, portanto, o livro ora publicado como uma grande contribuição para a comunidade jurídica e, mais ainda, para o jurisdicionado, que, com estudos desse jaez, passa a ter como mais concreto o desejo de um processo penal em que a atividade judicial de valoração da prova e consequente decisão de mérito seja cada vez mais infensa ao arbítrio, à intuição, aos vieses cognitivos, ao subjetivismo e à mera opinião e, por sua vez, cada vez mais propícia a julgamentos apoiados na razão, na objetividade, na acurácia cognitiva, na transparência e na ciência.
É o que se espera do processo penal e, mais particularmente, do juiz criminal.
PrEFácio
Durante muito tempo, vigorou nos países de direito continental a noção de que por interpretação jurídica havia de entender-se exclusivamente a atividade destinada a extrair o sentido e alcance de normas jurídicas1, sendo considerada a quintessência do métier do jurista profissional. Novas obras de teoria da interpretação jurídica, nesse sentido, jamais causaram estranhamento e frisson, dado integrarem a rotina de nosso saber tecnológico. Ao substituirmos, porém, normas jurídicas por fatos enquanto objeto da interpretação jurídica, vemo-nos subitamente apanhados por um certo desconforto: o que antes nos soava tão familiar, se apresenta, agora como desafiador. Temos, no fim das contas, a sensação de que estamos sós e em boa medida desacompanhados.
Todavia, a ideia de que a prova dos fatos é terreno mais distante do saber jurídico tradicional pouco a pouco começou a ceder na prática brasileira, com a percepção, cada vez mais frequente, da importância capital do mundo fático no ofício judicante, até chegar ao ponto de “atribuir uma função eminente à operação hermenêutica que constitui a leitura dos fatos”, até porque a experiência prática mostra que as grandes divergências via de regra colocam-se no plano do mérito da convicção judicial2. Seria arrombar portões abertos defender, atualmente, a necessidade de incorporação do aspecto factual da experiência jurisdicional aos domínios do direito processual, porque já se encontra, a essa altura, nele integrado. Daí a dizer que o processo de incorporação do fático à ciência jurídica existe grande distância.
Pessoalmente, sempre fiquei intrigado com a marginalização da prova por parte do direito continental e, como não poderia deixar de ser, por parte do direito brasileiro. Em 2005, publiquei “O recurso especial e a revisão da questão de fato pelo STJ”; em 2007, “A prova nos juízos cível, penal e tributário”; em 2018, “A prova pericial no direito brasileiro”. Depois, obrando contra a lei das probabilidades, tornei aos bancos da faculdade de direito para fazer uma segunda graduação em direito, mas desta vez nos Estados Unidos, país de common law, no afã de ver os fatos pelo lado de dentro de quem vivencia aquele sistema. Nem bem regressei ao país, eis que fui contemplado com a notável obra de Fernando Braga - “Direito Probatório (stricto sensu): da valoração da prova” - que ora tenho o imerecido privilégio de prefaciar.
1 IVAINER, Theodore. L’interprétation des faits en droit. Paris: LGDJ, 1988. p. 9-10. Diz o tratadista que a preferência pela hermenêutica das normas jurídicas está ‘centrada no direito positivo e em regras de interpretação fortemente orientadas para o estito da exegese”, bem como à “literatura dedicada à hermenêutica jurídica”. Citanto Denis Bredin, observa, porém, que “a maioria das disputas não questiona a regra jurídica; os repertórios jurídicos transmitem uma imagem totalmente deformada do litígio”, afinal das grandes divergências colocam-se no plano factual.
2 Id.
Nesse sentido, a obra que ora chega às mãos dos leitores de língua portuguesa constitui verdadeira tese que se propõe ir muito além do existente e está muito à frente de seu tempo. De saída, o autor busca superar os limites da dicotomia entre corrente objetivista e corrente subjetivista do livre convencimento a que alude a doutrina probatória que hoje já pode ser havida como tradicional3, reivindicando para o sistema jurídico o controle do mérito mesmo da valoração das provas, subtraindo-o das correntes do arbítrio, subjetivismo e inclinações pessoais. Como nos diz Fernando Braga, se nada pudermos fazer a respeito, deveríamos darmo-nos por satisfeitos com um “sistema de justiça completamente despreocupado com o processo de tomada de decisão”, que “terminaria respaldando um dado resultado probatório ainda que o julgador confessasse publicamente que o definiu porque assim lhe disseram os búzios, o tarot ou os dados, como retratado na carta de Gargântua a Pantagruel”, lembrando, no ponto, a bufonaria de François Rabelais que, com seu realismo grotesco, expôs verdades bastante indesejáveis4. Creio que Fernando Braga, com finesse e elegância, também expôs com clareza falhas importantes do direito processual no campo específico do mérito da valoração das provas, com a intenção bem-sucedida de superá-las.
Ao afrontar o problema pela raiz, Fernando Braga recupera a noção de que a convicção se forma no juiz sentenciador, embora este atue em representação da justiça toda, rechaçando, assim, modelos personalistas e subjetivistas de fixação dos fatos. Porém, não surge modesta, nem livre de riscos, a empreitada a que se lançou o autor: de fato, o direito probatório nacional, desde a primeira república, contentou-se, ao menos no Brasil, em avançar a duas camadas mais a montante do fenômeno probatório: primeiro, tomou posse do procedimento probatório ou da praxe enquanto tal; depois, evoluiu para os domínios da admissibilidade das provas, mas sempre evitando ingressar no mérito do convencimento judicial ou na valoração das provas propriamente ditas. Ocorre que Fernando Braga resolveu penetrar no terreno mais difícil da prova: como tornar a valoração da prova enquanto tal um incidente do sistema jurídico? Ou, como ele denomina de forma elegante, como fundar um “Regime Jurídico da Valoração da Prova Brasileiro”? As consequências de um tal projeto são imensas, como ele próprio revela. Sem querer privar o leitor de suas próprias conclusões, digo que Fernando Braga avançou anos luzes em terreno no qual a ciência processual vivia em estado de estagnação.
Para tanto, o autor assume plena consciência dos riscos que assolam o juízo factual enquanto estrada perigosa e inçada de possíveis acidentes a cargo dos juízes. Ao associar-se ao modelo garantista no plano das premissas de seu trabalho,
3 GMEHLING, von Bernhard. Die Beweislastverteilung bei Schäden aus Industrieimmissionen. München: Carl Heymanns Verlag, 1988, p. 15.
4 BAKHTIN, Mikahil. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento; o contexto de François Rabelais. São Paulo: Hucitec, 2010, p. 24
o autor reconhece a possibilidade sempiterna do erro judiciário, parente nem tão distante do direito probatório e de qualquer juízo factual, do qual magistrados, não obstante, ocupam-se em seus afazeres diárias, mormente num sistema como o brasileiro, em que, à diferença do americano, o julgador de fato não é de regra um jurado, mas um togado. Percebe-se na obra de Fernando Braga – o leitor há de verificar por si – a existência de uma segunda voz permanente, ecoando as lições do famoso Winship, no qual a Suprema Corte dos Estados Unidos positivou o standard da proof beyond reasonable doubt para casos criminais, com a finalidade de distribuir o erro judiciário numa equação tendente a preferir culpados livres a inocentes presos, uma opção ideológica e política5. Fernando Braga recorda, nesse ponto, de forma extremamente corajosa, à luz de sua experiência de magistrado: “the ‘king’ can do wrong. Admitir a falibilidade de qualquer agente da autoridade estatal e adotar medidas voltadas ao reconhecimento, à correção e também à prevenção de erros certamente está implícito na essência de uma ordem democrática”. Essa premissa permeia a obra ab initio, e seria de grande proveito ter consciência disso. A obra assenta um pilar firme nesse ponto.
Na minha leitura, vejo operando com grande desenvoltura na obra que o leitor agora tem em mãos a ideia – cada vez mais necessária, embora pouco lembrada – de que a “verdade judicial” deve guiar-se, nas palavras do tratadista, por critério “vocacionado à administração do risco de erro”. Com essas palavras plenas de significado numa sociedade de riscos como a nossa, Fernando Braga empresta o peso de sua autoridade, e a consequência de seu discurso, ao que me parece ser um dos postulados mais importantes do direito probatório atual, contanto que se o queira civilizado e democrático: “a finalidade do Sistema é a redução do risco de erro que inevitavelmente carregará toda a decisão que admite, ou não, uma hipótese como provada”.
Pavimentado o caminho com essas sólidas premissas teóricas, a obra atinge o ponto culminante quando o autor passa a tratar do que denominou de “conceitos de valoração da prova”. De minha parte, em 2007, lancei-me na aventura de importar a teoria dos standards para o direito brasileiro. Diz o autor, com a modéstia e grandeza dos verdadeiros juristas, que apenas estaria a dar “passo seguinte àquele já dado por Danilo Knijnik”, mas a verdade é bem outra. A obra que ele nos apresenta é daquelas aptas a provocar, subitamente, quase que de uma hora para outra, um avanço mais largo. Digo isto por duas razões: primeiro, a opção por uma abordagem mais pragmática - qual a “propiciada pela chamada
5 In re Winship, 397 U.S. 358 (1970): Se, por exemplo, o standard de prova num caso criminal fosse a preponderance of evidence, em vez da proof beyond reasonable doubt, haveria um menor risco de erros de fato resultando na libertação de pessoas culpadas, mas um risco muito maior de erros de fato resultando na condenação de inocentes. Como o standard de prova afeta a frequência com que esses erros ocorrem, a escolha do standard de prova aplicável a um tipo particular de processo deveria, num mundo racional, refletir a valoração da falta de utilidade social cada um.
epistemologia falibilista” - evidencia quão difícil é subtrair o momento em si da valoração ao solipsismo. Mas é justamente nesse ponto que Fernando Braga, referindo-se ao que escrevi em A prova pericial e seu controle no direito processual brasileiro, rechaça a possibilidade de “um modelo de prova sem convicção”, afinal mesmo que “o julgador assuma-o de maneira séria, ainda que resista às suas próprias intuições sobre o fato que se pretende reconstruir, o resultado da prova equivalerá à crença do julgador sobre o significado dos elementos aportados, sobre se preenchem, ou não, os respectivos critérios de significação”, de modo que “nem mesmo no plano teórico é possível defender que a prova incorporada fornece sozinha o resultado probatório e que o julgador exerceria uma atividade de mera revelação”. E ele está coberto de razão neste ponto. Feito isso, o autor apresenta uma redução dogmática que permita sindicar o resultado probatório aqui e agora, enquanto convencimento de um julgador determinado, em lugar de buscar sua comparação com um julgador de tipo ideal ou abstrato. Em segundo lugar, Fernando Braga coloca com precisão, e temos que lhe dar razão no ponto: “o resultado da prova só surgirá institucionalizado num ato formal dotado de exequibilidade, se aquele investido da autoridade pública, convencer-se que o caso é mesmo de admitir ou rejeitar a hipótese em disputa”. A obra convida o leitor, portanto, a ingressar no que de mais difícil e indecifrável pode haver no direito probatório: o núcleo da valoração, ou, como ele diz no título, a valoração stricto sensu. Sem medo de errar, pela minha leitura, digo que poucos tiveram coragem de penetrar nesse inóspito território, ao passo que muitos visitaram a sua periferia. Fernando Braga ultrapassou a periferia da valoração, porque o objeto de seu trabalho é a própria valoração em sentido estrito. Contemple-se a literatura jurídica, num plano horizontal e vertical, sobre esse núcleo essencial da prova; poucos a tanto se atreveram.
Aqui parece residir a preciosidade do trabalho, como a evocar “As joias da Coroa” do imortal Raul Pompeia. Trata-se da chave com que Fernando Braga busca decifrar o ponto crítico da valoração da prova no direito brasileiro, inclusive de forma mais universal. Refiro-me à “chave” porque o entendimento do sistema de valoração, como “ferramenta desenviesante”, é uma espécie de elixir que se administra a um paciente agonizante; e digo que é universal, haja vista a familiaridade da ferramenta em questão com certa categoria da common law – o “bias” – que o 28 USCS §144 americano erige a impedimento da autoridade judicial.
Faltava-nos, porém, o aparato conceitual para passar da periferia da motivação, e mesmo ao controle por standards, ao núcleo do fenômeno; faltava-nos uma dogmática capaz de demonstrar que fundamentação em matéria probatória encampa um dever positivo de testar hipóteses antagônicas, enquanto mecanismo contra o subjetivismo decisório e o erro judiciário. E aí me residir o contributo da obra. Diz-nos o autor, dentre várias conclusões, que, “no processo penal,
os elementos empíricos devem gerar razões de suporte da hipótese que, além de autorizar uma preferência pela mesma, consigam afastar/incompatibilizar qualquer hipótese plausível que possa beneficiar o acusado”. É como Bruggemann afirmou a respeito do dever, em geral, de fundamentar decisões judiciais: “razões aparentes não são efetivamente ‘fundamentos’, pois não correspondem à função pretendida pela fundamentação, [que é] a de responder à questão do porque-assim-e-não-diversamente da decisão”6.
Da leitura que fiz, a partir do privilégio imerecido que tive, parece-me que Fernando Braga conseguiu colocar à disposição dos juristas práticos um aparato analítico para o exame do mérito da valoração judicial em senso estrito. No ponto, o leitor há de notar a habilidade com que o autor expõe assuntos tão complexos sem perder contato com a realidade e com o fazer rotineiro do jurista prático: o leitor perceberá o que digo ao deparar-se com o exame de matérias tão abstratas vis-à-vis de precedentes, como é o caso da análise que fez do Recurso Especial nº 1.803.562.
Outro ponto alto da obra é a exigência “de se assegurar que toda prova seja considerada em todas as suas relações com todas as probandas”, qualificada como uma “abordagem analítica ou atomista”, por oposição ao que tomo a liberdade de aqui denominar de análise conglobante ou generalizadora, normalmente expressa em clichês e jargões afetivos como o “conjunto da prova” e seus equivalentes funcionais. Fernando Braga oferece contributo notável contra essa praxe deletéria e deslegitimadora. Daí sua evocação no sentido da “necessidade de se assegurar que toda prova seja considerada em todas as suas relações com todas as probandas”, o que “reclama uma abordagem analítica ou atomista do material probatório, que implica o isolamento de cada um item de prova e na explicitação da sua ligação com cada circunstância da hipótese, ou seja, com cada probanda penúltima sob admissão, gerando uma cadeia de inferências (ou argumentos) que tem como apoio a evidência (enunciado) estabelecido a partir do exame de cada uma delas”. Por isso, não espanta que, dentre tantas conclusões importantes, avulte a de que “a valoração da prova, além de pressupor um julgador imparcial e com atitudes e habilidades adequadas, reclama uma disciplina com aptidão para impedir ou minimizar o enviesamento cognitivo”, no que Fernando Braga nos remete inclusive para forma cultural diferenciada e mais segura de lidar com a prova dos autos. Ao fim e ao cabo, a obra volta-se contra uma certa condição atávica de tratar a prova como a jusante do subjetivismo.
K. Clermont, notável comparatista, observou a “desatenção ao problema”7 do direito probatório por parte de juristas europeus, em cuja família o brasileiro obviamente se inclui, dada sua filiação lusitana. Segundo o comparatista, a atitude do civil lawyer frente à prova caracteriza-se, inicialmente, pelo “desdenho: os sistemas da civil law extraíram do seu elevado standard de prova em julgamentos civis porque os estudiosos mais influentes enxergam o problema da prova como abaixo deles. Se olharmos para a França, lá parece existir uma completa falta de interesse ou desdenho pelo processo civil e especialmente pelo direito probatório dentro da academia francesa (...)”; depois, Clermont agrega a existência, quando tal análise eventualmente ocorra, de “malentendidos: a segunda possibilidade (...) repousa numa base fraca, suportada pelo fato de que a probabilidade não releva ela mesmo na civil law numa forma matizada antes ou depois da revolução francesa. Então, os civilian lawyers têm pouca prática em pensar sobre o seu direito em termos de incerteza”; por fim, Clermont refere-se à tendência à “evitação do problema”, que explicaria a marginalidade de um direito probatório pensado a partir de problemas jurídicos para além do praxismo. A obra de Fernando Braga tem o mérito – e a coragem – de enfrentar tanto o desdenho quanto os malentendidos sem a tendência à evitação que caracteriza, no dizer de Clermont, a abordagem continental sobre o mérito do convencimento judicial. Ouso dizer, assim, que se trata de obra da maturidade do ponto de vista de seu conteúdo; e da coragem intelectual, do ponto de vista de seu autor.
De tempos em tempos, obras jurídicas provocam rupturas positivas em cujas dobras a ciência jurídica avança. No âmbito do direito probatório, o ciclo das novidades é excessivamente lento, na medida em que o cordão das resistências e a tendência à retrospeção são poderosos. Não creio estar enganado ao dizer que o leitor tem em mãos uma daquelas raras obras que propõem algo de novo, que põem em xeque o imobilismo e que fornecem base dogmática consistente em prol da segurança jurídica no delicado funcionamento da persuasão racional no direito brasileiro.
Destarte, já que falamos em termos probatórios, ouso dizer: o “Direito Probatório (stricto sensu): da valoração da prova” de Fernando Braga, que tive o imerecido privilégio de prefaciar, alcançará, acima de qualquer dúvida razoável, a acolhida da comunidade jurídica.
daniLo KniJniK87 CLERMONT, Kevin M. Standards of decision in law: psychological and logical bases for the standard of proof, here and abroad. North Carolina: Carolina Academic Press, 2013, p.249.
8 Graduação em Direito no Brasil (UFRGS). Graduação em Direto nos Estados Unidos (University of Miami). Mestrado (UFRGS). LLM (University of Miami). Doutorado (USP). Professor Associado IV da UFRGS. Advogado.
introdução
1.1. PEnsando o rEGiME Jurídico da vaLoração da Prova
Não há como admitir que o ordemento jurídico brasileiro seja indiferente à valoração da prova judicial, entendida como a análise e significação de um dado conjunto de elementos de informação, com vistas a verificar se legitimariam a admissão de uma determinada hipótese/alegação para cumprir uma determinada função. A indiferença, que equivaleria à irrelevância do critério utilizado (ou até mesmo a irrelevância de se utilizar critério algum) não se mostra compatível com uma ordem democrática, na medida em que o julgador terminaria por exercer um mero poder de disposição; a rigor, aí, sequer valoração haveria.
Daí que se propõe aqui a refletir sobre o papel da ciência do Direito na construção de um modelo (normativo) para a valoração da prova judicial no Brasil; afinal, a vedação à atuação arbitrária por qualquer agente público, o direito fundamental à prova, o conceito de prova, a finalidade da prova, a ideia de necessidade da prova e de corroboração probatória e os modelos de constatação de suficiência da prova, que integram nosso ordenamento jurídico-processual, não se projetariam sobre o âmbito da valoração da prova, impedindo que o julgador atue com absoluta liberdade decisória?
Assume-se, assim, como hipótese, que todos esses pressupostos projetam um regime jurídico, que disciplina a atividade de valoração da prova judicial, condicionando sua validade, o que pode ser visto como o passo seguinte àquele já dado por Danilo Knijinik1, que defendeu caber à dogmática jurídico-processual (ou à processualística) mediar a construção de um modelo que se volte à contenção do arbítrio do julgador quando valora a prova, o que ainda aguardaria o merecido desenvolvimento2.
1 “É nessa quadra que a contribuição realista nos pode favorecer. De um lado, ela põe em evidência que não é possível eliminar, de todo, a intuição do julgador (...) especificamente quanto ao controle do juízo de fato, a ideia de fundamentação como processo de racionalização jurídica se estende para a formação de uma dogmática-probatória, exigindo um conjunto de categorias e processos técnicos que auxiliem no controle, o quanto possível, dos subjetivismos que incidem na formação do juízo de fato. Mais do que isso, tal perspectiva demonstra que uma ideia de livre convencimento do juiz como convencimento alheio a regras não pode ser metodológica ou cientificamente aceita, por inibir o aparelhamento teórico capaz de fazer frente às delicadas contingências do juízo de fato. (...) do ponto de vista metodológico, isso conduz a uma importante proposição: a formação do juízo de fato tem de ser mediada pela dogmática processual, não podendo ser terra estranha ao trabalho do jurista prático ou assunto privativo do mundo fenomênico, para o qual todo o saber tecnológico do jurista seria dispensável. Dito de outro modo: o realismo, ainda que não se concorde inteiramente em suas premissas, permite evidenciar a necessidade de um direito probatório sistemático, com categorias e instituições próprias, de modo a evitar que o convencimento judicial escape a toda forma de controle dogmático e a um real contraditório.”. KNIJNIK, Danilo. Ceticismo fático e fundamentação teórica de um Direito Probatório. In: KNIJNIK, Danilo (coord.). Prova Judiciária: Estudos sobre o novo Direito Probatório. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 25.
2 No mesmo sentido, Antônio Brandão: “Não obstante um nítido desenvolvimento da teoria da argumentação jurídica acerca da interpretação das normas, o direito probatório (mais especificamente: a análise do fato) testemunhou a sua desatualização
É tentador adotar como ponto de partida (um capítulo destinado a justificar) a filiação a uma das escolas filosóficas que polarizam o debate sobre a prova judicial, notadamente sobre a sua finalidade: a racionalista3, que sustenta que (a aproximação com) a verdade histórica é (ou deveria ser) finalidade essencial do processo e da prova, e a subjetivista ou psicologista, que defende que a verdade histórica seria circunstancial ou secundária, de sorte que a legitimidade da prova e de seu resultado independeria de qualquer relação de correspondência ou analogia com ela mesma4.
Aliás, essa parece ser uma das causas de um quase abandono da valoração da prova pelos processualistas civis e penais. Aqueles que aderiram ao subjetivismo — ainda que as versões mais moderadas — terminam por considerar a valoração da prova como uma não-etapa do processo, voltando-se todas as suas atenções para a incorporação dos elementos de prova e para a justificação da decisão já tomada, como se o significado da prova surgisse naturalmente para o julgador sem qualquer esforço metódico ou atividade merecedora de maiores atenções. Os que se filiam à escola racionalista, ainda que não o façam expressamente, terminam por aderir à ideia de que, na fase de valoração da prova, deveria sair o jurista e entrar o epistemólogo, ou seja, a boa valoração da prova deveria ser entregue (quase que) exclusivamente aos conhecimentos da Epistemologia, da Lógica etc.5
Assim, na busca de um método e um ponto de partida que aparentem mais adequados a um trabalho de pesquisa em Direito, especificamente em Direito
acadêmica diante das novas exigências impostas ao Direito. Tudo isso porque supostamente interpretar o fato seria atividade intimamente subjetiva. Com efeito, a hermenêutica jurídica se desenvolveu a ponto de se construir a ideia de que há separação entre texto legal e norma e, por isso, a atividade do intérprete sempre está ligada a certa dose de criação. Hoje em dia não causa espanto a afirmação de que os juízes, de certo modo, também criam o Direito. Tudo isso graças a um bom desempenho dogmático dessa matéria. No que tange à análise fática, mais especificamente quanto à qualificação das provas, todavia, permaneceu a noção de que essa averiguação se ligava ao mero subjetivismo do intérprete, sendo inviável o seu controle, a não ser pela motivação da decisão. A inexistência de categorias jurídicas mais claras na valoração do material probatório torna-se, portanto, um estorvo para sua submissão ao contraditório. Assim, a averiguação racional de questões fáticas permanece órfã na doutrina, existindo alguns poucos e isolados trabalhos sobre a categoria processual. Por tais motivos que o catecismo jurídico brasileiro e a jurisprudência devem tomar mais contato com a valoração das provas, a fim de promover uma maior racionalidade sistêmica, oportunizando o debate a respeito das escolhas feitas pelo julgador, quando este aprecia a prova dos fatos no processo judicial.”. BRANDÃO, Antônio Augusto Pires. A valoração da prova e o controle da atividade judicial. Revista de Processo, vol. 285/2018, p. 19 – 42, São Paulo, 2018, p. 19-20.
3 Nos países de Civil Law, Michele Taruffo é o maior representante da Escola Racionalista, sendo inúmeras as obras em que defende seus postulados, valendo mencionar aqui, TARUFFO, Michele. A prova. Trad. João Gabriel Couto. São Paulo: Marcial Pons, 2014 e TARUFFO, Michele. Uma simples verdade: o juiz e a construção dos fatos. Trad. Vitor Paula Ramos. São Paulo, 2016.
4 “A decisão judicial não é a revelação da verdade (material, processual, divina etc) mas um ato de convencimento formado em contraditório e a partir do respeito às regras do devido processo. Se isso coincidir com a “verdade”, muito bem. Importa considerar que a verdade é contingencial, e não fundante. (...) o juiz na sentença constrói – pela via do contraditório – a sua convicção acerca do delito, elegendo os significados que lhe parecem válidos (dentro das regras do jogo, é claro). O resultado nem sempre é (e nem precisa ser) a “verdade”, mas sim o resultado do seu convencimento – construído nos limites do contraditório e do devido processo penal. LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 385.
5
Um bom exemplo disso é Gustavo Badaró, processualista penal, um dos poucos que aprofunda o estudo da valoração da prova, mas o faz em obra intitulada “Epistemologia Judiciária e Prova Penal”. BADARÓ, Gustavo Henrique. Epistemologia Judiciária e Prova Penal. São Paulo, 2019.
