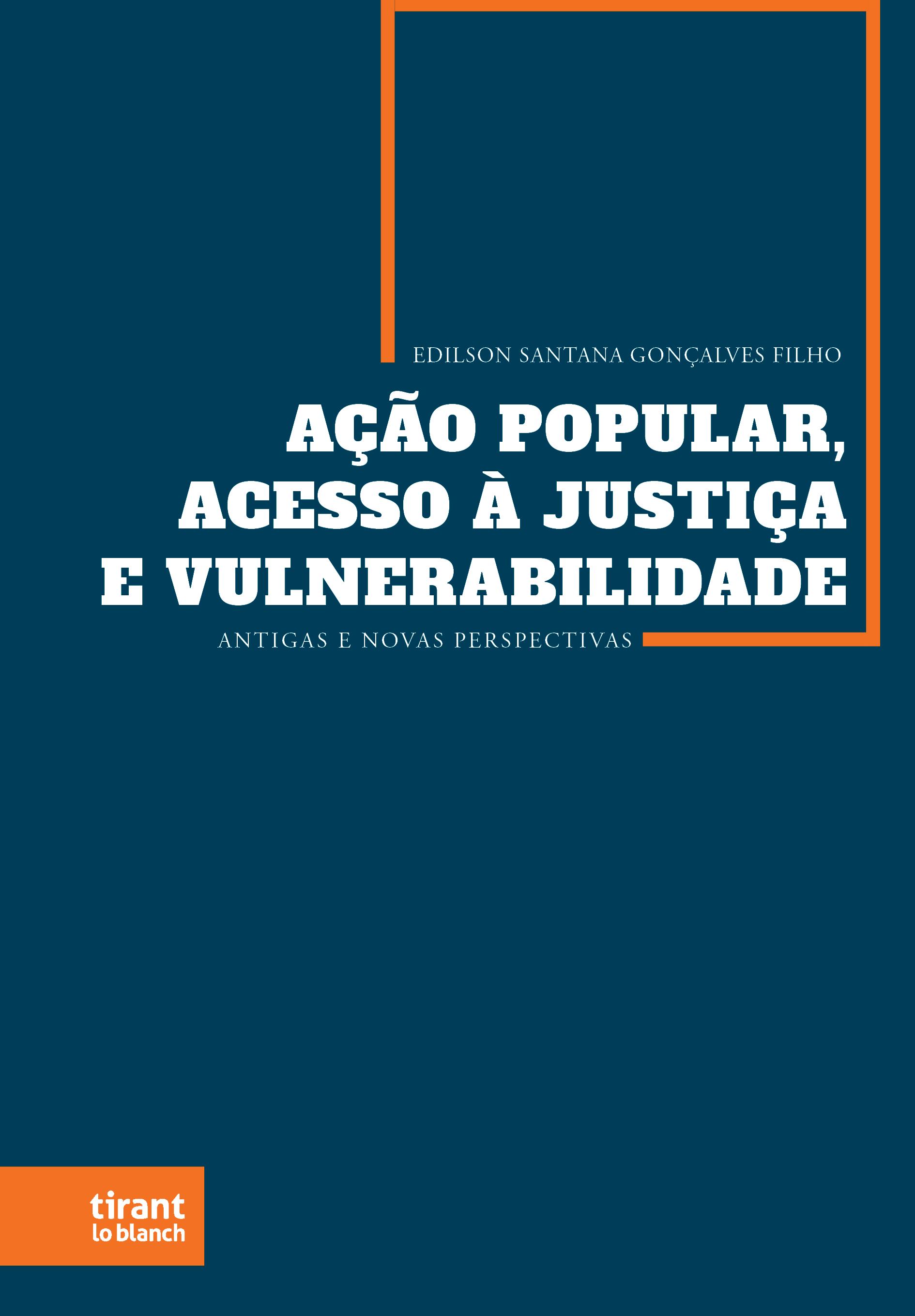 Edilson Santana Gonçalves Filho
Edilson Santana Gonçalves Filho
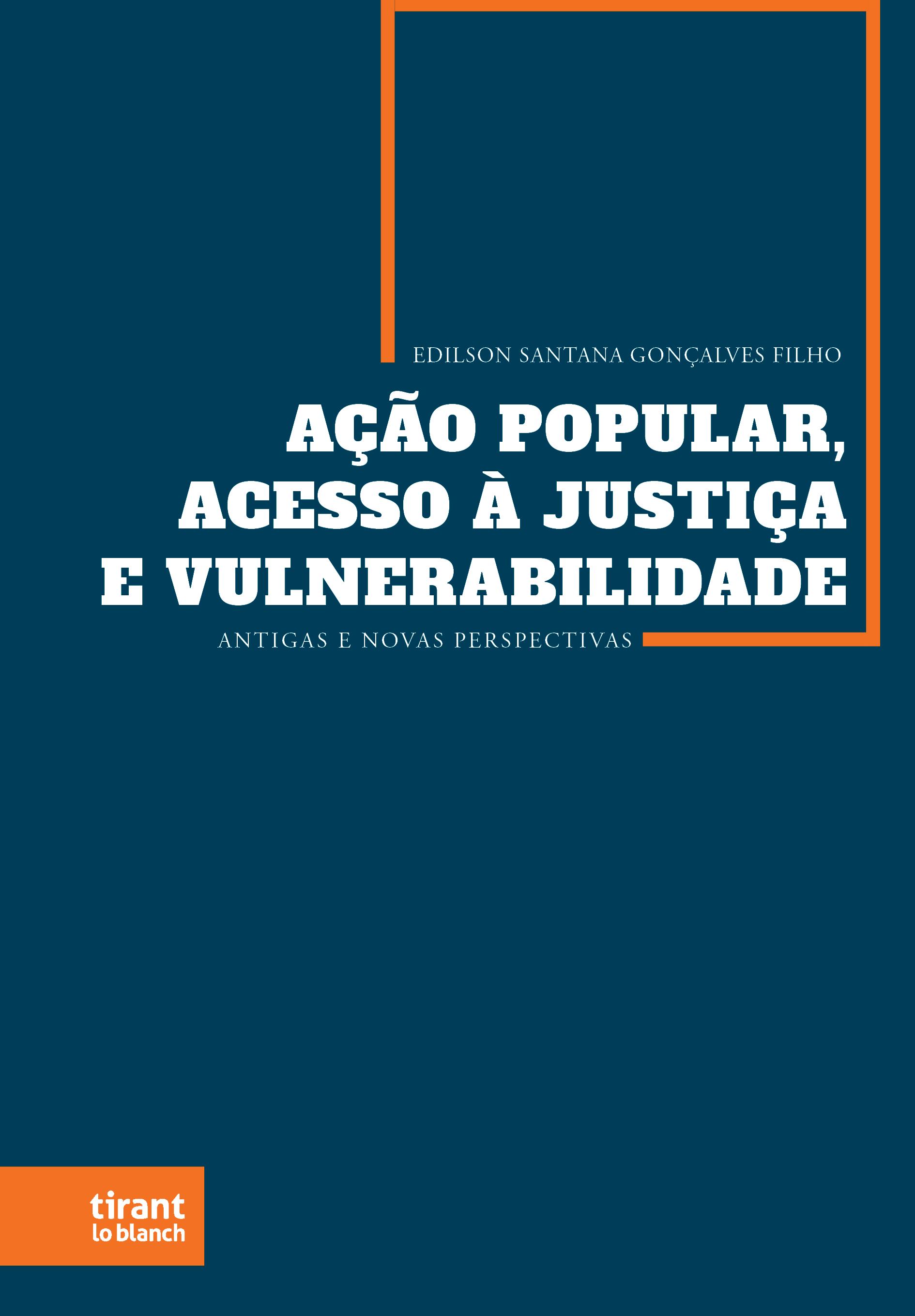 Edilson Santana Gonçalves Filho
Edilson Santana Gonçalves Filho
Ação PoPulAr, Acesso à JustiçA e VulnerAbilidAde
Antigas e Novas Perspectivas
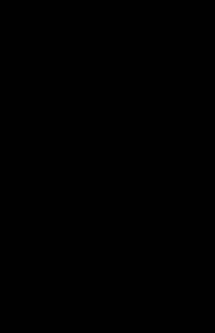 Copyright© Tirant lo Blanch Brasil
Copyright© Tirant lo Blanch Brasil
Editor Responsável: Aline Gostinski
Assistente Editorial: Izabela Eid
Capa e diagramação: Jéssica Razia
CONSELHO EDITORIAL CIENTÍFICO:
eduArdo Ferrer MAc-GreGor Poisot
Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Investigador do Instituto de Investigações
Jurídicas da UNAM - México
JuArez tAVAres
Catedrático de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil
luis lóPez GuerrA
Ex Magistrado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Catedrático de Direito Constitucional da Universidade Carlos III de Madrid - Espanha
owen M. Fiss
Catedrático Emérito de Teoria de Direito da Universidade de Yale - EUA
toMás s. ViVes Antón
Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência - Espanha
G625 Gonçalves Filho, Edilson Santana
Ação popular, acesso à justiça e vulnerabilidade : antigas e novas perspectivas [livro eletrônico] / Edilson Santana Gonçalves Filho. - 1.ed. – São Paulo : Tirant lo Blanch, 2023.
4.386Kb; livro digital
ISBN: 978-65-5908-576-7
1. Acesso à justiça. 2. Ações coletivas. I. Título.
CDU: 342.7
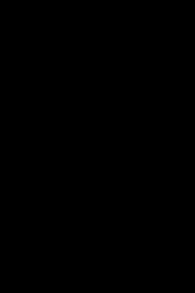
Bibliotecária Elisabete Cândida da Silva CRB-8/6778
DOI: 10.53071/boo-2023-05-16-6463c456691b8
É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art.184 e §§, Lei n° 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei n°9.610/98).
Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch.
Fone: 11 2894 7330 / Email: editora@tirant.com / atendimento@tirant.com
tirant.com/br - editorial.tirant.com/br/
Impresso no Brasil / Printed in Brazil
Edilson Santana Gonçalves FilhoAção PoPulAr, Acesso à JustiçA e VulnerAbilidAde
Antigas e Novas Perspectivas
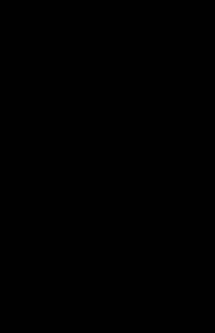
AGrAdeciMentos
Este livro não existiria sem o suporte incondicional que tive durante as pesquisas que deram origem ao texto. Em primeiro lugar, da minha família. Não menos importante, dos professores Felipe Braga Albuquerque e Hermes Zaneti Jr., cujo apoio – de ambos – foi materializado na total disponibilidade e paciência durante os anos em que o texto foi sendo elaborado, modificado, reescrito, revisado e, enfim, ficou pronto, dia no qual degustamos um excelente vinho em comemoração. Os diálogos e a troca de inúmeras mensagens permitiram amadurecer muitas das ideias que estão contidas nas linhas seguintes. Ao último devo ainda a experiência vivenciada junto ao grupo de pesquisa Fundamentos do Processo Civil Contemporâneo (FPCC). Registro também minha gratidão ao professor Juvêncio Vasconcelos Viana e à professora Denise dos Santos Vasconcelos Silva, pelos apontamentos realizados na reta final da pesquisa. Por fim, à Mariana Urano, pelo auxílio na revisão dos aspectos formais. Como disse o poeta, a vida é arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida.
APresentAção
Muito me honrou o convite formulado pelo Professor Edilson Santana
Gonçalves Filho – um dos mais promissores estudiosos do direito (material e processual) coletivo do seu tempo – para apresentar sua obra Ação Popular, Acesso à Justiça e Vulnerabilidade - Antigas e Novas Perspectivas, fruto de seus estudos constantes a respeito do tema e de sua experiência profissional como Defensor Público Federal.
Trabalho, destaque-se, que segue a linha de outra excelente monografia publicada anteriormente pelo autor e comercialmente apresentada sob o título Defensoria Pública e tutela coletiva de Direitos (Juspodivm, 2022), que trata das ações coletivas à luz das atribuições constitucionais e infraconstitucionais da Defensoria Pública.
Toda apresentação que se preze deve ser breve exatamente para não privar o leitor de avançar sobre a própria obra apresentada. Mas algumas breves palavras são necessárias para contextualizar os que consultarem o livro sobre o que encontrarão logo adiante.
O livro ora apresentado investiga o vetusto instituto da Ação Popular, que, com diferentes feições e naturezas, está inserido no ordenamento jurídico brasileiro desde as ordenações do Reino, e sobrevive por aqui graças à previsão específica do art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal, ainda que sob o pálio da antiga, mas ainda vigente, Lei 4.717/1965, que a regulamenta.
Ambas as disciplinas (constitucional e infraconstitucional) da Ação Popular, de certo modo, engessam sobremaneira a eficácia potenciada da medida na defesa dos direitos da cidadania. A interpretação corrente sobre o seu cabimento limita o alcance à tutela de direitos difusos bastante restritos, atinentes à defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico/cultural, deixando de fora tantos outros direitos e interesses cuja consecução é nodal para o desenvolvimento dos valores da República.
Por outro lado, a ampliação do manejo da Ação Popular para a defesa de outros direitos além dos positivados – algo que atualmente nos parece necessário – sempre traz a reboque o debate sobre o abuso; o mau uso da ação como instrumento de antagonismo político, perigo concreto que não pode ser negligenciado.
Mesmo ciente de que há no sistema outros instrumentos capazes de defender, de forma mais ampla, os interesses e direitos da coletividade (Ação Civil Pública, Mandado de Segurança Coletivo etc.), não se pode negar que a Ação
Popular tem sim o seu valor. Notadamente porque, a despeito das outras ações coletivas, é a única cuja própria Carta Constitucional reconhece como instrumento manejável pelo próprio povo, verdadeiro mecanismo de democratização do acesso à justiça e de participação popular nos destinos da própria comunidade.
A obra é dividida em 3 (três) grandes capítulos.
No primeiro, discorre-se sobre o desenvolvimento do Estado de Direito sob a perspectiva da inclusão de grupos vulneráveis: avança-se sobre as peculiaridades do Estado Liberal para sustentar, inclusive à luz da pandemia da Covid-19, que a inclusão democrática e a reafirmação da coletividade como unidade são essenciais para a consecução dos objetivos do Estado pós-moderno.
No segundo capítulo, faz-se acurada análise da participação popular através do processo, instituto que desde o Projeto Florença é pensado e repensado (pese a crítica de parcela minoritária da doutrina) como instrumento de Acesso à justiça. Sob os influxos da Segunda onda renovatória de Garth e Cappelletti, são apontados os problemas relacionados à defesa de direitos difusos como obstáculos ao acesso, apresentando o autor vigorosa defesa do ideário de ampliação da tutela coletiva e participação popular como meio de democratização dos pronunciamentos jurisdicionais. Por fim, no último capítulo, o autor avança especificamente sobre o tema central da obra: a ação popular. Após breve noção geral a respeito do microssistema processual coletivo brasileiro, são tratadas questões técnico/jurídicas sobre o instituto: definição, objeto, legitimidade, instrução, prevenção, competência, procedimento, participação do Ministério Público, migração de polos, desistência da ação, recursos, custeio, pedido, sentença, reexame necessário, coisa julgada etc. Ao fim, há interessantíssima análise do papel que o Ministério Público e, especialmente, a Defensoria Pública têm que exercer na Ação Popular, notadamente no controle da adequada representação do autor popular nos casos em que o objeto da demanda é a tutela dos direitos e interesses de grupos vulneráveis.
Este é mais um dos trabalhos do autor que conciliam, na exata medida, rigor técnico/acadêmico com utilidade prática. Constatação fácil de ser alcançada pela leitura da obra.
O que me resta, portanto, é parabenizar o Professor Edilson Santana Gonçalves Filho pela nova obra, fazendo votos de que muitos outros trabalhos sobre tutela dos interesses e direitos coletivos venham a público. Nós, seus leitores, temos muito a com isso ganhar.
Verão de 2023.
FernAndo dA FonsecA GAJArdoni Doutor e Mestre em Direito Processual pela USP (FD). Professor Doutor de Direito Processual Civil e Coletivo da USP (FDRP).
introdução
Em alguma medida, todas as pessoas são vulneráveis ou, melhor dizendo, estarão vulnerabilizadas, em maior ou menor escala, em determinadas situações. A vulnerabilidade é, antes de tudo, uma questão de avaliar, na realidade concreta, a posição pessoal em face de algum parâmetro, aferindo o descompasso de uns em relação aos outros. Entre suas causas, incluem-se diversos fatores, como a pobreza, a marginalização, os estigmas sociais etc. Até que ponto eles influenciam, é dizer, em que medida colocam a pessoa em situação de desvantagem, é aspecto que necessita de uma avaliação no caso concreto, embora, para certas situações, possa haver uma presunção. Por exemplo, quando o indivíduo que faz parte de um dos denominados grupos minoritários, em razão do que a própria identificação enquanto pertencente àquela coletividade faz presumir a vulnerabilização.
Tome-se a hipotética situação de alguém com poucos recursos econômicos que necessita recorrer ao Poder Judiciário. Até que ponto a pobreza é um aspecto vulnerabilizante? Nesse caso, isso se revela na medida em que tal fator (a hipossuficiência econômica) impede o acesso à justiça. Em outra situação, imagine-se uma mulher que pretende concorrer a um cargo político. Ao analisar o caso concreto, deve-se verificar se as regras de eleição envolvem a possibilidade de mulheres concorrerem. Ainda, qual o contexto sociocultural: Trata-se de uma sociedade misógina? As condições são igualitárias para homens e mulheres? Os exemplos são vastos e podem evolver as mais diversas questões.
O segundo exemplo, assim como tantos outros que poderiam ser utilizados neste introito, demonstra que aqueles fatores de vulnerabilidade, antes referidos, não se resumem a uma questão meramente financeira, senão também envolvem aspectos ligados ao padrão cultural-valorativo das sociedades, que geram injustiças ligadas tanto à economia, quanto à cultura. Questões como o gênero e a raça bem exemplificam esse ponto. São mencionados por Axel Honneth e Nancy Fraser1 como problemas que exigem uma abordagem bivalente, é dizer, exigem não só um remédio voltado à redistribuição econômica, mas também à revalorização do grupo, à diversidade cultural, aos padrões de representação, de comunicação, de reconhecimento, ou seja, à transformação da cultura social. A própria pobreza deve ser vista, de forma mais ampla, como a privação de capacidades básicas, o que vai além de seu conceito tradicional de identificação pelo baixo nível de
renda. Essa consideração, ressaltada por Amartya Sen2, é importante para que não sejam olvidados outros aspectos, como sexuais, sociais, diferenças em razão da localização territorial, idade, questões epidemiológicas, pertencimento a certas coletividades, enfim, variáveis a partir das quais surgem obstáculos para que algumas pessoas ou grupos de indivíduos participem da vida em comunidade.
“Uma pessoa com renda elevada, mas sem oportunidade de participação política não é ‘pobre’ no sentido usual, porém claramente é pobre no que diz respeito a uma liberdade importante”3. É também o caso de alguém com boas condições financeiras, mas com grave problema de saúde, que chega a comprometer a sua própria capacidade de acessar a justiça. Em razão dessas circunstâncias, essas pessoas podem receber benefícios específicos, como aquelas decorrentes de uma política afirmativa ou a previsão legal de certas vantagens processuais, que podem evenvolver a gratuidade de taxas judiciárias, a assistência jurídica pública, a distribuição do ônus da prova etc., a fim de equilibrar a balança.
Justifica-se, portanto, por que no presente estudo se utilizou a ideia de vulnerabilidade, em lugar do tradicional enfrentamento dos temas (acesso à justiça, participação, processos etc.) sob o ângulo da pobreza (em seu sentido mais estrito
senão incompleto – de ausência de rendimentos monetários). Além disso, não se desconsiderará que aquelas causas (denominados acima como fatores de vulnerabilidade), em geral, não estarão dissociadas umas das outras e serão verificáveis em conjunto, gerando uma espécie de interseccionalidade ou hipervulnerabilidade. A linha condutora do trabalho encontra-se na “participação” como aspecto que contribui para uma maior ou menor incidência desses fatores (e se revela, ela própria, como um deles, quando ausente), o que será levado em conta desde a perspectiva inicial do estudo.
A evolução do processo para incluir também as ações coletivas, ao lado das individuais, possui também um significado político e social. Nenhuma novidade há nisso, embora em alguns a afirmação cause um certo estranhamento. Evidentemente, aqui a referência é ao “sentido mais nobre da expressão, sem nada de vinculado à política partidária, na medida em que a facilitação da Ação Coletiva pode constituir um fator de correção ou pelo menos de atenuação de certa desigualdade substancial das partes”4, como anotava Barbosa Moreira há mais de trinta anos, em artigo no qual analisou as ações coletivas na então nova Constituição Federal da República Federativa do Brasil.
3 Ibid., p. 117.
p. 187.
No primeiro capítulo deste livro, busca-se investigar a relação entre grupos vulneráveis e a evolução do Estado de Direito. Essa discussão, apesar de aparentemente se encontrar desvinculada da proposta central do estudo, justifica-se por ser fundamental compreender os movimentos que se sucedem nos últimos séculos, guiados por uma linha que, em sua ponta inicial, parte da ideia de limitação do poder e do ideal de liberdade e igualdade universal, chegando até os dias atuais influenciando fortemente o delineamento da organização do Estado de Democrático de Direito, no qual a nota libertária-igualitária é acompanhada pela possibilidade de efetiva participação nos rumos da coisa pública. Embora isso seja mais frequentemente analisado no campo eminentemente político (nas esferas do Executivo e do Legislativo), também se aplica ao âmbito do sistema de justiça. Sem descuidar de suas raízes históricas, é nesse contexto que a ação popular será analisada no presente trabalho, enquanto instrumento de participação que contribui com o processo de inclusão por meio da tutela de interesses coletivos, atentando-se para a necessidade de adaptações para a melhoria desta garantia constitucional à luz de sua função moderna.
Nesse sentido, verificar-se-á de que modo as revoluções ocorridas nos séculos XVII e XVIII, especialmente a francesa, deram início a um ciclo, com propensão universal, que ainda não se completou totalmente, voltado à busca de inclusão e participação na formação da vontade pública. Traçando-se uma linha de pensamento que se inicia com o crepúsculo de uma visão meramente organicista, encadeando-se as cenas seguintes, com o surgimento do Estado Liberal e sua posterior evolução para o Estado Social e, finalmente, o chamado Estado Democrático, observa-se a constante permanência de coletividades à margem das estruturas sociais decisórias, dentro de um processo histórico marcado pela contínua busca por igualdade e liberdade.
A ideia de liberdade pressupõe a igualdade social, que se expressa através dos pressupostos fáticos necessários ao seu exercício. Em seu aspecto jurídico-processual, a liberdade cristaliza-se no status activus processualis5, que representa a materialização do conjunto das normas e formas que regulam a participação no processo. Segundo a classificação desenvolvida por Jellinek6, a partir da posição da pessoa é possível identificar quatro status com relação aos seus direitos fundamentais: o negativo (status libertatis), relativo à esfera de liberdade do indivíduo frente ao Estado, revelando uma esfera de não intervenção; o passivo (status subjectionis ou subserviente), esse concernente às obrigações do indivíduo face a sua
5 HÄBERLE, Peter. Dimensões dos direitos fundamentais à luz de uma comparação de níveis textuais de constituições. Revista de Direito Público, Brasília, v. 11, n. 55, p. 183-190, 2014.
6 JELLINEK, Georg. Teoría General Del Estado [Allgemeine Staatslehre]. Tradução de Ferando de Los Rios. México: Fondo de Cultura Económica, 2000. p. 388-391.
sujeição ao Estado; o positivo (status civitatis), tido como a capacidade protegida juridicamente de exigir prestações positivas do Estado, ou seja, o direito do cidadão à atuação estatal positiva; o ativo (status activus ou da cidadania ativa), que se relaciona com os direitos que tenham como objeto a participação do cidadão na formação da vontade estatal. Diz respeito, portanto, à participação do indivíduo na construção e no desenvolvimento da sociedade de que faz parte.
O status ativo (status activus) é decorrência de uma posição mais ampla da personalidade, alcançando a participação na atividade do Estado. “Daí resulta, então, uma situação de cidadão ativo, que na concepção dos antigos equivale a dizer, simplesmente, cidadão (tradução nossa)”7. A partir da abordagem de Jellinek, Peter Härbele desenvolve derivações do status ativo, quais sejam: o status activus politicus e o status activus processualis8 . Essas ramificações relacionam-se com a capacidade de participar dos procedimentos dos quais resultam a formação da vontade do poder público, manifestando-se, sendo ouvido e, mais do que isso, podendo influenciar realmente no destino destes processos.
O status activus politicus dos direitos fundamentais diz respeito aos direitos de participação, também designados como direitos de configuração. É decorrente da relação entre muitos direitos fundamentais e seu aspecto público, político e democrático, como é o caso da liberdade de reunião ou de manifestação. Inclui-se aí, tradicionalmente, o direito de participar da vida política por meio das eleições, exercitando o direito ao voto ou de ser votado. Por sua vez, o status activus processualis se refere à proteção dos direitos através da organização e do processo.
A salvaguarda dos direitos de cidadãos e de grupos (status corporativus) exige a necessária atuação por parte do Estado neste aspecto.
No segundo capítulo, considerando a estreita relação entre a participação política, o princípio democrático, o exercício da cidadania, a atividade judicial e o processo, aborda-se questões envolvendo o papel dos tribunais frente à efetivação do quadro normativo, a polêmica em torno da atividade de criação do direito, o acesso à justiça à luz do Estado Direito e a contribuição do Projeto Florença (Florence Access-to-Justice Project), especialmente no que concerne aos obstáculos concernentes à tutela de direitos coletivos. Será ainda objeto de análise a relação entre processo, democracia e participação.
O acesso à justiça, como liberdade fundamental, vale também em relação aos grupos e aos seus interesses? Se a resposta for positiva, é possível afirmar que
7 “De aquí resulta, pues, una situación de ciudadano activo, que en la concepción de los antiguos es tanto como decir simplemente de ciudadano” (JELLINEK, Georg. Teoría General Del Estado [Allgemeine Staatslehre]. Tradução de Ferando de Los Rios. México: Fondo de Cultura Económica, 2000. p. 391).
8 HÄBERLE, Peter. Dimensões dos direitos fundamentais à luz de uma comparação de níveis textuais de constituições. Revista de Direito Público, Brasília, v. 11, n. 55, p. 183-190, 2014.
a liberdade se materializa também no acesso à justiça pelas coletividades. É certo que, diante da complexidade da sociedade moderna a Justiça não é invocada somente em face de violações individuais, mas em questões que envolvem indivíduos, grupos, classes e reagrupamentos espontâneos (os corpi intermedi ou corpos intermediários)9. Não por acaso os diplomas modernos, incluindo as cartas constitucionais, vão além dos direitos individuais de inspiração liberal, prevendo os metaindividuais. Esta é uma das notas caracterizadoras do Direito judiciário contemporâneo. Negar o fenômeno e as transformações que daí decorrem, insistindo em um modelo de caráter eminentemente individualista, equivale à negação de justiciabilidade nessas situações jurídicas coletivas.
Uma vez estabelecida essa premissa, surge a questão de se saber quem é o legitimado (quem tem o locus standi ou standing) para representar o interesse coletivo em juízo, ou seja, quem é a justa parte para agir em processos que envolvem interesses difusos. O terceiro capítulo busca analisar o acesso à tutela coletiva direta, com vistas à abordagem da ação popular e seus aspectos processuais. Pontos inevitáveis, como os modelos de tutela coletiva e a questão em torno da legitimação do sujeito, membro ou não do grupo, estão presentes. Além disso, serão realizadas, de maneira tangencial, outras abordagens cujas fronteiras tocam o tema central, a exemplo do papel das instituições e da assistência jurídica. Esta última na perspectiva de contribuir para o desenvolvimento de um garantismo social ou coletivo às camadas mais vulnerabilizadas, o qual, ao lado do garantismo individual, refere-se às garantias processuais (em particular ao contraditório) nas ações coletivas, englobando o direito de ter voz (fair hearing) nestes processos. Para a organização deste livro, duas obras contribuíram significativamente: “Como Se Faz uma Tese”, de Humberto Eco10, e “A Estrutura das Revoluções Científicas”, de Thomas Kuhn11. A primeira, especialmente no tocante à seleção de materiais, registros de pontos relevantes e cruzamento de informações de fontes diversas. A segunda, no que diz respeito à estruturação mental das ideias, a partir da concepção da ciência normal, paradigma e revoluções cientificas.
Em suma, neste livro, pretendo analisar a ação popular e os demais institutos abordados ao longo dos capítulos considerando o atual paradigma no qual estão inseridos, o que não será impeditivo – em certos casos será uma exigência - para mirar os olhos sob antigas perspectivas.
9 CAPPELLETTI, Mauro. Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 5, p. 128-159, jan./mar. 1997.
10 ECO, Humberto. Como se faz uma tese. 27. ed. São Paulo: Perspectiva, 2019.
11 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. 12. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013. E-book.
Capítulo 1
o desenVolViMento do estAdo de direito sob A PersPectiVA dA inclusão de indiVíduos e GruPos VulneráVeis
O presente capítulo busca investigar a relação entre grupos vulneráveis e a evolução do Estado de Direito. Nesse sentido, demostra-se que as revoluções ocorridas nos séculos XVII e XVIII, especialmente a francesa, deram início a um ciclo, com propensão universal, que ainda não se completou totalmente, voltado para a busca de inclusão e participação na formação da vontade pública. Traça-se uma linha de pensamento que se inicia com o obscurecimento de uma visão meramente organicista, encadeando-se as cenas seguintes, com o surgimento do Estado Liberal e sua posterior evolução para o Estado Social e, finalmente, o chamado Estado Democrático, observando-se a constante permanência de coletividades à margem das estruturas sociais decisórias, dentro de um processo histórico marcado pela contínua busca pela igualdade e liberdade.
O termo “liberdade”, até as revoluções oitocentistas, se ligava à ideia de liberdade restaurada, incluindo os chamados direitos civis. Excluído, todavia, o direito (político) de participar nos assuntos públicos. É o que observou Hanna Arendt, indicando que aqueles direitos (civis) “resultam da libertação, mas não são de modo algum o conteúdo real liberdade, cuja essência é a admissão no âmbito público e a sua participação nos assuntos públicos”12. Libertação, para Arendt13, é uma condição da liberdade, embora não seja dela resultado necessário (pode haver libertação sem que daí resulte a liberdade). A primeira (libertação) relaciona-se com o livrar-se da opressão. A segunda (liberdade) tem a ver com a possiblidade de viver uma vida política. Portanto, é a capacidade de participar. Essa liberdade, ligada a esse modo de vida político, só pode se desenvolver na república14. Seu ambiente, por excelência, é a democracia15.
12 ARENDT, Hannah. Liberdade para ser livre: condição e significado da revolução. Tradução de Pedro Duarte. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2018. E-book Kindle.
13 Ibid.
14 Ibid. A autora observa ainda que a libertação da opressão pode ser realizada na monarquia, desde que não seja tirânica. No entanto, no que diz respeito à liberdade (participação na vida política), somente a em uma república pode se desenvolver.
15 Em seu aspecto jurídico-processual, a liberdade cristaliza-se no status activus processualis, que representa a materialização do conjunto das normas e formas que regulam a participação processual. No âmbito da tutela coletiva, a legitimação do indivíduo é, no Brasil, reconhecida através da ação popular.
É isso que buscam as revoluções: tanto libertação quanto liberdade. A última exige igualdade entre pares. Para atingi-la, é preciso a libertação, que significa estar livre para a liberdade, tanto no que diz respeito à opressão (do poder despótico ou absoluto, nos tempos das revoluções oitocentistas), mas também das necessidades (como aquelas decorrentes da pobreza, aqui considerada em sentido amplo, como indicado na introdução deste trabalho). Foi a revolução francesa que mostrou que a liberdade para ser livre tem sido um privilégio de poucos e, “embora tenha terminado em um lúgubre fracasso, permaneceu decisiva para todas as revoluções posteriores. Ela mostrou o que significava na prática a nova fórmula, a saber: todos os homens são criados iguais”16.
A evolução do processo para incluir também as ações coletivas, ao lado das individuais, possui também um significado político e social. Evidentemente, aqui a referência é ao “sentido mais nobre da expressão, sem nada vinculado à política partidária, na medida em que a facilitação da Ação Coletiva pode constituir um fator de correção ou pelo menos de atenuação de certa desigualdade substancial das partes”17.
A estreita relação entre a participação política e o que hoje se denomina grupos vulneráveis indica o foco e os limites deste capítulo. Nele se fará uma digressão, importante para o desenvolvimento e compreensão dos capítulos seguintes, embora cada um deles possa ser lido de maneira isolada. Serão ainda realizadas, de maneira tangencial, outras abordagens cujas fronteiras com o tema central (do capítulo) não sejam muito claras.
Além disso, a abordagem deste capítulo com relação ao conceito de vulneráveis se dará a partir, sobretudo, da teoria política, relativamente à constatação da existência de grupos cujos membros são identificáveis por elementos comuns, que os colocam, em considerável grau, em desvantagem social, à margem da participação na esfera pública e da efetivação de direitos e que, no processo histórico, buscam inclusão, impulsionados por um ideal igualitário. Ao longo do texto, procurar-se-á demonstrar as evidências que levam a essas conclusões. Pontua-se, desde logo, que tais desvantagens podem decorrer de fatores conscientes ou, até mesmo, de forma inconsciente, neste último caso como resultado de vieses cognitivos, de preconceitos implícitos gerados a partir do próprio estigma social ligado ao grupo ao qual a pessoa em desvantagem é relacionada18, o que pode explicar o motivo pelo qual muitas pessoas não conseguem visualizar ou mesmo negam a
16 ARENDT, Hannah. Liberdade para ser livre: condição e significado da revolução. Tradução de Pedro Duarte. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2018. E-book Kindle.
17 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ações coletivas na constituição federal de 1988. Revista de Processo, São Paulo, v. 61, jan. 1991. p. 187.
18 KAHNEMAN, Daniel. Rápido e devagar: duas formas de pensar. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. No Brasil, o tema foi abordado, entre outros, por: MARMELSTEIN, George. Discriminação por preconceito implícito. Salvador: Juspodivm, 2021.
existência destes fatos. Com efeito, o cérebro humano tende a preencher lacunas e resolver problemas por meio de esquemas pré-existentes, heurísticas que viabilizam rápidas associações mentais, influenciados pelas crenças e experiências pretéritas do sujeito, incluindo seus preconceitos inconscientes. O cérebro humano é mais receptível às informações que confirmam as crenças previamente internalizadas pelo indivíduo, e mais rigoroso com aquelas que as contrariam, as quais tendem a ser repelidas sumariamente. Resulta dessas questões não ser incomum a existência desses viesses, entendidos como uma visão enviesada, é dizer, uma falha de percepção (inconsciente) que pode resultar em impactos desfavoráveis e tratamentos discriminatórios para membros de grupos estigmatizados, gerando desvantagens sociais.
1.1. A identiFicAção dA PessoA A PArtir do status deriVAdo de uM GruPo e A VAlorizAção dA iGuAldAde
De forma mais geral, pode-se afirmar que há uma tendência natural dos seres humanos à reunião e à manutenção de grupos, o que remonta a tempos e formas de sociedades imemoriais e decorre da necessidade de cooperação para a sobrevivência de todos os membros envolvidos. Na teoria dos jogos, trata-se do que se denomina de jogo de soma não zero, no sentido de ser aquele em que há ganhos recíprocos e em que os interesses das partes são, em alguma medida, idênticos, em oposição aquele no qual somente um ou uma parte pode ganhar, em detrimento de outros (portanto, de soma zero)19.
A leitura que se tem feito da história demonstra a existência de uma constante busca de espaços por grupos historicamente excluídos, os quais, incessantemente, procuram participar da vida pública política, como sujeitos de direitos. O cenário atual, que começa com o advento do Estado Moderno, é assim marcado, desde as investidas contra o absolutismo, identificando-se, já naquele período, os anseios de certos movimentos que, não se sabe ao certo se de forma proposital, conduziram o povo (aqui em referência à maior parte da população, excluída) ou a nação às revoluções do final dos séculos XVII (na Inglaterra) e XVIII (nos Estados Unidos e França). Especialmente no último caso, o movimento possuía um propósito universal, de ideologia universalista – traço que o distinguia dos documentos ingleses (Magna Carta, Bill of Rights, Instrumento of Government) e americanos (Cartas Coloniais e Pacto Federativo da Filadélfia) –, culminando com a proclamação da Declaração dos Direitos do Homem (1789), “uma declaração de compromisso ideológico definido, mas que nem por isso deixou de lograr expansão ilimitada”20.
19 MACHADO, Hugo de Brito. O direito e a sua ciência: uma introdução à epistemologia jurídica. 2. ed. Indaiatuba: Editora Foco, 2021. Edição Kindle.
20 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 586.
Antes disso, é dizer, até o chamado Antigo Regime, em um período pré-constitucional, verificava-se um sistema social baseado em radical pluralidade de status humanos: nobres, eclesiásticos, burgueses, católicos, praticantes de outras religiões, pai e filhos, homens e mulheres etc. O homem não exista enquanto sujeito individualizado, sobretudo para o direito. A própria noção de pessoa era aleatória e se traduzia em composições transpessoais, representando um coletivo de indivíduos. Como informa Bartolomé Clavero, uma “unidade de muitas pessoas”21, expressão etimologicamente paradoxal, mas que bem descreve o contexto. Enfim, uma ficção, gênero de representação que figurava mais visível do que o próprio corpo individual, considerado somente sob o aspecto fisiológico-material puro (assunto, portanto, da medicina) ou em uma perspectiva mística (matéria da teologia, sintetizada na frase “anima est plus quam corpus”22). O corpus aparecia como referência aos entes coletivos, como as corporações. Em alguns tratados encontra-se referência à pessoa miserável, mas como objeto de amparo e não como sujeito individualizado. Outros documentos reservavam especial consideração à mulher, aos familiares, aos religiosos, a outros estamentos, porém, sempre na perspectiva de status de um grupo.
Nesse sentido, estudo realizado por Vitor Hugo Siqueira de Assis, ao analisar as questões em torno da necessidade de nomeação de curadores à pessoas escravizadas, em ações de liberdade, aponta a celeuma que ocorria a partir da previsão do título 5, §§ 3º a 5º, livro três, das Ordenações Filipinas, em que se dispunha que órfãos, viúvas ou outras pessoas miseráveis poderiam escolher curadores a fim de suprir suas incapacidades em administrar seus interesses, sendo que o conceito de miserável não era estabelecido pela norma, o que motivava debates sobre seu alcance, para ampliá-lo ou restringi-lo. Ainda, observa que, com a edição do Aviso 61, determinou-se “que fossem considerados miseráveis, para os termos da lei, os pobres, os cativos, os presos em cumprimento de sentença, os loucos, entre outros”23, ou seja, mesmo editado já em 1843, o diploma ainda adotava aquela lógica. Em outro trecho do seu trabalho, ao mencionar o Aviso 25 de 1843, o autor observa que a população de escravizados era inserida na categoria jurídica de miseráveis, juntamente com viúvas e órfãos24. Com efeito, o termo miserabilis era conceito vago e se referia a todo aquele cuja natureza move o amparo por piedade, inicialmente ligado à jurisdição eclesiástica. “Poderiam ser percebidos como miseráveis: viúvas, cegos, incapazes, velhos, cristãos-novos, estudantes, peregrinos, mercadores estrangeiros, escravos alforriados, penitentes públicos, órfãos, crianças, leprosos, enjeitados25.
21 CLAVERO, Bartolomé. Sujeto de derecho: entre estado, género y cultura. Santiago: Ediciones Olejnik, 2016. p. 21.
22 O princípio vital (ou a alma) é mais do que um organismo (tradução nossa).
23 ASSIS, Victor Hugo Siqueira de. Entre togas e grilhões: o acesso à justiça dos escravizados no Maranhão oitocentista (18601888). 2020. 170 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2020. p. 40.
24 Ibid., p. 76.
25 FRANCO, Renato; PATUZZI, Silvia. Governar a miséria: escravidão, pobreza e caridade na América portuguesa no início do século XVIII. Revista de História, n. 17, p. 1-27, 2019.
A capacidade do sujeito se produzia mediante seu enquadramento e sua participação em determinado agrupamento (por corporação ou linhagem) e, conseguintemente, nos estados, havendo aí uma modulação do sujeito individualmente considerado. O ser humano não existia como tal para o direito. O conceito de sujeito, como individualidade, era tema, para este, desconhecido, já que o ordenamento não reconhecia uma categoria própria de indivíduo.
Essa pluralidade, do medievo até o fim do Antigo Regime (séculos V ao XVIII), em alguma medida também aparece no pluralismo jurídico, com a convivência de diversos ordenamentos jurídicos (inclusive dentro de uma mesma comunidade ou reino), entendidos como conjunto de regras (ainda não sob a forma de sistemas), que coexistiam e se relacionavam com um direito comum na Europa ocidental, alcançando as possessões ultramarinas europeias na América e partes da África e da Ásia, como informa estudo feito e publicado por Gustavo César Machado26.
Em um sistema baseado em corporações, não havia preocupação com o indivíduo e, portanto, com a igualdade. Cada um ocupava lugar e função natural. Ausente a separação entre pessoa (tradicionalmente, algo que se possuía e não o que se era) e coisa. A personalidade, em decorrência, não se definia como individualidade, mas pelo status, por estado ou condição social, política ou familiar:
El mismo substantivo de individuo, término al cabo también antiguo, como unidad que se entiende indivisible, igual más tarde que átomo, irá asentándose para significar el componente humano o miembro de um cuerpo colectivo, la entidad social que así entonces importa, pues no lo hace el hombre mismo cual criatura suficiente27.
Essa forma de pensar vai sendo remoldada com o passar dos séculos. Segundo a teoria da dupla herança, a evolução humana se caracteriza pelo entrelaçamento de dois tipos de legados: o genético e o cultural, esta considerada como a informação capaz de afetar o comportamento dos indivíduos, sendo adquirida de outras pessoas e transmitidas socialmente, a partir da tradição, do ensino, da observação, da imitação e por outras formas variadas. Neste contexto, um povo ou uma sociedade adquire, através de uma espécie de aprendizado social, crenças, valores e habilidades que persistem na linguagem, no costume, nos valores morais etc., formando o que pode ser chamado de pensamento populacional28.
26 CABRAL, Gustavo César Machado. Ius commune: uma introdução à história do direito comum do medievo à Idade Moderna. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 132.
27 CLAVERO, Bartolomé. Sujeto de derecho: entre estado, género y cultura. Santiago: Ediciones Olejnik, 2016. p. 42.
28 Sobre a teoria da dupla herança e sua relação com a formação do pensamento jurídico, ver: ALMEIDA, Fábio Portela Lopes de. As origens evolutivas da cooperação humana e suas implicações para a teoria do direito. Revista Direito GV, São Paulo, 9 (1), p. 243-268, jan./jun. 2013.
Por meio da acumulação cultural, cada geração é capaz de agregar melhorias aos valores da anterior, assim como transmiti-las à seguinte29. Certas variantes culturais, que dependem de determinadas forças, sejam aleatórias, sejam aquelas que derivam da tomada de decisões, se disseminam, enquanto outras tendem a desaparecer neste processo. Assim como os genes, a cultura forma um sistema de herança, que evolui com o tempo e envolve várias gerações. Segundo esta perspectiva, ao lado da triagem genética, a dinâmica da evolução cultural possibilita condições para que ocorra, também, uma seleção de valores e de grupos, considerando, inclusive, que os conflitos entre eles constituem fator comum ao longo da história.
Como consequência, desenvolve-se uma espécie de mente normativa, é dizer, capaz de racionar a partir de normas sociais. Composta por uma rede cultural identificável através de marcadores simbólicos, que sinalizam a pertença à determinada comunidade moral a partir da verificação da aplicação das próprias regras que fazem parte de sua cultura, dão origem aos sistemas normativos humanos (direito, moral, religião). Os marcadores simbólicos, portanto, são valores morais comuns, compartilhados por uma comunidade, que ligam um indivíduo emocionalmente ao grupo e servem para identificar quem pertence ou não a ele (hinos, bandeiras, uniforme, língua etc.).
Esse processo revela uma das formas que podem servir para justificar racionalmente a formação de uma psicologia humana que valoriza a igualdade, caracterizada pela adoção de mentes normativas igualitárias. “Nossos ancestrais tornaram-se igualitários em razão de fatores culturais – que, em contrapartida, favorecem a seleção de uma psicologia igualitária”30 que impulsiona ao ideal de hierarquia representada por uma pirâmide invertida, na qual, diversamente do que seria esperado em um escalonamento tradicional, quem está no topo deve obediência às normas comunitárias, e não o contrário.
Aquela antiga forma de pensar se obscurece durante a Idade Moderna31, dando lugar a uma antropologia individualista, rumando a uma categoria de ho-
29 Nesse cenário, a antiga actio popularis e o moderno conceito de ação popular, por exemplo, se relacionam e devem ser levados em consideração para o estudo e o aprimoramento do instrumento processual.
30 ALMEIDA, Fábio Portela Lopes de. As origens evolutivas da cooperação humana e suas implicações para a teoria do direito.
Revista Direito GV, São Paulo, 9 (1), p. 243-268, jan./jun. 2013.
31 Como esclarece Hespanha, “[...] pré-modernidade, modernidade e pós-modernidade são termos correntes na teoria social contemporânea para designar – embora com indecisões e discrepâncias temporais e conceituais – grandes épocas de autocompreensão do mundo humano, pelo menos durante o último milénio” (HESPANHA, António Manuel. A cultura jurídica europeia: síntese de um milênio. Coimbra: Almedina, 2012. p. 91). Seguindo esta linha, adota-se aqui a divisão que classifica os períodos em Idade Antiga (que tem como marco final a queda do Império Romano do Ocidente - 476 d. c., ou seja, até o século V), Idade Média ou Medievo (que vai desde o século V até o século XV, tendo como marco final a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453), Idade Moderna (que se estende do final do século XV até as Revoluções no século XVIII, mais especificamente a francesa, em 1789) e Pós-moderna (que se estende até os dias atuais). No contexto da Idade Moderna estará inserido o Antigo Regime (situado entre o fim do medievo até seu ocaso, com as revoluções do final do século XVIII). Em algumas menções à modernidade, todavia, estar-se-á a se referir ao período que se estende até os dias atuais, inclusive como forma de evitar confusões decorrentes dos debates acerca do início ou das etapas da pós-modernidade (primeira e segunda
