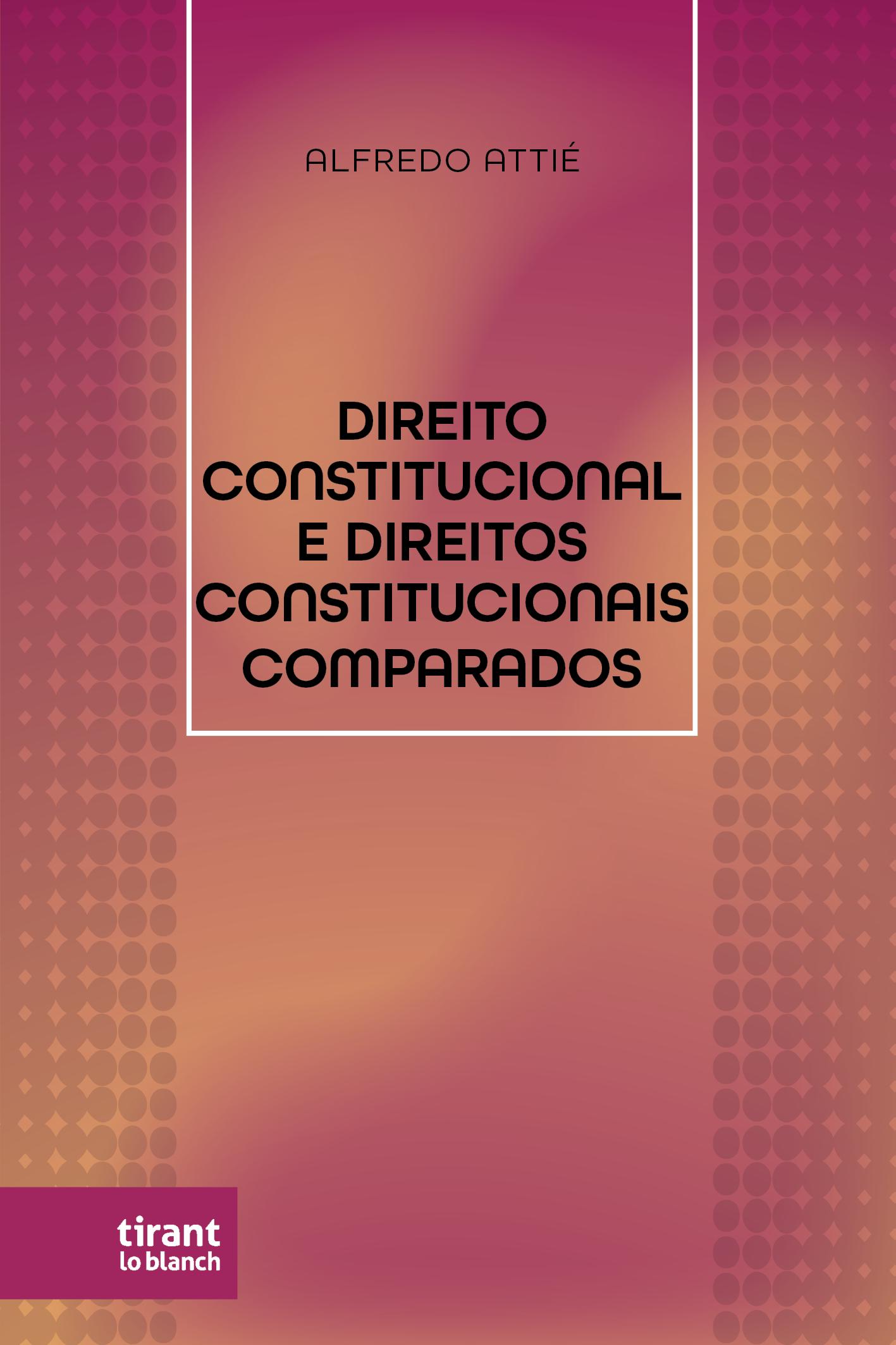
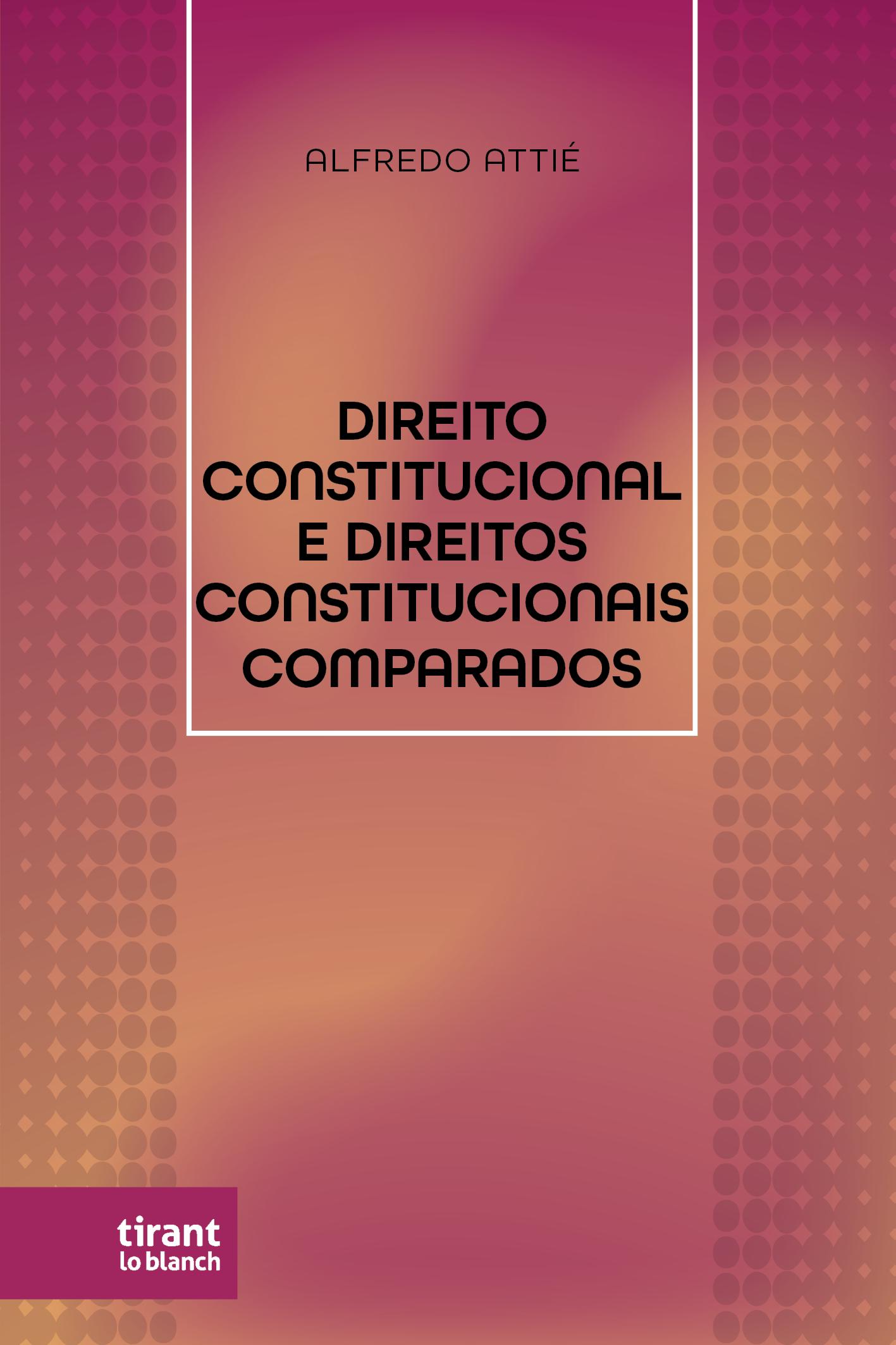
Alfredo
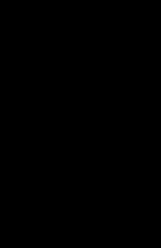
Direito ConstituCional e Direitos ConstituCionais ComparaDos
Copyright© Tirant lo Blanch Brasil
Editor Responsável: Aline Gostinski
Assistente Editorial: Izabela Eid
Capa e diagramação: Jéssica Razia
CONSELHO EDITORIAL CIENTÍFICO:
eDuarDo Ferrer maC-GreGor poisot
Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Investigador do Instituto de Investigações Jurídicas da UNAM - México
Juarez tavares
Catedrático de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil
luis lópez Guerra
Ex Magistrado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Catedrático de Direito Constitucional da Universidade Carlos III de Madrid - Espanha
owen m. Fiss
Catedrático Emérito de Teoria de Direito da Universidade de Yale - EUA
tomás s. vives antón
Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência - Espanha
A895 Attié, Alfredo
Direito constitucional e direitos constitucionais comparados [livro eletrônico] / Alfredo Attié. - 1.ed. –São Paulo : Tirant lo Blanch, 2023.
3.016 kb; livro digital
ISBN: 978-65-5908-640-5.
1. Direito constitucional. 2. Direitos constitucionais comparados. I. Título.
CDU: 342

Bibliotecária Elisabete Cândida da Silva CRB-8/6778
DOI: 10.53071/boo-2023-08-10-64d53b3b73b42
É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art.184 e §§, Lei n° 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei n°9.610/98).
Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch.
Fone: 11 2894 7330 / Email: editora@tirant.com / atendimento@tirant.com
tirant.com/br - editorial.tirant.com/br/
Impresso no Brasil / Printed in Brazil
Alfredo Attié
Direito ConstituCional e Direitos ConstituCionais ComparaDos
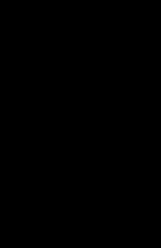
o autor
Alfredo Attié é jurista, filósofo e escritor, Doutor em Filosofia da Universidade de São Paulo, onde estudou direito e história. É Presidente da Academia Paulista de Direito e Titular da Cadeira San Tiago Dantas, na qual sucede a Goffredo da Silva Telles Jr. Autor dos livros Brasil em Tempo Acelerado: Política e Direito (São Paulo: Tirant Brasil), 2021, e Towards International Law of Democracy (Valencia: Tirant Lo Blanch), 2022. Escreveu, ainda, A Reconstrução do Direito: Existência. Liberdade, Diversidade (Porto Alegre: Fabris, 2003), publicação de estudo pioneiro (Sobre a Alteridade: Para uma Crítica da Antropologia do Direito, São Paulo: USP, 1987), a respeito do tema da alteridade e de crítica à antropologia do direito permanência do colonialismo, e Montesquieu (Lisboa: Chiado, 2018), estudo também pioneiro (Tópica das Paixões e Estilo Moraliste, São Paulo: USP, 2000) sobre a vinculação de estilo e projeto político, no século das Revoluções e do nascimento do constitucionalismo.
Também é Mestre em Filosofia e Teoria do Direito pela FD.USP, e em Direito Comparado pela Cumberland School of Law, foi Procurador do Estado de São Paulo e Advogado, exerce a função de desembargador na Justiça paulista e é membro de instituições internacionais.
Site: http://apd.org.br; E-mail: aattiejr@gmail.com; Mais informações em http://lattes.cnpq.br/8117126316669740.
introDução
1. toDa vez que toCamos o tema Da Constituição, resvalamos a inquietante questão Da relação entre Direito e polítiCa
Direito e política são dois modos de
a) criar relações sociais,
b) pensar relações sociais, e
c) agir em relações sociais.
Constituem-se, assim, como
dinâmicas ou processos da experiência e do pensamento da sociedade.
Relações sociais é um termo de significado bastante amplo. Abarca tudo aquilo que transcende a ipseidade, ou seja, o caráter pretensamente único do ente individual. Podemos dizer que as relações são sociais quando referem expressões de comunicação e de ação e paixão comuns, não circunscritas ao humano, mas igualmente designando o relacionamento de pessoas e coisas materiais e imateriais. Na tradição jurídica, por influência do estoicismo, o chamado direito natural envolveria o cuidado do humano, do animal e da natureza. O jurista fenício-romano Ulpiano (nascido em Tiro, na Fenícia, em 150, e falecido em Roma, sede do Império Romano, em 223) afirmava que o direito era comum a todos os seres. Em decorrência disso, a sociabilidade
não se limitaria aos encontros interindividuais, sendo o social uma característica comum a coisas e humanos. Portanto, as relações jurídicas, políticas, culturais, civis, econômicas são espécies do gênero relação social.
Para dizer criar, pensar e agir, os antigos helenos possuíam, entre outros, os verbos ποιέω, θεωρέω e πράσσω - no infinitivo, poíein, theorein e prassein. -, assim designando essas capacidades de produzir, observar e atuar, portanto, construindo, imaginando e ocupando mundos possíveis para a realização de desenhos, desejos e projetos comuns, a partir da transformação de conflitos a propósito dos sentimentos, das intenções e pretensões de cada um dos componentes de uma comunidade, ou de cada comunidade. Precisamente, por ter sido a cidade - πόλις - a comunidade mais completa – na medida em que possuía e conferia autonomia - αὐταρχία -, e visava a um destino – δαίμων - que integrasse todos os destinos, e que se extraía das indagações e das intenções de seus vários componentes, coordenando o caminho para a realização daquilo que se chamava bem viver (εὐ ζῆν) -, podemos afirmar que o direito e a política se tornaram, então, modos da existência social na cidade.
A cidade foi o contexto em que nasceram conjugados e se desenvolveram a política e o direito.1
1 v. ATTIÉ, Alfredo. Brasil em Tempo Acelerado: Política e Direito. São Paulo: Tirant, 2022.
O termo contexto refere não apenas o espaço, mas igualmente o tempo, e, ainda, a linguagem, que encaminharam ao ser da política e do direito.
É, portanto, no interior desse contexto ou configuração, que temos de começar nossa tarefa de discernir o que seria tipicamente constitucional.
Estamos acostumados, na doutrina jurídica tradicional e ainda vigente, a entender como constitucional aquilo que faz parte de um conjunto de normas, que reunimos sob o nome de Constituição. Essas normas podem ser escritas ou não, mas guardam um aspecto formal, que é a imposição ou obrigatoriedade decorrente exclusivamente do mandamento, que lhes é ínsito e superior, que determina seu cumprimento. Nesse sentido, a Constituição seria o conjunto de normas que regulam certos aspectos da vida social, considerados mais importantes que outros, estes últimos que são deixados à regulação de normas consideradas hierarquicamente inferiores às constitucionais.
Quais seriam essas normas mais importantes? Penso que, ao interpretarmos essa mesma doutrina tradicional, haveria dois modos de responder a tal questão. Uma primeira faria apelo a uma concepção cheia ou integral desse conteúdo normativo constitucional, que assim preencheria todos os claros da cosmovisão da Constituição, por meio do recurso a aspectos culturais e fórmulas oriundas da tradição. Vou chamar essa concepção de compreensão contextual da Constituição.
Para ela, as normas constitucionais são preenchidas em seu conteúdo por estruturas da sociedade, visíveis e invisíveis, que lhe concedem o modo como a Constituição é configurada, aparentemente, independentemente da vontade das pessoas que exercem o poder em determinado instante. Pense-se na Constituição inglesa, que corresponde a um conjunto de normas escritas e não escritas, nas quais releva o fator anti-histórico, que se compraz na imobilidade, a permanência daquilo que expressa como rito, e se nega a questionar sua origem. Seria uma Constituição que pensa a norma não como comando, propriamente, mas, segundo a raiz etimológica da palavra, como normalidade. O estado do que se considera normal – no que milita um juízo que se deseja neutro, escondendo o fato de que o que se apresenta como normal ou natural, em realidade resulta de um ato ou processo – serie de atos encadeados - de escolha, que, por meio de mecanismos de coerção, mais ou menos aparentes ou explícitos, e mecanismos de convencimento ou de conveniência, passam a ser transmitidos e, no final de certo período, vistos como uma disposição cômoda e conveniente do papel das coisas e das pessoas. Esse processo corresponderia ao de invenção e consolidação de tradições.
Há a concepção relativamente oposta a essa primeira, que é a compreensão textual da Constituição.
As normas constitucionais, aqui, seriam aquelas escolhidas, por alguma tomada de posição, considerada
um ato de vontade, fixado no tempo e no espaço. Há uma escolha que se perfaz por e como um ato de autoridade, daquela pessoa ou das pessoas que detêm o poder, e uma submissão daquelas que estão ou se veem obrigadas a obedecer.
Neste segundo caso, a Constituição é concebida como uma norma, no sentido forte do termo, isto é, de mandamento, comando, ordem, dever.
Essa Constituição-Norma se diz no modo imperativo. O modo imperativo é uma forma de expressão verbal que visa a impelir alguém a agir, na maneira prescrita pelo emissor da mensagem. Usada para emitir ordens, sugestões, pedidos, conselhos, a forma imperativa não deseja resolver-se em sua própria expressão, mas continuar na ação de quem a escuta ou lê e é seu destinatário. Não se contenta em figurar uma situação, por meio das palavras, mas deseja transferir-se para o campo da ação, gerando um liame entre o dizer e o fazer. O modo imperativo rege-se pelo que leva a realizar, portanto, dirige-se ao futuro.
Já a primeira, a Constituição-Normal, expressa-se no modo indicativo. Como forma de expressão verbal, o indicativo visa a comunicar atos e fatos tidos ou apresentados como reais, verdadeiros, verossímeis, fictícios, mesmo irreais e inverídicos, havidos no presente, no passado e no futuro. Pode, igualmente, buscar expressar algo que se dá de modo perene. É exatamente essa permanência ou perenidade que a Constituição-Normal visa a constituir. Portanto, ela visa igualmente
o futuro das relações, muito embora prescreva a repetição.
Nos dois casos, portanto, há uma intenção e pretensão de obter reações a palavras emitidas – mesmo a gestos e silêncios estrategicamente postados. A ordem de composição das palavras, dos gestos e dos silêncios visa a obter respostas por ações, contenções e omissões. A linguagem visa a construir e organizar espaços, tempos, movimentos ou contenções corporais e imagéticas. Assim, há a presença e emprego, nos dois casos, do chamado modo subjuntivo, que faz uso de suposições e hipóteses, uma vez que é preciso impelir a um ou a vários resultados, cadeias de gestos e ações, de fazer e deixar de fazer, gerar desejos e conter sua realização. Trabalhando, assim, com mimese e catarse. A primeira predomina na concepção da Constituição-Contexto; a segunda, na Constituição-Texto. Contudo, ambas compõem o jogo que todos esses modos engendram, na ligação entre práticas e discursos – ditos, não ditos e interditos, em meio a múltiplas insinuações e imaginações.
Nos dois casos, a configuração constitucional das normas segue o modelo jurídico vigente em determinado tempo e espaço. Em ambos, porém, foi o modelo religioso que ofereceu, em primeiro lugar, a justificação epistemológica.
No primeiro, há o recurso a fórmulas ancestrais de convivência, estabelecidas em relações imemoriais, apresentadas como se sempre tivessem estado presentes. O presente é dado apenas como um dos fenôme-
nos dessa trama enredada como uma espécie de círculo da existência, de constante repetição. Numa sociedade marcada por uma impressão - talvez fortemente agrária - dos ciclos da natureza, as estações se sucedem, mas não levam senão ao ponto de partida, de onde se reinicia uma nova jornada, que percorre os mesmos lugares e lhes concede ficticiamente a imagem de tempo.
No segundo, é o modelo do pacto – covenantque se impõe. Nas várias religiões, há a narração de momentos de transformação, pontos de inflexão, pontos críticos que fazem inaugurar uma nova era, apresentada como prefigurada ou prevista nas anteriores, na construção de um caminho de esperança de mudança, para escapar aos sofrimentos do presente. Esse momento de mutação é ocupado por um pacto, que se dá entre a autoridade religiosa e seus súditos. Pacto que estabelece novas regras para a vida comum, preservada a autoridade que o instituiu, com o consentimento de quem vai se submeter a esse novo ordenamento.
No primeiro, unicidade. No segundo, bilateralidade. Os direitos e deveres correlatos estão dispostos no primeiro, como naturais ou inatos. Os direitos e deveres estão postos no segundo, como invenção. Todavia, é importante salientar que, nos dois casos, há uma concessão, apenas no segundo consentida.
Para que fique clara essa distinção, dou dois exemplos.
Para a ordem da unicidade ou contextual constitucional, podemos pensar no fato de a Constituição do
Reino Unido (da Grã-Bretanha - Inglaterra, Escócia e País de Gales - e da Irlanda do Norte) ter seus elementos essenciais derivados da história e não de documentos escritos, assim, essencialmente, as instituições da monarquia e do Parlamento, assim como partes substanciais do direito, no sistema conhecido como common law. O sistema jurídico da common law deriva sua autoridade do trabalho de juízes que, ao longo do tempo, decidiram conflitos. Isso não significa, é preciso sublinhar, que tanto esse sistema quanto as instituições monárquicas e parlamentares não tenham uma origem, no tempo e no espaço, nem que não seja possível investigar e encontrar esse momento, ou, mais precisamente, esse processo fundador. O fato de ser contextual o regime constitucional determina, contudo, que essa perquirição não tenha relevância para a vida e a validade constitucional. Em razão disso, historiadores e juristas controvertem a respeito da necessidade dessa perquirição. Os historiadores diriam que tudo possui uma fonte e uma evolução, enquanto os juristas redarguiriam que a crença no caráter a-histórico ou imemorial das normas constitucionais britânicas é suficiente – e mesmo fundamental - para lhes conferir valor e eficácia.
O segundo exemplo, da concepção textual ou bilateral, pode ser encontrado nos sistemas da maior parte das Constituições ditas ocidentais, inclusive e mesmo fundamentalmente, nos Países que se tornaram independentes após um período de dominação colonial. É, com efeito, típico do processo de independência de um País que suas instituições sejam criadas por um ato de
vontade, que institui normas e instituições em contraposição àquelas que vigoravam e que estavam presentes como representantes do poder dos Países colonizadores ou metrópoles. Por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos da América, que é um documento redigido pelos constituintes e validado por uma publicação que data de 1787, acompanhada de outros documentos, anteriores e posteriores, que conferem estrutura ao sistema jurídico norte-americano.
Em termos religiosos, dos quais derivam essas duas concepções do direito constitucional, os ritos ou cultos realizados pelos vários credos, exemplificam o caráter contextual de sua existência, assim na constante revivescência dos mitos presentes em qualquer religião, em atos sagrados que atualizam constantemente eventos mágicos tomados como verdadeiros por uma comunidade. Já os pactos estipulados pela divindade com seu povo – de que há abundantes exemplos nas religiões monoteístas, em que o deus único, ao eleger seu povo, compromete-se a protege-lo, em troca de submissão a determinados mandamentos – são o modo como são inauguradas novas eras da religiosidade, numa concepção textual constitucional.
Nenhum sistema constitucional existente no Mundo, entretanto, pode ser classificado puramente como contextual ou textual. Sempre há elementos de ambos os regimes, que interagem, para a conformação de uma autoridade que estabilize as estruturas e contenha ou controle os desejos de mudança e discipline o modo de sua expressão.
Muito bem, voltemos, agora, nossa atenção para as consequências dessas duas visões do que seria propriamente constitucional para a relação entre direito e política.
De modo geral, o pensamento político moderno – isto é pós-medieval e pós-renascentista, a partir do século XVII – é tributário da visão de mundo do pacto. Thomas Hobbes é quem inaugura esse percurso, ao estabelecer como modo de constituição da sociedade política – a Commonwealth – o covenant ou pacto por meio do qual os súditos cedem o poder integral ao soberano em troca de segurança, assim evitando a ameaça constante de violência mortal e permitindo o desenvolvimento de suas atividades, que se tornam, então, apolíticas. Há, portanto, uma autoridade superior, que detém o poder integralmente, e súditos que lhe concedem esse poder, mediante não uma troca, mas um consentimento.
Trata-se, assim, de um pacto e não de um contrato. O contrato depende de um encontro de vontades soberanas, que buscam obter algum bem ou serviço em troca de outro bem ou serviço. Há uma igualdade – ao menos relativa - entre os que se fazem partes de um contrato. Em direito privado, isso se chama de caráter sinalagmático dos contratos, também, bilateralidade, no sentido de que há uma correspondência entre as prestações de uma e outra parte, que contratam expressando sua vontade e agindo conforme o que expressam. No pacto, diversamente, não há igualdade das partes,
mas hierarquia. Alguém se encontra numa posição superior. Essa pessoa ou grupo de pessoas – imaginárias, virtuais ou reais - têm a soberania. O soberano oferece um termo aos que não detêm soberania – ou, pode ser, que receba destes um pleito para que se estabeleça um pacto. Teoricamente, o soberano tem a última palavra, seja ofertando, seja acatando o termo ofertado. Quando o pacto se realiza, o soberano se reafirma como soberano, enquanto os súditos obtêm alguma promessa ou vantagem – um compromisso do soberano, que se dirige à instituição de privilégios – em resposta ao que pleitearam ou simplesmente aceitaram.
O que Hobbes introduz, nessa teoria do pacto é uma novidade importante. Ele afirma que o pacto se dá entre aqueles que resolvem - por medo da violência mortal, por refletirem a respeito de certos argumentos racionais, e por desejarem um ambiente em que possam desenvolver-se e a suas atividades - que, como resultado mesmo do pacto, constituir a figura do soberano. Os sujeitos do pacto criam o soberano e se tornam seus súditos. Não há um deus anterior, que firma um pacto com súditos preexistentes. O deus(-mortal) é criado pelo pacto e passa a atuar como soberano. Na terminologia hobbesiana, assim nasce a república, civitas ou Commonwealth. Esses três termos vão se tornar ou dar lugar, mais tarde, à figura do Estado, uma nova experiência na vida política da humanidade, desconhecida na Antiguidade e de inúmeros povos, que, é provável, a tenham intuído e rechaçado por meio da constituição de modos diferentes de organização política.
No pacto, são sujeitos soberano e súditos. No contrato, partes. Disso decorre que o pacto é exterior aos sujeitos que o formalizam. O contrato, ao contrário, é interior às vontades que se encontram para o formar. Aqui, as partes se implicam na relação que entabulam. Lá, os sujeitos se submetem à relação constituída como uma emanação de uma vontade que se impõe. No contrato, há, em princípio, autonomia. No pacto, heteronomia. O contrato as partes compõem. O pacto os sujeitos acatam.
Niccolò Machiavelli, antes de Hobbes, havia empregado o termo Estado, ao afirmar que todos os estados, ou seja, todos os domínios que tiveram e teriam império sobre os homens seriam ou repúblicas ou principados. Para o pensador florentino, Estado e território se assimilam, ambos possuindo como expressão o domínio ou propriedade. Além disso, o governo desse Estado que lhe interessa é o que lhe é exterior, imposto de fora, por alguém que não está implicado na própria sociedade.
É interessante que Hobbes ponha de lado a hipótese de repúblicas soberanas, avançando seu tratado sobre a forma da monarquia. A fortíssima exigência da unidade, que seu pacto propõe, não admite nem que se cogite a existência válida de estados em que haja ou possa haver difusão do poder. Mesmo a memória do texto de Jean Bodin, outro dos antecessores de Hobbes, para o qual a soberania é um atributo de muitos caracteres e nuances, não está presente.
Muito bem, essa formulação fez imensa fortuna, mesmo que tenha sido rotulada erroneamente, como aqui se explicitou, entre os chamados contratualistas –entre os quais, como acima fiz ressaltar, Hobbes não se encontra.
Talvez tenha cabido a Jean-Jacques Rousseau a introdução da ideia de contrato, perturbando, de modo muito peculiar, a tradição constitucional, que se equilibrava entre as concepções contextual e textual. Para Rousseau, a fundação da sociedade política decorreria de um acordo que o povo, reunido em assembleia, faria consigo mesmo, no sentido de instituir um poder político como soberano, que passaria a reger as relações entre os membros que formularam e firmaram o contrato. A concepção contratual desse soberano guarda um interessante paradoxo, que é o de, na teoria rousseauniana, não se poder localizar em lugar nenhum, mas ocupar todos os lugares. Com efeito, o povo, que antes atuava em assembleia, institucionaliza sua organização política, criando o Estado, pelo contrato. Ao fazer isso, torna-se soberano e não mais mero participante de uma reunião política pré-Estatal – deixa de ser parte, para passar a ser sujeito. A soberania que era difusa, passa a se concentrar no povo, novamente, mas de modo abstrato e não mais real, concreto. O povo, antes detinha o poder, que se realizava na participação. Após o contrato, o povo detém não mais o poder, mas a soberania. Essa soberania não mais se localiza em cada um, como o poder que lhe antecedeu. Ela não está mais em todos, mas no todo. Para permitir a organização política
