
Organizadores

Eliomar Pereira
Jerzy Brzozowski


Organizadores

Eliomar Pereira
Jerzy Brzozowski
entre filosofia e direito
Copyright© Tirant lo Blanch Brasil
Editor Responsável: Aline Gostinski
Assistente Editorial: Izabela Eid
Capa e diagramação: Analu Brettas
eduardo Ferrer mac-gregor Poisot
Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Investigador do Instituto de Investigações Jurídicas da UNAM - México
Juarez taVares
Catedrático de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil
Luis LóPez guerra
Ex Magistrado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Catedrático de Direito Constitucional da Universidade Carlos III de Madrid - Espanha
owen m. Fiss
Catedrático Emérito de Teoria de Direito da Universidade de Yale - EUA tomás s. ViVes antón
Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência - Espanha
L496
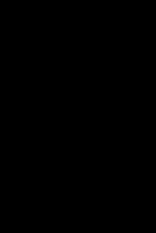
Verdade, linguagem & prova: diálogos entre filosofia e direito[livro eletrônico] /André Leclerc ... [et al]; Eliomar Pereira, Jerzy Brzozowski (org.). -1.ed. – São Paulo : Tirant loBlanch, 2023.
1Kb; livro digital
ISBN: 978-65-5908-629-0.
1.Direito - Filosofia. 2.Lógica. 3. Epistemologia. I. Título.
CDU: 340.12
Bibliotecária Elisabete Cândida da Silva CRB-8/6778
DOI: 10.53071/boo-2023-07-27-64c2ff7b8b15d
É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art.184 e §§, Lei n° 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei n°9.610/98).
Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch.
Fone: 11 2894 7330 / Email: editora@tirant.com / atendimento@tirant.com
tirant.com/br - editorial.tirant.com/br/
Organizadores

Eliomar Pereira
Jerzy Brzozowski
diálogos entre filosofia e direito
Autores
André Leclerc
Antônio Suxberger
Eliomar Pereira
Emerson Barbosa
Gilson Diana
Jerzy Brzozowski
Luiz Henrique Dutra
eLiomar
PereiraDoutor em Direito (Universidade Católica Portuguesa – Escola de Lisboa) com pós-doutorado em Filosofia (Universidade de Brasília – Departamento de Filosofia). Investigador Integrado do Ratio Legis (Centro de Investigação e Desenvolvimento em Ciências Jurídicas – Universidade Autónoma de Lisboa).
Jerzy BrzozowskiDoutor em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi docente da Universidade Federal da Fronteira do Sul, campus Erechin, e pesquisador visitante na University of Utah. Atualmente é Professor Adjunto da Universidade de Santa Catarina.
Esta coletânea de textos corresponde às apresentações feitas pelos autores no Seminário VERDADE, LINGUAGEM & PROVA: diálogos entre filosofia e direito, que decorreu entre os dias 06 de julho e 03 de agosto de 2022, em modalidade virtual, com transmissão ao vivo pelo canal do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina, na plataforma do YouTube, na qual ainda se encontram disponíveis as palestras a interessados que desejem conferir esses e outros temas de participantes que não conseguiram apresentar seus textos para publicação.
A proposta do livro, bem como do seminário, foi apresentada no contexto de estágio pós-doutoral que um dos organizadores, Eliomar Pereira, fez no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade de Brasília, sob a supervisão do Prof. Doutor Luiz Henrique de Araújo Dutra. A ideia foi abraçada pelo Professor Doutor Jerzy Brzozowski, que viabilizou sua realização pelo Núcleo de Epistemologia e Lógica (NEL) do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina.
O nosso objetivo foi criar um espaço de diálogo entre juristas e filósofos em temas probatórios, no que atualmente se tem chamado de Epistemologia Jurídica, mas buscando apoio em várias áreas como lógica, filosofia da linguagem e filosofia da mente, bem como até mesmo na política e na ética. Atualmente, podemos encontrar em alguns centros de pesquisa essa mesma discussão, a exemplo dos trabalhos publicados por Susan Haack e Larry Laudan nos Estados Unidos, e por Carmen Vazquez e Jordi Ferrer Beltran na Espanha, bem como alguns bons estudos que começam a ser publicados no Brasil.
Esperamos com essa publicação dar nossa contribuição a essas discussões e quem sabe continuar com outros seminários temáticos sobre prova no Direito, bem como outras publicações, se esta for bem recepcionada, como esperamos que seja.
os organizadores
Luiz Henrique de araúJo dutra
UFSC/UnB/CNPq
E assim como uma cidade observada de diferentes lados parece outra, como se de maneira perspectivista fosse multiplicada, o mesmo acontece com as substâncias simples que, por sua infinita multiplicidade, fazem parecer que há diferentes universos que, contudo, são apenas perspectivas de um único, segundo os diferentes pontos de vista de cada Mônada.
G.W. Leibniz2A teoria da verdade como acordo foi apresentada em nosso livro Verdade e investigação como uma alternativa à teoria da correspondência, assim como a outras teorias não correspondentistas, como a teoria semântica de Tarski e as teorias da verdade como coerência.3 A ideia fundamental de acordo que, a nosso ver, algumas dessas teorias procuram interpretar, cada uma delas a seu modo, inclusive a nossa, é aquela já expressa na máxima de Aristóteles, que é a seguinte:
Dizer do que é que ele não é, ou do que não é que ele é, é falso, ao passo que dizer do que é que ele é, e do que não é que ele não é, é verdadeiro.4
Embora o próprio Aristóteles tenha sustentado uma interpretação realista e correspondentista dessa máxima, por sua generalidade, ela expressa não mais do que a ideia de acordo entre duas instâncias. A interpretação correspondentista é aquela segundo a qual
1 Texto apresentado no Seminário Verdade, linguagem e prova: Diálogos entre filosofia e Direito, em 27 de julho de 2022.
2 Monadologia, §57. Cf. LEIBNIZ, 2022, p. 127.
3 Cf. DUTRA, 2022. As teorias mencionadas aqui são amplamente comentadas neste nosso livro.
4 Metafísica, livro IV, 24s. Cf. ARISTÓTELES, 1995, p. 3438.
o dizer – que é algo linguístico – deve corresponder a fatos ou estados de coisas para que possa ser verdadeiro. Mas o que é exatamente corresponder não é algo óbvio, estando também sujeito a diversas interpretações, como, por exemplo, a de Bertrand Russell, da correspondência como congruência entre proposições e fatos, ou a de John Austin, da correspondência como correlação entre convenções descritivas e convenções demonstrativas. Nesses dois casos, assim como na própria máxima de Aristóteles, o que há é sempre a ideia de acordo entre duas instâncias.
Procurando discutir então diretamente essa ideia fundamental de acordo, ao desenvolvermos nossa teoria, nos concentramos na análise do processo pelo qual o acordo entre duas instâncias é feito, isto é, no processo de investigação pelo qual, por exemplo, podemos dizer que determinada proposição está de acordo com um fato. Neste caso, tal como outras teorias da verdade afirmam, podemos dizer que a verdade é uma propriedade daquela proposição que está de acordo com o fato em questão. Mas, além disso, procuramos defender que a noção de verdade – mais especificamente, a noção de verdade como acordo – é também uma ferramenta por meio da qual realizamos o próprio processo de estabelecer o acordo entre duas instâncias. Se se trata, mais uma vez, do acordo entre determinada proposição e um fato, também precisamos ter clareza sobre o que é cada uma dessas instâncias. A proposição pode ser encarada como a relação de ideias expressa por uma sentença declarativa, sentença essa proferida por alguém diante do fato. Mas o que é esse fato?
Se a proposição, a sentença que a expressa e seu proferimento por um falante de uma língua são entidades de natureza linguística, por sua vez, o fato com o qual essas coisas podem entrar em acordo – e estar de acordo – pode ser de diversas naturezas. O fato pode ser determinada impressão sensível de um sujeito e, logo, certo tipo de representação mental que esse sujeito possui. Mas o fato também pode e deve ser um estado de coisas no mundo fora da mente do sujeito, por exemplo, um evento no qual determinados objetos materiais estão em certa relação. Alguns nisso vão insistir – e com razão.
Entretanto, o acesso possível para nós a tal estado de coisas é sempre por meio de nossas impressões sensíveis. A situação parecerá mais passível de um tratamento adequado se supusermos que há dois sujeitos ou falantes, cada um dos quais tem representações mentais do suposto estado de coisas. Suponhamos que tal estado de coisas seja aquele em que determinado livro está sobre uma mesa. Então, se um dos falantes disser “O livro está sobre a mesa”, esta proposição poderá ser declarada verdadeira pelo outro falante. Há um acordo entre ambos os sujeitos, mas tal acordo se estende àquela proposição e ao estado de coisas.
Suponhamos agora que o livro que está sobre a mesa seja justamente a já mencionada Metafísica de Aristóteles. E suponhamos que um dos falantes diga: “O livro que está sobre a mesa é a Metafísica de Aristóteles”. Por fim, suponhamos que o outro falante não saiba disso. Neste caso, sua investigação para averiguar a afirmação do primeiro falante poderá consistir em simplesmente se aproximar da mesa e manusear o livro para constatar se ele é ou não a Metafísica de Aristóteles. Esse sujeito pode fazê-lo e constatar o acordo entre o que o primeiro falante disse e o que lhe parece agora ser realmente o caso. Ele pode então dizer: “É verdade que este livro é a Metafísica de Aristóteles”. Aqui, a noção de verdade como uma ferramenta de investigação e constatação do acordo se mostra claramente.
As representações mentais que esse segundo sujeito – o investigador – possui de estar ele diante do livro de Aristóteles sobre aquela mesa é o que podemos denominar sua base de dados. A proposição “O livro sobre a mesa é a Metafísica de Aristóteles” é aquilo que, por meio de sua investigação, é colocado em acordo com tal base de dados. Assim sendo, a investigação consiste em utilizar a noção de verdade para estabelecer (ou não) o acordo entre determinada hipótese – de que se trata do livro de Aristóteles sobre a mesa, por exemplo – e certa base de dados, aquela que o investigador estabeleceu por meio de suas observações que, no exemplo utilizado, consiste nas impressões sensíveis que o investigador tem do livro de Aristóteles ali presente.
Este exemplo simples ilustra bem o que há de essencial em nossa teoria da verdade como acordo. Há três aspectos a serem destacados. O primeiro é que a verdade pode ser encarada como uma propriedade de proposições (ou sentenças, ou enunciados) e, por extensão, de relatos, modelos, teorias etc., em suma, de uma peça linguística que expresse ou veicule uma hipótese. O segundo é que a outra instância com a qual esta primeira pode ou não entrar em acordo é uma base de dados, que pode ser obtida por meio de diversos tipos de investigação. O terceiro aspecto é que há uma etapa final da investigação, digamos assim, etapa na qual a noção de verdade é empregada para estabelecer o acordo entre a hipótese e a base de dados.
As situações comuns de investigação em quaisquer domínios são sempre situações nas quais os mais diferentes sujeitos (pelo menos dois) estão envolvidos, como em nosso exemplo acima apresentado. Portanto, é sempre o caso não apenas de constatar o acordo entre uma hipótese e uma base de dados, mas também, como já dissemos, de estabelecer o acordo entre os diversos sujeitos, isto é, de haver um acordo intersubjetivo que também resulta da investigação. Ora, isso levanta um problema epistemológico que não pode ser desconsiderado e que acarreta dificuldades para a teoria da verdade como acordo. Pois, se os diversos sujeitos estiverem enganados e, apesar de seu acordo intersubjetivo, afinal, não houver acordo entre a proposição e aquele suposto estado de coisas no mundo, então poderemos estar naquela situação em que o acordo entre eles e o próprio acordo entre a hipótese e a base de dados que eles obtiveram não representam a realidade das coisas.
Isso faria a teoria da verdade como acordo se resumir a uma simples teoria da coerência, neste caso, a mera coerência entre as crenças ou convicções dos diversos sujeitos envolvidos na investigação. Todavia, é claro que o que queremos quando pensamos na verdade de uma hipótese é que, se verificada, ela represente a realidade das coisas e não apenas as crenças dos sujeitos humanos, por mais que eles possam estar de acordo uns com os outros e por mais que seja necessário que haja acordo entre eles. Em última instância, se houver apenas um acordo intersubjetivo, então a teoria da verdade como acordo não nos ajudaria a distinguir ficção de realidade.
Contudo, acreditamos que ela realmente nos permite distinguir ficção de realidade. O objetivo deste texto é o de procurar mostrar isso explicando que nossa teoria é realista e não relativista, que é como uma concepção coerentista da verdade pode ser encarada. A concepção da verdade como acordo que defendemos está associada a uma postura perspectivista. O perspectivismo, por sua vez, como veremos, é uma forma de realismo.
Consideremos o caso tão conhecido da dualidade hoje admitida por todos que conhecem um pouco das teorias físicas atuais – por exemplo, a mecânica quântica – entre nossa concepção comum e tradicional de que os corpos ou objetos materiais que nos rodeiam, esses objetos concretos, visíveis e tangíveis, são reais e a concepção científica segundo a qual eles são meros agregados de inúmeros eventos microscópicos envolvendo partículas subatômicas, estas sim, segundo a teoria, sendo as verdadeiras realidades físicas. De alguma forma, os objetos macroscópicos continuam a ser reais, mas não mais como entidades, digamos, como indivíduos, mas como regiões do mundo nas quais há tais inúmeros eventos microscópicos entre as partículas, intangíveis, invisíveis a olho nu. Mas, neste caso, os corpos seriam então apenas grandes coleções de eventos e não coisas, propriamente falando. Todavia, para nós, no dia a dia, eles continuam a ser reais. Eles são realidades inegáveis para todos nós. Se fôssemos do tamanho das mencionadas partículas microscópicas, eles não seriam coisas reais para nós. Não os perceberíamos como objetos concretos, extensos, coloridos etc. Mas este não é o caso.
Entretanto, já que estamos fazendo algum esforço imaginativo, podemos tentar seguir algo semelhante ao que é proposto por Abbott em seu conhecido livro Flatland. 5 Suponhamos pessoas que
5 Cf. ABBOTT, 1992. A percepção de objetos no plano, isto é, como bidimensionais, ou visão monocular, constitui a condição denominada falta de estereopsia (percepção tridimensional dos objetos). Além disso, há ainda a condição que é constituída pela falta de estereognosia (percepção da forma dos objetos pelo tato). As considerações a seguir presumem a possibilidade de humanos com as duas condições, que não são propriamente patologias, mas desvios do padrão normal ou mais comum, isto é, da forma de perceber da maioria da população. Trata-se de algo semelhante às diversas formas de daltonismo, das quais falare-
percebem os objetos macroscópicos como objetos planos ou bidimensionais, isto é, com comprimento e largura, mas não profundidade ou espessura. Não estamos falando apenas da visão dos objetos, mas também de sua percepção pelo tato. Na maioria da população humana, a visão e o tato concorrem para nos dar a percepção dos sólidos, isto é, dos corpos tridimensionais, que são também aqueles aos quais associamos a noção de massa. Um objeto bidimensional, como é, por exemplo, um desenho sobre papel, não pode possuir massa. O papel que, embora possa ser muito fino, é que possui massa. Mas o desenho não. Agora suponhamos que percebêssemos o próprio papel como algo tão fino a ponto de ter espessura zero. A este objeto também não poderíamos aplicar nosso conceito comum de sólido, de objeto tridimensional e que possui massa. Contudo, suponhamos que, mesmo assim, tal folha de papel, ao ser colocada sobre o prato de uma balança, apresentasse alguma medida de massa. Neste caso, deveríamos confiar em nossa percepção ou na medida da balança?
A resposta para isso depende de como essa noção de massa vai ser cientificamente elaborada. Este seria um caso semelhante àquele já mencionado do conflito entre a visão do mundo como uma coleção de objetos macroscópicos ou como uma coleção de eventos microscópicos entre partículas. Se os indivíduos deste mundo possível puderem sentir o peso, digamos assim, dos objetos, algo que vai ao encontro do que as balanças medem, mesmo sem poderem a tais objetos aplicar o conceito comum de sólido, a massa dos objetos será para eles algo real.6 Ela será real mesmo não podendo ser acompanhada por outras percepções. Sua realidade está amparada sobretudo na teoria científica que explica o funcionamento das balanças e fundamenta a noção de massa. E isso seria o caso mesmo que tais indivíduos também não pudessem sentir o peso dos corpos. Este é para nós, no mundo real, o caso das partículas subatômicas, que também não percebemos de forma alguma, mas cuja realidade está amparada pelas teorias físicas que explicam, por exemplo, o funcionamento dos aceleradores de partículas.
mos adiante. Para uma discussão mais abrangente desses aspectos, cf. DUTRA, 2021a, cap. 3 e 6. 6 A expressão “sentir o peso” se refere ao esforço muscular que fazemos, por exemplo, para levantar um corpo, e que associamos na experiência comum à medida da balança que expressa sua massa.
O que esses exemplos reais ou fictícios procuram destacar é o fato de que o conflito das ontologias pode ser contornado por meio da aceitação de teorias científicas e que, em quaisquer casos, seja com base no que elas dizem, seja com base no que percebemos, objetos de naturezas diversas podem ser considerados reais, mesmo que nossas percepções não contribuam para aplicarmos a eles os conceitos comuns que possuímos. As partículas de que a física contemporânea fala, por exemplo, em nossa imaginação, podem ser assimiladas a pequeninas esferas, mas elas não são isso. Pequeninas esferas, por menores que sejam, sendo ainda objetos macroscópicos, terão alguma cor. As partículas das teorias físicas não possuem essa propriedade, nem outras propriedades dos objetos macroscópicos. Suas propriedades são outras, que não observamos diretamente.
Mesmo no domínio dos objetos macroscópicos mais comuns temos o problema da realidade das cores.7 A maioria da população humana é constituída de indivíduos que possuem três tipos de células cone em suas retinas. Eles são denominados tricromatas. As diversas formas conhecidas de daltonismo são condições de bi, mono ou acromatismo. E há ainda humanos tetracromatas, embora sejam casos raros. Os tricromatas podem, por exemplo, simular a forma como os diversos tipos de daltônicos veem as cores, mas não podem, obviamente, simular a forma como os tetracromatas veem as cores. Na verdade, assim como os daltônicos não podem saber como são as cores que os tricromatas veem, estes, por sua vez, não podem saber como são as cores que os tetracromatas veem. Agora podemos então nos perguntar: uma vez que alguns daltônicos não veem, por exemplo, a diferença entre vermelho e verde, esta diferença não seria real? Ou, de maneira mais geral, perguntemos: as cores vistas pelas diversas comunidades cromáticas, quaisquer que sejam tais cores, sendo elas vistas apenas pelos membros dessas comunidades, não deixariam então de ser reais?
A resposta do realismo perspectivista é que tais cores são reais, mesmo que sejam vistas apenas por parte dos indivíduos. Do mesmo
modo, naquele caso imaginado de indivíduos que não percebessem os sólidos (objetos tridimensionais), esses objetos não deixariam de ser reais porque seriam percebidos apenas por aquela parte dos indivíduos capaz de percebê-los e a eles aplicarem o conceito de sólido.
De fato, a consideração mais aprofundada de todos esses casos – reais ou hipotéticos – de conflitos entre ontologias ou comunidades perceptivas ou epistêmicas nos conduz a concluir que toda realidade ou coisa é de natureza perspectivista – e que toda a realidade é perspectivista. Pois é real, em primeiro lugar, aquilo que está fundamentado na percepção de alguma comunidade de indivíduos.
Em segundo lugar, é real aquilo que é fundamentado em conceitos e teorias (de preferência científicas, isto é, baseadas em investigações rigorosas) compartilhadas pelos membros de tal comunidade.
Esses são aspectos importantes de tal critério ontológico. Pois aquilo que é percebido por apenas um indivíduo e que não está fundamentado em uma teoria compartilhada pela maioria da comunidade epistêmica não pode contar como real. Caso contrário, as alucinações ocasionais ou sistemáticas de alguns indivíduos teriam de ser consideradas percepções de coisas reais e nos conduziriam a uma forma radical de relativismo. Mas o realismo perspectivista deve evitar toda forma de relativismo, seja ele mais elaborado, seja ele mais rudimentar. O perspectivismo – isto é, o fato de percebermos o mundo sempre de determinada perspectiva – não pode nos levar a considerar real o que quer que seja. Nossa ideia é que o realismo perspectivista é compatível com a noção de verdade como acordo. Antes de chegarmos a discutir esse que é o tópico principal de nosso texto, vejamos um pouco mais do perspectivismo, neste caso, tal como o encontramos em alguns célebres filósofos mais antigos.
O perspectivismo é uma tradição que remonta aos pensadores modernos e que abriga filosofias muito diferentes, como as de Locke e outros empiristas, Leibniz, Kant e, já no século XX, Popper, Quine, Kuhn e o já mencionado Giere, mais recentemente. Todos esses filósofos são realistas, ontologicamente falando, isto é, todos eles afirmam
a existência das coisas fora da mente; mas cada um deles associa esta tese ontológica com o perspectivismo, que é uma doutrina de caráter epistemológico, obviamente. A ideia básica que encontramos em todos esses autores é que só podemos conhecer as coisas na dependência de nosso aparato cognitivo. Todavia, para cada um deles, tal aparato cognitivo é compreendido de uma maneira distinta.
O autor que mais claramente definiu o conhecimento humano desta maneira é, sem dúvida, Kant. Ele é também o perspectivista mais conhecido e estudado. Vale lembrarmos as principais ideias de sua teoria. O intelecto humano é constituído de certas faculdades cuja estrutura é pré-determinada. As faculdades mais relevantes e determinantes para o conhecimento do mundo são a sensibilidade, que possui duas formas puras dadas a priori, espaço e tempo, e o entendimento, que possui conceitos (categorias) e princípios puros a priori, princípios esses que são espécies de regras para a aplicação das categorias a determinadas situações representadas pela sensibilidade. Por exemplo, tudo o que percebemos é dado no espaço tridimensional e no tempo que, por sua vez, é unidimensional. Se as coisas em si são ou não como as percebemos, isso não temos como saber, afirma Kant. Segundo seu realismo, é preciso apenas que elas existam para que possamos percebê-las. Os corpos, por exemplo, que percebemos como sólidos tridimensionais, são assim para nós, de acordo com nossa perspectiva. O mundo que seria percebido por outros seres dotados de um intelecto constituído de outra maneira, diferente da nossa, seria um mundo diferente enquanto percebido. Mas o mundo enquanto tal, enquanto coisa em si, é sempre o mesmo. Só não sabemos como ele é em si. E, de fato, a questão assim colocada nem pode ser respondida, já que conhecemos apenas o que nos é dado e isso depende de nossa constituição cognitiva, de nossa perspectiva particular.8
Voltemos um instante àquela ficção de Abbott e imaginemos seres inteligentes que percebem o mundo segundo formas da sensibilidade diferentes das nossas, por exemplo, seres que percebem o espaço de maneira bidimensional. A realidade fenomênica para
8 O assunto aqui tão resumido é bem conhecido; mas cf. a Crítica da razão pura, por exemplo, KANT, 1999. Cf. também DUTRA, 2021a, cap. 6 a respeito da idealidade das formas puras da sensibilidade, espaço e tempo.
tais seres seria diferente de nossa realidade fenomênica. Para eles, os corpos, por exemplo, não são sólidos tridimensionais, mas como se fossem figuras no plano segundo nossa perspectiva. Não caberia perguntar, neste caso, se porque eles não percebem a terceira dimensão, ela não existe. Para nós, que a percebemos, ela é real. O perspectivismo que há nisso não é diferente daquele que há no caso das cores que vemos e que, por exemplo, os daltônicos não veem. Do ponto de vista de Kant, não cabe, portanto, perguntar se as coisas em si são ou bi, ou tridimensionais. O que devemos fazer é conhecer a estrutura de cada tipo de intelecto e, assim, determinar para cada tipo o que é a experiência possível e, por conseguinte, o conhecimento possível. E foi o que Kant procurou fazer em sua Crítica da razão pura com respeito ao intelecto humano em geral.
Voltemos também ao caso já mencionado daquele conflito entre nossa concepção comum de que os objetos macroscópicos são realidade materiais e a concepção científica segundo a qual eles são aglomerados de inúmeras interações entre partículas subatômicas. Segundo outro dos autores perspectivistas acima enumerados, Quine, todas essas entidades, de todas as ontologias, são sempre espécies de mitos ou ficções. Elas não possuem um status epistêmico distinto daquele, por exemplo, dos deuses dos poemas de Homero. Mas há uma diferença entre os diferentes tipos de mitos. Alguns se ajustam melhor às condições da experiência de cada comunidade epistêmica. E esses ganham o status de realidades; com eles temos certo compromisso ontológico, como diz Quine.9 Segundo este autor, o conflito entre diferentes teorias científicas (ou não) ou diferentes ontologia, como o caso do conflito entre nossa visão comum dos corpos e a concepção científica das partículas subatômicas, se resolve contextualmente, ao aceitarmos a teoria. Esse conflito consiste apenas em uma relatividade, não em um relativismo. Ou seja, o que há é definido pela visão de mundo que aceitamos ou, mais particularmente, pela teoria científica que aceitamos. Quando a aceitamos, determinadas coisas passam a ser reais, outras não.
9 As ideias de Quine também são bem conhecidas, mas cf. os ensaios On What There Is (QUINE, 1961) e Ontological Relativity (QUINE, 1969). Cf. também DUTRA, 2021a, cap. 1.
Este tipo de relatividade é também aquele de que Kuhn fala em seu famoso livro, hoje também um clássico: Estrutura das revoluções científicas. O que existe ou é real é o que conhecemos segundo as teorias e conceitos de determinado paradigma. Quando há uma revolução científica, que consiste no abandono de um antigo paradigma e na aceitação de um novo, com outra ontologia, é como se os cientistas passassem a conhecer outro mundo. Kuhn foi acusado de relativista e se defendeu, dizendo que sua postura não eliminava o realismo. Há uma passagem de seu livro que expressa isso claramente e que merece ser citada. Kuhn diz o seguinte:
Examinando os registros das pesquisas passadas do ponto de vista privilegiado da historiografia contemporânea, o historiador da ciência pode se ver tentado a declarar que quando os paradigmas mudam, o próprio mundo muda com eles. Conduzidos por um novo paradigma, os cientistas adotam novos instrumentos e examinam novos lugares. Mais importante ainda, durante as revoluções, os cientistas veem coisas novas e diferentes quando, com os instrumentos usuais, examinam os lugares que já tinham examinado. É como se a comunidade profissional fosse de repente transplantada para outro planeta no qual os objetos conhecidos são vistos sob uma luz diferente e a eles se juntam também objetos desconhecidos. É claro que nada desse tipo de coisa acontece: não há qualquer transplantação geográfica; fora do laboratório, as coisas do dia a dia costumam continuar como antes. Todavia, as mudanças de paradigma realmente fazem os cientistas verem o mundo de sua empreitada de pesquisa de maneira diferente. Na medida em que seu único recurso a tal mundo é através do que eles veem e fazem, podemos querer dizer que, depois de uma revolução, os cientistas estão reagindo a um mundo diferente.10
Todavia, o caso mais complicado é aquele das realidades abstratas. Neste caso, é o perspectivismo de Popper que pode nos auxiliar.11 A questão é que, normalmente, ao contrário dos objetos materiais, os objetos abstratos se tornam evidentes apenas nas interações entre sujeitos humanos. Deste modo, é forte a tendência de reduzirmos os objetos abstratos a apenas uma correlação entre estados mentais dos sujeitos em interação. O esquema ontológico proposto por Popper, aquele dos três mundos, é elucidativo a este respeito. Para o autor, o Mundo 1 é aquele dos objetos materiais, o Mundo 2 é aquele de nossos estados subjetivos (mentais) e o Mundo
10 KUHN, 1996, p. 111.
11 Cf. POPPER, 1994. Cf. também DUTRA, 2021a, cap. 3.
3 é aquele da cultura, isto é, dos objetos abstratos que, embora sejam construídos por nós coletivamente, ganham autonomia e não podem ser modificados por nossa mera vontade, no que eles são muito semelhantes, diz Popper, aos objetos do Mundo 1. Assim como estes últimos, os objetos abstratos da cultura se nos impõem.
Há muitos exemplos a dar, obviamente, mas, a nosso ver, o mais elucidativo é aquele da linguagem verbal. Uma língua natural falada por certa comunidade de falantes é um objeto cultural e abstrato. Assim como todo objeto cultural, a língua necessita de uma documentação, que é algo feito em realidades concretas. Por exemplo, a língua está documentada em gramáticas, dicionários, tratados de linguística etc., mas principalmente na fala concreta de seus falantes. Em última instância, os falantes da língua são sua principal documentação, uma vez que ela pode carecer de todos aqueles outros elementos, mas nunca deixará de ter falantes para existir como língua. Não devemos confundir a documentação de um objeto cultural (algo concreto) com o próprio objeto cultural (algo abstrato), nem com as interações entre os sujeitos humanos que permitem evidenciar a existência do objeto abstrato, menos ainda com os estados mentais ou subjetivos desses sujeitos que lhes permitem interagir e, assim, pôr em evidência a existência do objeto abstrato. Como diz Popper, embora os objetos abstratos não possam existir sem suas documentações, nem sem as interações entre os sujeitos humanos, interações essas que os mantêm como realidades objetivas, enquanto tal, eles são autônomos. O caso da língua é aqui também o mais ilustrativo. Embora a fala concreta dos falantes vá modificando paulatinamente a língua, tanto sintática, quanto semanticamente, nenhum falante pode modificá-la a seu bel prazer. Ele pode propor modificações deliberadamente, é claro, mas elas vão se efetivar se houver aceitação da comunidade de falantes. Este é o caso da modificação de significação dos termos e mesmo de determinadas regras gramaticais. Isso ocorre ao longo do tempo e dá origem a dialetos e mesmo a novas línguas, como mostra bem a linguística histórica. Mas se trata sempre de um processo de modificação do mundo semelhante aos processos pelos quais modificamos o próprio mundo material, isto é, respeitando sua natureza e as leis que os re-
gulam, no caso da língua, as próprias regras já estabelecidas que, em primeiro lugar, permitem a comunicação entre os falantes.
O mais importante, contudo, é que tais realidades abstratas são de natureza perspectivista. A língua, por exemplo, só existe para seus falantes. É preciso ser dela um falante para ter acesso a suas estruturas gramaticais e às significações de seus termos. Isso vale, obviamente, para todos os objetos da cultura. É preciso pertencer a determinada cultura para ter acesso e conhecer os objetos que dela fazem parte. Isto é algo bem conhecido da antropologia, tanto no caso de estudar a cultura de um povo recém-descoberto e isolado, quanto de sua língua, aliás, aquilo que, uma vez aprendido, vai dar realmente acesso aos demais elementos de tal cultura recém-descoberta.
O resultado dessas considerações é que em todos os casos estamos tratando de realidades de natureza perspectivista, sejam elas concretas, sejam elas abstratas. Isso vale também para as realidades não observáveis (as partículas subatômicas, por exemplo), uma vez que a elas só temos acesso através da aceitação de uma teoria científica. Estas últimas também fazem parte da cultura, como sabemos bem, mesmo que elas sejam objetos restritos a uma subcultura específica, por exemplo aquela de um paradigma ou de um programa de pesquisa.
O que dissemos até aqui pode não parecer suficiente para separarmos realidade de ficção e para, afinal, garantir que aquilo que é fruto de um acordo intersubjetivo entre membros de uma cultura ou comunidade epistêmica possa ser também a expressão da verdade, do acordo do que se diz com o que é o caso. Pois, quando tratamos, por exemplo, das opiniões ou mesmo percepções de um único sujeito, podemos estar diante de crenças falsas e mesmo injustificáveis, mitos, ou então de alucinações, sejam elas estados patológicos, sejam estados mentais induzidos por determinadas drogas, por exemplo. Todavia, o recurso ao que é aceito intersubjetivamente por toda uma comunidade epistêmica não parece resolver o problema, pois ainda pode haver mero relativismo e não um real perspectivismo. O pers-