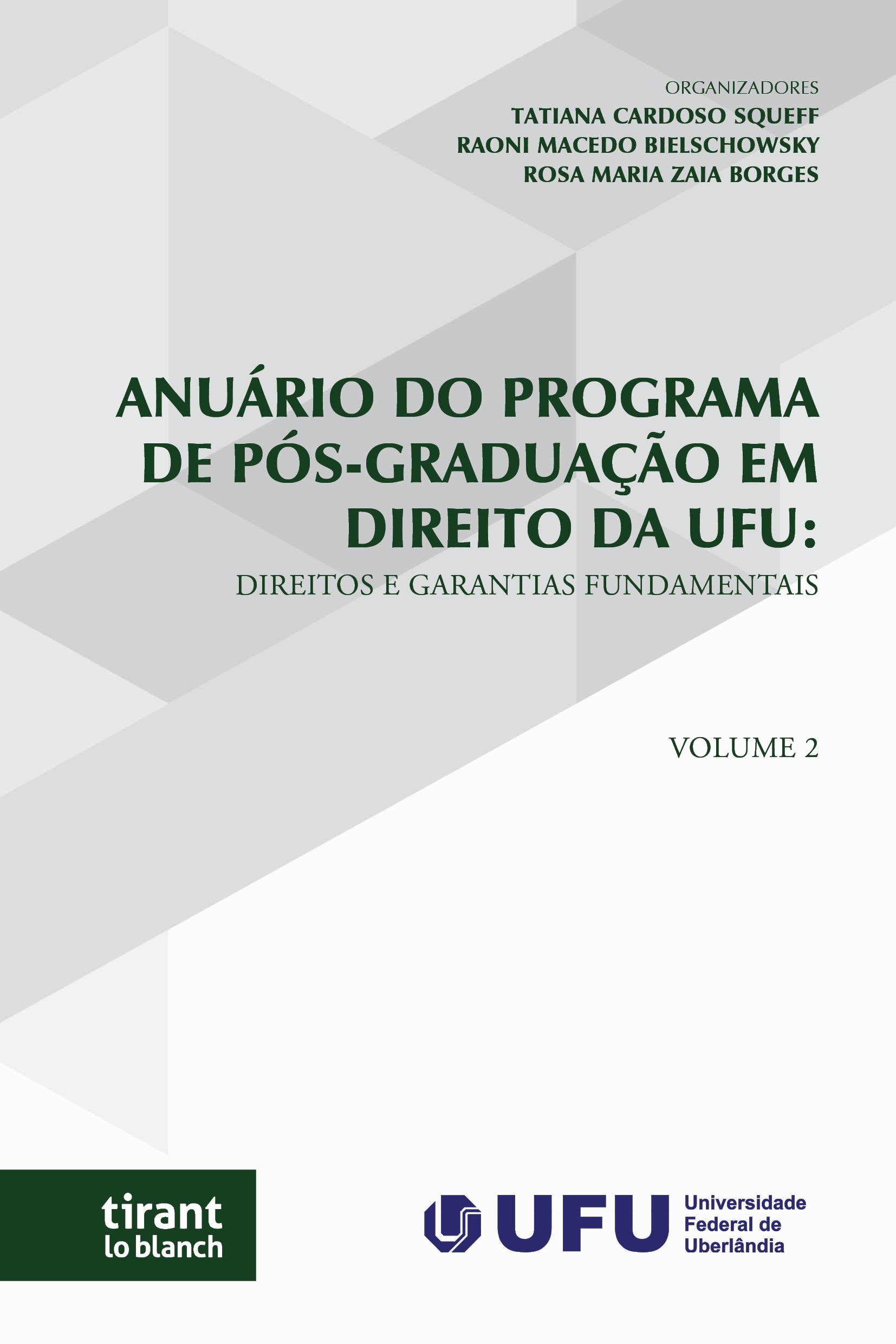
Organizadores
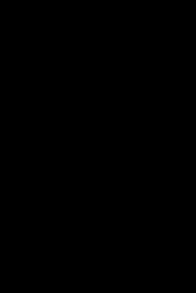
Tatiana Cardoso Squeff
Raoni Macedo Bielschowsky
Rosa Maria Zaia Borges

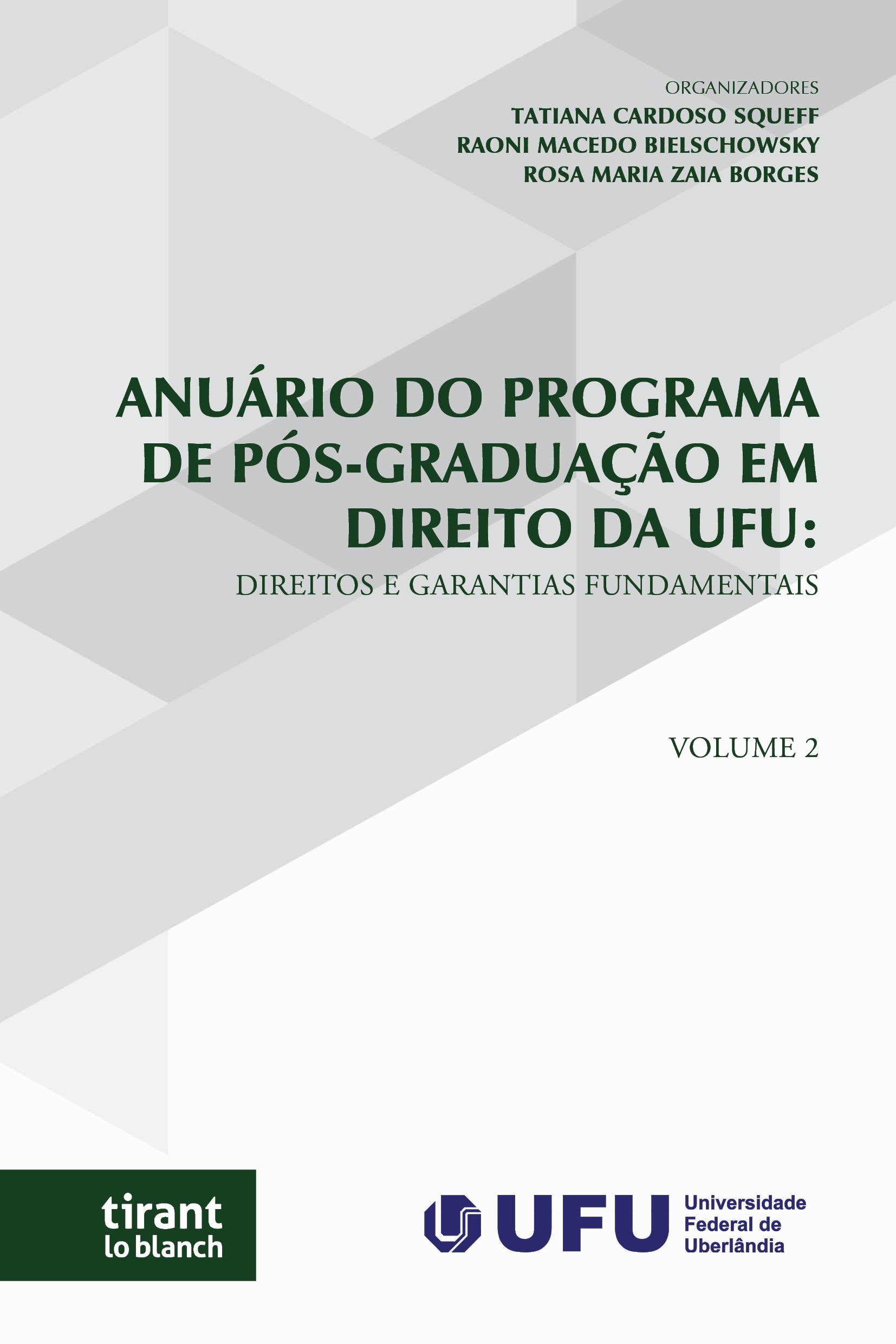
Organizadores
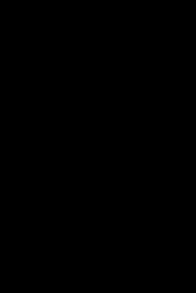
Tatiana Cardoso Squeff
Raoni Macedo Bielschowsky
Rosa Maria Zaia Borges
direitos e garantias fundamentais
volume 2
Copyright© Tirant lo Blanch Brasil
Editor Responsável: Aline Gostinski
Assistente Editorial: Izabela Eid
Capa e diagramação: Jéssica Razia
EDUARDO FERRER MAc-GREGOR POISOT
Presidente da Corte Interamericana de direitos humanos. Investigador do Instituto de Investigações Jurídicas da UNAM - México
JUAREz TAvARES
Catedrático de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil
LUIS LÓPEz GUERRA
Ex Magistrado do Tribunal Europeu de direitos humanos. Catedrático de Direito Constitucional da Universidade Carlos III de Madrid - Espanha
OwEN M. FISS
Catedrático Emérito de Teoria de Direito da Universidade de Yale - EUA
TOMÁS S. vIvES ANTÓN
Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência - Espanha
A645 Anuário do programa de pós-graduação em direito da UFU : direitos e garantias fundamentais volume 2 [livro eletrônico]
/ Tatiana Cardoso Squeff, Raoni Macedo Bielschowsky, Rosa
Maria Zaia Borges (Org.); prefácio Eloisa Amália Vieira Ferro.
- 1.ed. – São Paulo : Tirant lo Blanch, 2023.
3.950Kb; livro digital
ISBN: 978-65-5908-669-6
1. Direito. 2. Direitos fundamentais. 3. Direitos humanos fundamentais. I. Título.
CDU: 342.7
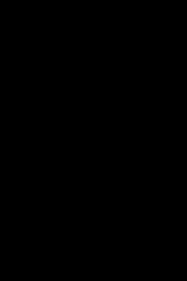
Bibliotecária: Elisabete Cândida da Silva CRB-8/6778
DOI: 10.53071/boo-2023-09-27-6514404e38fe4
É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art.184 e §§, Lei n° 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei n°9.610/98).
Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch.
Fone: 11 2894 7330 / Email: editoratirantbrasil@tirant.com / atendimento@tirant.com
tirant.com/br - editorial.tirant.com/br/
Organizadores
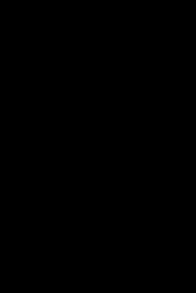
Tatiana Cardoso Squeff
Raoni Macedo Bielschowsky
Rosa Maria Zaia Borges
direitos e garantias fundamentais
volume 2
Autores
Almir Garcia Fernandes
Debora Regina Pastana
Eloisa Amália Vieira Ferro
Fernando Rodrigues Martins
Gustavo de Carvalho Marin
Hugo Rezende Henriques
Keila Pacheco Ferreira
Luciana Silva Reis
Luiz Carlos Goiabeira Rosa
Raoni Bielschowsky
Ricardo Padovini Pleti
Rosa Maria Zaia Borges
Sheilla Borges Dourado
Tatiana Cardoso Squeff
Thiago Paluma
“Interpretação 4.0” Do direito, inteligência artificial
É com grande alegria que me dirijo a vocês, leitoras e leitores, para apresentar o segundo volume do ANUÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DA UFU: DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. Esta obra dá continuidade à iniciativa de ampliar o alcance da produção acadêmico-científica das pesquisadoras e dos pesquisadores do nosso Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Uberlândia, bem como, contribuir para o debate crítico na área dos direitos e garantias fundamentais, área de concentração de nosso Mestrado desde sua fundação, em 2009. Ao longo destes anos, nosso Programa tem procurado consolidar sua identidade ao mesmo tempo em que promove, através das suas atividades de ensino e pesquisa, de maneira séria e comprometida, o aprofundamento teórico-reflexivo em torno de temas de relevância para a consolidação dos pressupostos do Estado Democrático de Direito e a promoção da justiça social.
O presente volume do ANUÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DA UFU: DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, escrito a muitas mãos e com contribuições das duas Linhas de Pesquisa que estruturam nosso Programa - Linha 1 Tutela Jurídica e Políticas Públicas e Linha 2 Sociedade, Sustentabilidade e Direitos Fundamentais - reitera o propósito que contribuir assertivamente para a consolidação e promoção dos direitos fundamentais e se traduz como fruto de um esforço conjunto entre autoras e autores que se destacam em suas respectivas áreas de estudo. Cada capítulo deste livro oferece uma análise aprofundada e crítica sobre questões-chave relacionadas aos direitos humanos fundamentais, abordando desde desafios contemporâneos até perspectivas teórico-epistemológicas.
Entre as contribuições da Linha 1, vocês encontrarão provocações de matrizes epistemológicas variadas no campo da Criminologia com o texto da profa. Débora Regina Pastana, intitulado
da Teoria Geral do Direito no texto intitulado “Da validade jurídica à legalidade como agência material: propostas para lidar com o ceticismo e a crise de autoridade no Direito”, da profa. Luciana Silva Reis; na esfera da teoria constitucional, o prof. Raoni Bielschowsky apresenta suas reflexões no texto intitulado “Notas e apontamentos para um conceito de cultura constitucional; entre a identidade do constitucionalismo e as identidades constitucionais”; e, por fim, o prof. Hugo Rezende Henriques, em seu texto “Sob Império: no eclipse do zoon politikón, o nascimento da vontade livre”, vocês encontrarão reflexões no campo filosófico.
Já sob a chancela da Linha 2, apresentam-se as análises dos professores Fernando Rodrigues Martins e Keila Pacheco Ferreira acerca dos desafios contemporâneos para a relação entre direito e a sociedade informacional em seu texto intitulado “A ‘Interpretação
4.0’ do Direito, Inteligência Artificial e Algoritmos: entre disrupções digitais e desconstrutivismos”; no campo dos direitos dos povos originários, a profa. Sheilla Borges Dourado contribui com o texto intitulado “A teoria tridimensional da Justiça e os direitos de povos e comunidades tradicionais no Brasil”; em perspectiva internacionalista crítica, a profa. Tatiana Cardoso Squeff apresenta suas reflexões no texto intitulado “As abordagens terceiro-mundistas de Direito Internacional: onde o decolonial encontra o internacional”; o prof. Thiago Paluma traz suas contribuições na esfera processual com seu texto “Dos limites da jurisdição no Direito Processual Civil Internacional Brasileiro”; o prof. Luiz Carlos Goiabeira Rosa convida à reflexão sobre a eficácia do direito ao acesso à justiça em seu texto “Da inconstitucionalidade de exigência de prova cabal de necessidade para a concessão da justiça gratuita”; no campo do direito privado, vocês encontrarão debates atuais no texto do prof. Ricardo Padovini Pleti intitulado “A empresa familiar com núcleo de interações entre gestão, propriedade e parentesco” e do prof. Almir Garcia Fernandes e suas reflexões sobre “Sucessão nas relações parentais socioafetivas”; e, encerrando as contribuições da Linha 2, o prof. Gustavo de Carvalho Marin convida ao debate sobre “Segurança pública na perspectiva da vítima: desafios de legitimação e possibilidades de reconhecimento”.
“Panorama teórico-conceitual dos estudos criminológicos no Brasil”;
E notório, por essa breve apresentação, que vocês terão a oportunidade de passear, ao longo das páginas da obra, por abordagens críticas, sérias e atualizadas sobre questões que desafiam a construção do pensamento jurídico com vistas ao alcance de uma sociedade justa e igualitária. Não é uma obra coletiva acadêmica que busca simplesmente informar, mas também inspirar reflexões e debates sobre os direitos humanos fundamentais comprometidos acadêmica e socialmente.
Espero que nosso Anuário resulte em reconhecimento dos esforços para seguirmos fomentando e fortalecendo a pesquisa acadêmica e que a leitura desta obra seja enriquecedora, inspire e estimule novos debates e ações em prol dos direitos humanos. Boa leitura a todas e todos!
Uberlândia, 30 de junho de 2023.
O Programa de Pós-graduação em Direito, Curso de Mestrado da Universidade Federal de Uberlândia não precisa que falem por ele: a narrativa de sua contribuição à ciência contemporânea, tanto através das pesquisas quanto da formação de profissionais, se fez e se faz durante a construção de sua trajetória. Por esse motivo, esse prefácio adquire mais um caráter de reconhecimento e de convite.
Reconhecimento por parte da Diretoria de Pós-graduação a um Programa que, nos seus anos de existência, assumiu seus compromissos com a Universidade pública e suas interfaces com os anseios, necessidades, deveres e, claro, direitos do povo brasileiro. Um Programa nota 4 na última avaliação da CAPES, o que demonstra que metas são traçadas e atingidas pelos corpos docente, discente e técnico-administrativo. E o convite, é para que o leitor passeie pelas páginas deste Anuário sem pressa, se detendo em cada linha de pesquisa e seus múltiplos aspectos, que demonstram a força e relevância da Universidade pública, em especial, no interior do Brasil.
Nossa missão na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação é apoiar os Programas em suas especificidades e desafios, estabelecendo pontes que facilitem o trânsito em estradas não tão pavimentadas quanto gostaríamos, mas que representam o quanto de luta foi empreendida pelos nossos antecessores e o quanto de luta resta ainda por vir. Esse apoio se torna, então, mútuo, pois enquanto Instituição, necessitamos da colaboração dos programas, em forma de comprometimento, responsabilidade e produtividade.
Aos responsáveis por mais essa etapa exitosa do Programa de Pós graduação em Direito da Universidade Federal de Uberlândia, nossos cumprimentos e agradecimentos.
PROFA. DRA. ELOISA AMÁLIA vIEIRA FERRO1
1 Diretora de Pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia – UFU.; Professora Titular de Histologia, Biologia Celular e Embriologia da UFU.; Pós-doutorado pela Università degli Studi di Siena (Itália), doutorado e mestrado em Ciências (Biologia Celular e Tecidual) pela Universidade de São Paulo – USP.
DEBORA REGINA PASTANA1
Como docente do Programa de Pós Graduação e Direito (PPGDI), há mais de uma década lecionando e orientando conteúdos criminológicos, vejo-me na incumbência de elaborar um texto que, de alguma maneira, exprima minha experiência nesse contexto acadêmico e nessa ceara de análise.
Sem almejar elaborar um “estado da arte” da pesquisa criminológica brasileira, proponho neste capítulo uma abordagem menos totalizante e mais voltada para a didática diferenciação das perspectivas analíticas em torno das leituras criminológicas no país. Também é objetivo deste esboço analítico situar as mais recentes discussões sobre o tema dentro de um desenrolar cientifico que prima pelo giro decolonial de observação.
Penso ser relevante, em primeiro lugar, destacar a condição marginal dos estudos criminológicos, inobstante o crescimento e aprofundamento do campo. Vera Regina Pereira de Andrade2 destaca exatamente esse panorama ao reforçar que [...] existe um campo de produção criminológica crítica qualificada na sociedade brasileira, heterogênea e internamente diferenciada, com potenciais multiplicadores, que já compõe uma geografia representativa; entretanto, o campo da reprodução ainda é muito débil, ou seja, a Criminologia, enquanto disciplina, ainda se ressente de um forte déficit educacional e decisório, de um forte
1 Realizou pós-doutorado em Criminologia pela Universidad de Buenos Aires (UBA) – Argentina. Doutora em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). Professora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e do Mestrado em Direito da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Coordenadora do Grupo de Estudos sobre violência e controle social (GEVICO).
2 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Pelas mãos da Criminologia: o controle penal para além da (des) ilusão. Rio de Janeiro: Revan/ ICC, 2012, p. 34.
déficit de institucionalidade (o que não significa que a mera institucionalização garanta, por si só, a positividade que se deseja).
Sobre essa reflexão, importante pesquisa realizada por Helena Schiessl Cardoso3 faz um diagnóstico bastante cuidadoso sobre o ensino de Criminologia no Brasil. Em sua tese de doutorado, defendida no ano de 2017, Cardoso procura mapear “comunidades criminológicas estabelecidas”. Em linhas gerais, seu objeto de investigação é a presença de conteúdos criminológicos “nos programas de pós-graduação em Direito (mestrado acadêmico), nas universidades públicas brasileiras (federais e estaduais), no período compreendido entre 2005 e 2014”. Sua pesquisa, “essencialmente a partir da análise das ementas e das bibliografias das disciplinas nos ‘dados oficiais’ da CAPES”, revela que apesar de “eventual disseminação do ‘criticismo’ no ensino jurídico ao nível da pós-graduação”4, o conteúdo criminológico ainda é um “problema epistemológico” a ser resolvido, na medida em que “o projeto criminológico crítico da Brasilidade Criminológica”5, ainda está por se concretizar em nossa experiencia universitária.
Nesse estudo, que traz verdadeira “geografia representativa da produção criminológica crítica qualificada em terras brasileiras”6, o PPGDI é citado como um programa7 que, mesmo sem protagonismo, traz conteúdos criminológicos em sua matriz curricular.
No entanto, Cardoso8 demostra em sua tese que, mesmo em programas como o PPGDI, que contemplam o conteúdo, isso indica apenas “a existência de vestígios criminológicos explícitos ou
3 CARDOSO, Helena Schiessl. O ensino da Criminologia nos Mestrados em Direito das Universidades Públicas. Tese submetida ao Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina para a obtenção do Grau de Doutora em Direito. Santa Catarina, 2017.
4 CARDOSO, 2017, op. cit., p. 343.
5 Ibid., p. 344.
6 Ibid., p. 158.
7 “A disciplina Seminários em pós-modernidade, controle penal e cidadania é oferecida pelo professora Dra. Débora Regina Pastana todos os anos desde a sua criação em 2011 – ao menos no marco temporal de nossa pesquisa. A ementa da disciplina trabalha questões como a ‘violência’ no marco da ‘teoria sociológica brasileira’, o ‘sistema penitenciário’, a ‘segurança pública’ e a ‘cultura do controle no atual estágio da modernidade’. A bibliografia contempla um leque de autores críticos ao paradigma do controle penal contemporâneo, a exemplo da própria professora da disciplina (Débora Regina Pastana), Nils Christie, Loïc Wacquant e Dario Melossi, entre outros”. (grifo da autora). Ibid., p. 177.
8 Ibid., p. 221.
implícitos”. Apenas para ilustrar, no marco temporal da pesquisa, “o saber criminológico esteve presente na estrutura curricular como ‘disciplina acadêmica’ em somente 9 (nove) dos 31 (trinta e um) cursos de mestrado acadêmico em Direito das universidades públicas brasileiras”9; o que representa um percentual de 29,03% da amostra analisada pela pesquisadora.
Como se observa, para que tenhamos uma formação criminológica potente no ensino jurídico brasileiro contemporâneo, capaz de contribuir para promoção da necessária demolição do atual modelo de controle penal seletivo e aniquilador, ainda temos muito terreno teórico-prático a conquistar.
Assim, esse capítulo procura, não apenas produzir um panorama teórico da produção criminológica, mas sobretudo reforçar sua importância para a produção cientifica nacional e, mais ainda, para a reformulação dos modelos punitivos que infelizmente ainda fazem da resposta penal uma forma simbólica de exclusão desigual e perversa. Minha presença no PPGDI tem essa intenção, vale dizer, auxiliar na produção de conhecimento criminológico referenciado que seja ao mesmo tempo crítico e transformador.
Pois bem. A Criminologia surge, enquanto ciência, como coadjuvante do Direito Penal. Nos primórdios positivistas da escola italiana de Cesare Lombroso (1836-1909), Enrico Ferri (18561929) e Rafaelle Garófalo (1851-1934), ainda no final do século XVIII, os estudos criminológicos que começavam a se constituir como um “campo de conhecimento com pretensões de cientificidade voltado para a compreensão da natureza do crime e do criminoso”10, ficaram colonizados tanto pela ciência penal quanto pelo saber psiquiátrico. Nesse sentido, enquanto conhecimento auxiliar, “as premissas da criminologia etiológica” passaram a atuar “nos sistemas de interpretação e valoração das provas”11, principalmente no interior dos processos penais. Nesse paradigma científico, o olhar
9 Ibid., p. 221.
10 ALVAREZ, Marcos César. A criminologia no Brasil ou como tratar desigualmente os desiguais. Dados, N° 45, 2002, p. 678.
11 CARVALHO, Salo de. Antimanual de criminologia. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 6.
voltava-se para o desviante de modo a percebê-lo como um anormal, resultado de algum atraso evolutivo.
Lombroso tornou-se famoso por defender a teoria que ficou popularmente conhecida como a do “criminoso nato”, expressão que na realidade foi criada por Ferri. Ao partir do pressuposto de que os comportamentos são biologicamente determinados, e ao basear suas afirmações em grande quantidade de dados antropométricos, Lombroso construiu uma teoria evolucionista na qual os criminosos aparecem como tipos atávicos, ou seja, como indivíduos que reproduzem física e mentalmente características primitivas do homem. Sendo o atavismo tanto físico quanto mental, poder-se-ia identificar, valendo-se de sinais anatômicos, aqueles indivíduos que estariam hereditariamente destinados ao crime12.
Ferri, por sua vez, “tentava demonstrar que o livre arbítrio era uma ficção”13. Ele dizia que “as ações humanas, honestas ou desonestas, sociais ou antissociais, são sempre produto de seu organismo fisiopsíquico e da atmosfera física e social que o envolve”14. Assim, para Ferri, questões biológicas como raça, idade e sexo, se entrelaçavam com questões sociais como alcoolismo ou religião para explicar a conduta criminosa. A depender da predominância de certos fatores, “os criminosos poderiam ser divididos em cinco classes: natos, insanos, passionais, ocasionais e habituais”15.
Garófalo, o mais autoritário, via “a defesa social como uma luta contra inimigos naturais”16. Ele entendia que contra tais inimigos nenhuma medida ressocializadora seria possível. Pai do conceito de periculosidade no âmbito penal, Garófalo foi responsável por aumentar o aspecto repressivo da resposta penal, propondo penas como deportação, expulsão e até mesmo a pena de morte para os totalmente irrecuperáveis.
Como se observa, o positivismo criminológico, em suas distintas interpretações, enquanto ciência cada vez mais aplicada ao entendimento do próprio exercício penal de punir, representava
12 ALVAREZ, op. cit., p. 679.
13 ANITUA, Gabriel Ignacio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Rio de Janeiro, Revan1: Instituto Carioca de Criminologia, 2008, p. 310.
14 Ibid., p. 312.
15 ALVAREZ, op. cit., p. 681.
16 ANITUA, op. cit., p. 314.
certa régua capaz de medir o potencial de regeneração dos criminosos por meio do diagnóstico da periculosidade criminosa. Se a infração penal era a “expressão sintomática de uma personalidade antissocial, anormal e perigosa”, a pena “na companhia da medida de segurança, de caráter preventivo”, ganhava contornos capazes “de alcançar os objetivos da correção, da educação, da inocuização e da cura, que irão proporcionar a readaptação do delinquente à vida em sociedade”17. Nesse sentido o Direito Penal passa a configurar verdadeiro laboratório a definir critérios e condições que conduziriam “o processo pedagógico de regeneração do criminoso submetido às penas prisionais (imputável), às medidas de segurança (inimputável psíquico) ou às medidas educativas (inimputável etário)”18.
Tais concepções dessa Criminologia, também apelidada de Antropologia Criminal, como bem destaca Marcos César Alvarez19, “foram incorporadas com entusiasmo por grande parte da intelectualidade brasileira20”, mesmo que muito criticadas na Europa em seu desenrolar. De fato, entre nós brasileiros a condição de extrema desigualdade social produziu uma também extrema identificação da elite jurídica com as tais explicações pseudocientíficas que justificavam a prática criminosa pela inferioridade do criminoso, legitimando, assim, uma sub-cidadania com formas diferenciadas de tratamento penal para segmentos subalternos.
“Como resultado da recepção eclética e conciliadora das teorias criminológicas europeias pelos juristas brasileiros, o crime e o criminoso passaram a ser pensados” [...] tanto por “aspectos biológi-
17 CAETANO, Haroldo. Direito Penal perigoso ou, afinal, perigoso é mesmo o louco? Boletim IBCCRIM. Vol. 25 N°. 294, 2017.
18 CARVALHO, op. cit., p. 6.
19 ALVAREZ, op. cit., p. 678.
20 “Diversos historiadores do direito penal consideram João Vieira de Araújo (1844-1922), professor da Faculdade de Direito do Recife”, o primeiro autor a se mostrar informado a respeito do positivismo criminológico europeu. [...] “Outros autores, no entanto, como Silvio Romero (1951:55), atribuem a Tobias Barreto esse mérito”. Ibid., p. 682-683. “De qualquer modo, após essa recepção pioneira no Recife, inúmeros outros juristas, ao longo da Primeira República, passam a divulgar as novas abordagens “científicas” acerca do crime e do criminoso: Clóvis Beviláqua, José Higino, Paulo Egídio de Oliveira Carvalho, Raimundo Pontes de Miranda, Viveiros de Castro, Aurelino Leal, Cândido Mota, Moniz Sodré de Aragão, Evaristo de Moraes, José Tavares Bastos, Esmeraldino Bandeira, Lemos Brito, entre outros, publicaram artigos e livros em que são discutidos os principais conceitos e autores da criminologia e da Escola Positiva de direito penal”. Ibid., p. 684.
cos quanto pelo meio social”21. Assim, também no Brasil, o pensamento criminológico que tenta explicar o crime se inicia com uma alquimia de fatores biológicos e sociais, em uma clara associação de posicionamentos racistas e classistas, altamente seletivos22 e deterministas.
Ao longo da Primeira República, e mesmo nas décadas seguintes, as ideias discriminatórias da Antropologia Criminal lombrosiana, e de seus discípulos, continuaram a “operar como um contraponto semiclandestino ao valor formal da igualdade perante a lei” (Fry, 2000, p. 213)23
Tal afirmação de Alvarez é importantíssima pois, de alguma forma, é possível ponderar que resquícios de “práticas discriminatórias ainda presentes no campo jurídico-penal em nosso país” estejam associados a certa identificação com as premissas positivistas que insistem em permanecer no imaginário desse campo. Dito de outro modo, parte sensível da postura discriminatória do campo jurídico-penal se explica por essa herança positivista que, por certo, ainda não foi totalmente superada. Como bem alerta Haroldo Caetano24, a periculosidade, “por seu fundamento racista, será identificada dentre os homens classificados como de pior qualidade, os degenerados, os biologicamente deficientes, que precisam ser controlados pelos que exercem o poder, pois se convertem em uma classe social perigosa”. Impossível não perceber que essa concepção serviu para justificar o controle social seletivo, materializado no amplo encarceramento destinado majoritariamente a negros e pardos.
De todo modo, é importante frisar que nas duas primeiras décadas do século XX essa Criminologia positivista, embora auxiliar em seus propósitos, figurava como protagonista quando o assunto era explicar o evento criminoso. Na esteira de justificar a estratifica-
21 ALVAREZ, op. cit., p. 687.
22 “A criminologia, como conhecimento voltado para a compreensão do homem criminoso e para o estabelecimento de uma política ‘científica’ de combate à criminalidade, será vista como um instrumento essencial para a viabilização dos mecanismos de controle social necessários à contenção da criminalidade local. Mas, com a Proclamação da República, os desafios colocados para as elites republicanas não irão limitar-se ao estabelecimento de novas formas de controle social, mas incluirão especialmente o problema ainda maior de como consolidar os ideais de igualdade política e social do novo regime ante as particulari- dades históricas e sociais da situação nacional. É com relação a esse problema que os desdobramentos das idéias da criminologia parecem ter sido mais interessantes” (sic) Ibid., p. 693.
23 Ibid., p. 696.
24 CAETANO, op. cit., p. 3.
Penal um caráter naturalístico e, ao mesmo tempo, organicista que certamente desvirtuou seu eixo reflexivo.
Para Manoel Pimentel25, foi o movimento técnico-jurídico que empreendeu uma reação contra o que chamou “intromissão excessiva no campo da ciência penal, das ciências afins ou colaboradoras” como a Sociologia, a Antropologia e a Medicina. Curioso perceber que para o jurista, foi justamente o recrudescimento positivista dentro do Direito, cada vez mais centrado na técnica normativa, que fez abalar a legitimidade do positivismo criminológico. Embora possa parecer um paradoxo, naquele momento representava apenas a demarcação de fronteiras dos saberes penal e criminológico, como bem observou Salo de Carvalho26.
O estudo do delito como ente jurídico e a limitação das hipóteses criminalizadoras exclusivamente à lei penal (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta, stricta) – a maior conquista do direito penal da Modernidade em termos de garantias individuais, apesar do caráter meramente retórico assegurado pelo princípio da legalidade –, consolidaram-se, após o ataque do positivismo criminológico, como epicentro dos estudos e das investigações da dogmática penal. A partir da legalidade foram estabelecidos os critérios e os requisitos que justificariam apontar a responsabilidade criminal e, em consequência, sancionar o autor do fato criminoso. (sic)
O fato é que ao mesmo tempo em que o dogmatismo penal produzia hegemonia dentro do campo jurídico, associando o olhar positivista ao predomínio da lei penal na construção do significado criminoso, a Criminologia também assistia uma superação de seus postulados, vendo-se atravessada confusamente por uma certa política criminal denominada “defesa social” que se travestia de humanista.
Buscando maior eficácia das normas jurídicas, com o intuito de proteger a sociedade contra o crime, as teorias de Defesa Social (Filippo Gramatica) e de Nova Defesa Social (Marc Ancel), almejavam, em grande parte, organizar um sistema punitivo capaz de pre-
25 PIMENTEL, Manoel Pedro. Breves notas para a História da Criminologia no Brasil. Revista da Faculdade de Direito da UFG, Goiânia, Vol. 4, N°. 2, 1980, p. 234.
26 CARVALHO, op. cit., p. 6.
venir a prática delitiva e, ao mesmo tempo, individualizar a resposta punitiva, potencializando, assim, a ressocialização do indivíduo.
O MDS (Movimento de Defesa Social), ao negar as concepções tradicionais do Direito Penal liberal, sobretudo a função retributiva da pena, é pautado no conceito de ressocialização, autoatribuindo à sua construção teórica caráter humanista. Contudo a adoção de categorias como periculosidade, reeducação, personalidade desviante, prevenção da reincidência e a formação de sistema de medidas de segurança extrapenais desmentem o projeto humanitário, pois, ao serem deslocadas do paradigma etiológico e ao retornarem ao horizonte de ação do Direito Penal, revigoram práticas autoritárias e segregacionistas.27 (sic)
O fato é que “apresentadas ao público consumidor do sistema penal como teorias humanizadoras” tais premissas acabaram por configurar “as reformas dos principais ordenamentos jurídico-penais e das agências punitivas ocidentais do pós-Guerra”28. De certo modo, a última grande reforma da parte geral do Código Penal brasileiro, produzida em 1984, traz exatamente essas premissas de prevenção geral e especial, além da crença quase ingênua no instituto da ressocialização29.
Sabemos que a execução penal não socializa nem cumpre nenhuma das funções “re” que lhes inventaram (“re” – socialização, personalização, individualização, educação, inserção, etc.), que tudo isso é mentira e que pretender ensinar um homem a viver em sociedade mediante o cárcere é, como disse Carlos Alberto Elbert, algo tão absurdo como pretender treinar alguém para jogar futebol dentro de um elevador.30 (tradução livre)
É justamente a partir de observações como essa de Zaffaroni, que explicitam a injustiça e ineficácia do Direito Penal, que a Criminologia irá dar uma guinada teórica radical se distanciando da lógica da defesa social. Postulados críticos começam a reorientar a própria
27 CARVALHO, Salo. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei n. 11. 343/ 2006. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 79-80.
28 CARVALHO, 2011, op. cit., p. 2.
29 No Brasil é importante frisar a influência de Heleno Claudio Fragoso na defesa desse paradigma criminal. Para o jurista, “a pena é medida de defesa social: visa defender a existência da sociedade juridicamente organizada contra o perigo da delinquência. No momento da ameaça procura infundir temor e afastar os destinatários da norma da prática do delito. No momento da execução essa defesa opera através do impedimento físico do condenado (colocando-o na impossibilidade de praticar novos crimes) ou através do impedimento psíquico, seja pela intimidação, seja pela correção ou emenda”. FRAGOSO, Heleno Cláudio. Perda da liberdade – os direitos dos presos. In: VIII Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Manaus. OAB, 1980, p. 4.
30 ZAFARONI, Eugenio Raul. El sistema penal em los países de América latina. In: ARAÚJO JÚNIOR, João Marcello de. (Org.). Sistema penal para o terceiro milênio: atos do colóquio Marc Ancel. 2ª ed. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 223.
natureza da ciência criminológica, assim como seu lugar no campo jurídico-científico. Interessante notar que até o momento tínhamos uma ciência preocupada em explicar a prática delitiva e seu perpetrador, agora passamos a uma ciência que questiona o próprio poder de punir colocando em dúvida sua legitimidade e seus métodos.
Antes de adentrar no que se convencionou chamar de “Criminologia Crítica”31 (ou da reação social), é também fundamental relatar aqui a influência da Sociologia do desvio, particularmente os estudos da Escola de Chicago (orientados pelo paradigma teórico do interacionismo simbólico); para o desenvolvimento de renovadas visões criminológicas, mais atentas ao olhar crítico sobre o próprio sistema de punição. Sob essa perspectiva, tanto Erving Goffman32 quanto Howard Becker33 produziram estudos analíticos sobre os papéis sociais e os estigmas produzidos socialmente. Goffman34, mais atento às instituições totais, investigou os mecanismos utilizados para manter a ordem nesses espaços hierarquizados, demonstrando a impossibilidade de ressocialização onde a regra é sempre obediência e submissão. Becker estudou os outsiders, porém sua abordagem privilegiou as formas de etiquetamento social como mecanismo produtor de desviantes. Segundo Becker35, [...] grupos sociais criam o desvio ao fazer as regras cuja infração constitui desvio, e ao aplicar essas regras a pessoas particulares e rotulá-las como outsiders. Desse ponto de vista, o desvio não é uma qualidade do ato que a pessoa comete, mas uma consequência da aplicação por outros de regras e sanções a um “infrator”. O desviante é alguém a quem esse rótulo foi aplicado com sucesso; o comportamento desviante é aquele que as pessoas rotulam como tal.
Para ambos, “a teoria do etiquetamento” (em inglês labeling approach) será o ponto central de discussão sobre a seletividade do
31 É certo que para muitos (as) estudiosos (as) utilização do termo “Criminologias críticas”, no plural, seria mais adequado em face das várias teorias críticas que se desenvolveram dentro dessa proposta. Entretanto, adota-se, neste capítulo, o termo “Criminologia Crítica”, no singular, no sentido mais amplo de ruptura epistemológica com o positivismo. Para um mapeamento da diversidade do pensamento criminológico crítico confira: FERREIRA, Carolina Costa. Os caminhos das criminologias críticas: uma revisão bibliográfica. In. Revista de Criminologias e Políticas Criminais. Vol. 2, N° 2, 2016.
32 GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 4ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015a.
33 BECKER, Howard. S. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. Rio de Janeiro, Zahar, 2008.
34 GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Perspectiva, 2015b.
35 BECKER, 2008, op. cit., p. 21-22.