
Raphael Diniz Franco
Coleção Ciências Criminais
Teses Selecionadas
Coordenadores

Alexandre Wunderlich Salo de Carvalho


Teses Selecionadas
Coordenadores

Alexandre Wunderlich Salo de Carvalho
AdvocAciA, sigilo profissionAl e dever de informAção
Copyright© Tirant lo Blanch Brasil
Editor Responsável: Aline Gostinski
Assistente Editorial: Izabela Eid
Diagramação e Capa: Analu Brettas
CONSELHO EDITORIAL CIENTÍFICO:
eduardo Ferrer maC-gregor poisot
Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Investigador do Instituto de Investigações Jurídicas da UNAM - México
Juarez tavares
Catedrático de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil
Luis López guerra
Ex Magistrado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Catedrático de Direito Constitucional da Universidade Carlos III de Madrid - Espanha
owen m. Fiss
Catedrático Emérito de Teoria de Direito da Universidade de Yale - EUA
tomás s. vives antón
Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência - Espanha
F897L
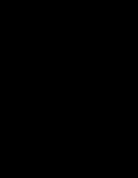
Franco, Raphael Diniz
Lavagem de capitais [recurso eletrônico] : advocacia, sigilo profissional e dever de informação / Raphael Diniz Franco ; coordenadores Alexandre Wunderlich, Salo de Carvalho. - 1. ed. - São Paulo : Tirant Lo Blanch, 2023.
recurso digital ; 1 MB (Ciências criminais teses selecionadas ; 3)
Formato: ebook

Modo de acesso: world wide web
ISBN 978-65-5908-591-0 (recurso eletrônico)
23-84751
CDU: 343.352:347.965.6(81)
DOI: 10.53071/boo-2023-06-22-6494a70e9a134
É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais.A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art.184 e §§, Lei n° 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei n°9.610/98).
Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch.
Fone: 11 2894 7330 / Email: editora@tirant.com / atendimento@tirant.com tirant.com/br - editorial.tirant.com/br/
Impresso no Brasil / Printed in Brazil
1. Lavagem de dinheiro - Brasil. 2. Advocacia - Brasil. 3. Responsabilidade (Direito). 4. Ética jurídica. 5. Livros eletrônicos. I. Wunderlich, Alexandre. II. Carvalho, Salo de. III. Título. IV. Série. Meri Gleice Rodrigues de Souza - Bibliotecária - CRB-7/6439Raphael Diniz Franco
Coleção Ciências Criminais
Teses Selecionadas
Coordenadores

Alexandre Wunderlich Salo de Carvalho
AdvocAciA, sigilo profissionAl e dever de informAção
É com felicidade que anunciamos mais uma publicação na coleção “Ciências criminais: teses selecionadas”, que em nosso juízo vem aproximando a crítica acadêmica e a produção científica de qualidade aos profissionais do Direito. Como registramos nos trabalhos anteriores, ao longo da nossa jornada acadêmica, ocupamos espaços em diversas Instituições de Ensino, na graduação e na pós-graduação, o que nos tem permitido acesso a inúmeras investigações, materializadas em dissertações e teses. Algumas pesquisas através do trabalho direto, por meio de orientações, e outras tantas em razão de participações em arguições. No caso do presente trabalho de Raphael Diniz Mendes de Araujo Franco, é fruto de orientação de Alexandre Wunderlich, no curso de Mestrado Profissional em Direito do IDP em Brasília.
Aqui temos mais uma investigação de qualidade, publicada pela parceira Editora Tirant lo Blanch e com a chancela do Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais. É um grande prazer e renovado orgulho apresentar aos leitores da coleção “Ciências criminais: teses selecionadas”, mais uma investigação.
Porto Alegre e Rio de Janeiro, maio de 2023.
proF. dr. aLexandre wunderLiCh proF. dr. saLo de CarvaLho
O livro que o autor tem em mãos é a mais atualizada fonte de estudo a respeito de importante tema relacionado à conexão do crime de lavagem de capitais e o exercício da advocacia, particularmente sobre as obrigações desse setor diante do sistema de prevenção e repressão aos atos de lavagem de dinheiro.
Não poderia ser diferente, eis que resultado de sua trajetória no Mestrado em Direito, no respeitado Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP. Tive a honra de integrar a banca examinadora da dissertação, na companhia dos Professores Doutores Danyelle Galvão e Alexandre Wunderlich, orientador do candidato, duas das minhas maiores referências na advocacia e no estudo do direito penal e processual penal.
O início da obra destaca a ampliação dos sujeitos obrigados pela Lei nº 12.683/2012, que impôs deveres de reporte de operações suspeitas de clientes aos profissionais que prestem “consultoria ou assessoria de qualquer natureza”, relacionadas ao art. 9º da Lei nº 9613/98, e a partir daí analisa a permanente e polêmica discussão sobre a origem e limites da regulamentação da matéria no direito comparado, a partir das Diretivas da Comunidade Europeia e das exigências internacionais.
O autor oferece com exatidão um completo panorama do estado desse debate, em especial no Brasil, com acurada avalição do enfrentamento dessa matéria pelo Conselho Federal da OAB, que rejeitou seguidamente a regulamentação e criação de obrigações dirigidas aos seus inscritos.
O trabalho tem o grande valor de encontrar, no meio dessa notória controvérsia, os melhores argumentos favoráveis e contrários à adoção pelo nosso sistema de regras específicas à advocacia para imposição dos deveres de controle e comunicação de operações suspeitas, já dirigidas a outros setores profissionais. De outro lado, entre os méritos do livro, um dos principais é a investigação aprofundada do conceito de sigilo profissional do advogado, tema ainda pouco explorado pela doutrina, e das consequências que tal formulação traz à elaboração das melhores respostas dogmáticas.
Os precedentes dos tribunais europeus e a diferenciação do conteúdo do sigilo, envolvendo atividades privativas e não privativas da advocacia, deverão receber atenção especial do leitor que busca elementos mais precisos para solucionar o dilema da imposição de deveres de prevenção ao setor, para além dos lugares comuns que dominaram o superficial debate recente.
A conjugação entre a indispensabilidade do exercício da advocacia para a administração da justiça, valor constitucionalmente assegurado, e o aperfeiçoamento do sistema de controle e repressão de atos de lavagem de dinheiro constituem permanente desafio doutrinário. Essa tarefa nos impõe a construção de um direito que ofereça bases democráticas seguras de reforço dos direitos e dos predicados éticos de uma profissão essencial ao estado de direito e que não pode permanecer à margem do esforço comunitário para a prevenção da grave criminalidade.
E o primeiro passo para que se possa cumprir com eficácia esse objetivo é a afirmação da proteção irrenunciável das prerrogativas profissionais e do indispensável sigilo da relação cliente e advogado, dentro do perímetro das atividades privativas da função, corretamente demarcando sua natureza, substância e finalidade. Apenas dessa forma será legítima, após a definição desse espaço insondável ao estado, criar quaisquer modalidades de deveres e obrigações.
O trabalho de Raphael Diniz Franco certamente terá, por essas e outras virtudes, lugar de destaque em nossas bibliotecas e será durante bom tempo consulta obrigatória em qualquer discussão sobre os deveres inerentes ao exercício da advocacia, bem como nas futuras (e certas) revisões legislativas sobre o crime de lavagem de capitais.
O livro, publicado pela prestigiada Editora Tirant Lo Blanch, em coleção coordenada pelos Professores Alexandre Wunderlich e Salo de Carvalho, nomes que atribuem excelência científica ao trabalho perante a comunidade acadêmica, premia com justiça o percurso de Raphael Diniz Franco e presta relevante contribuição à literatura jurídica do nosso país.
proF. dr. JuLiano Breda Advogado. Doutor em Direito pela UFPR. Pós-Doutoramento na Universidade de Coimbra. Pesquisador Convidado na Humboldt Universität – Berlin.
Honrado com a elevada distinção de apresentar o excepcional trabalho de mestrado da lavra de Raphael Diniz Mendes de Araujo Franco, começo por declinar meu desvanecimento em face da absoluta desnecessidade de enaltecer as virtudes e elevadas qualificações que se identificam no autor do trabalho em questão, advogado talentoso e dedicado cultor das letras jurídicas.
A rigor, Raphael não precisa de qualquer referência encomiástica ou palavras laudatórias, seja pela segurança com que aborda os temas, seja pela honestidade intelectual com que enfrenta a delicadeza da matéria versada, que coloca em confronto a atividade do advogado, em juízo ou fora dele, no assessoramento cada vez maior no mundo negocial, no aconselhamento, na elaboração de pareceres, de tal sorte que emitir juízo de valor, assentando premissas e conclusões de modo peremptório, com verdades apodíticas e imutáveis, se afigura meta praticamente incompossível.
Há mais de um século Rui Barbosa verberava pela independência absoluta do profissional da advocacia e é neste campo que transita a obra apresentada, abrindo espaço para uma reflexão mais profunda sobre pontos que sugerem controvérsias. É neste mister que exsurge o merecimento superior deste trabalho, o mérito de Raphael em não se eximir de enfrentar firmemente, esta árdua matéria.
Tal visão – de independência e coragem -, mais adiante foi gizada por Sobral Pinto ao enfatizar que a advocacia não é ofício para covardes, por isso o justo enaltecimento ao, por assim dizer, atrevimento do autor em mergulhar, sem receio, na perquirição do tema objeto de sua monografia.
Não. O autor não se omitiu, tanto assim que trouxe à baila o complexo tema alusivo ao delito de lavagem de capitais, envolvendo os deveres de sigilo da advocacia, em face dos cometimentos de informação aos órgãos públicos – situações anômalas, que causam dubiedade e perplexidade para a correta e melhor exegese –, momento em que os conceitos ficam esmaecidos e com menor nitidez, tornando espinhosa a busca para o melhor desenlace de uma ou outra questão.
Raphael foi intimorato, como de sua formação, não deixando de enfrentar a sutileza da problemática posta a seu juízo crítico – de resto menos opinativo e muito mais reflexivo –, a partir da doutrina mais autorizada e de pesquisa haurida no direito comparado, deixando patente, aqui e ali, sua posição pessoal, sem embargo de revelar a seriedade com que cuidou da matéria, não raro expondo pensamentos diversos daquele que prestigiava, a saber, sempre e mais do que
tudo, a postura do advogado sem concessões, e preservando com engenho e arte, o equilíbrio jurídico em suas reflexões.
Esteve atento, em toda a sua pesquisa, às nuances que distinguem o advogado – no tradicional mundo forense – de outros tantos que participam de negócios, integram administrações ou atuam – para usar a expressão contida no texto – como House Lawyers.
Em suas investigações, destacou que o advogado pode se deparar com a imprescindibilidade de traduzir e expressar – em suas interpretações –, uma arguta sensibilidade, que vai se revelar no exame de cada caso, com suas peculiaridades. Importa considerar que a interpretação do direito se renova a partir de princípios teleológicos, finalísticos, e que não despreza, jamais, o momento histórico.
Assim, mudam-se as relações humanas, as negociais, globaliza-se o mundo que empresta caráter cada vez mais transnacional às sociedades, configurando-se não raro o surgimento de complexas organizações internacionais de crime organizado, demandando o desate de conflito entre o dever de reporte e o sigilo inerente ao exercício da advocacia.
Não se omitiu Raphael de enfrentar o tema por sua aridez, fazendo colocações voltadas à prevalência do papel do advogado, mitigando a obrigação de relatar pretensas ilicitudes tal como o ordenamento jurídico atual estabelece. É importante salientar que a valoração de cada situação estudada demonstrou que o entendimento do autor jamais se baseou em petição de princípio, mas ao contrário, em segura e sólida argumentação jurídica.
No direito comparado, restou patenteado que as perplexidades não se limitam ao nosso país, bem ao revés, atingem a comunidade europeia e o mundo, como um todo, suscitando o interesse e a necessidade no sentido de que se aprofundem o estudo e o questionamento do conflito imanente entre a lei específica dos advogados, em cotejo com normas que dizem respeito à preservação do interesse público.
Tenho o privilégio de contar com Raphael como advogado de escol em meu escritório, daí me permitir testemunhar sua correção, preparo, probidade, visão científica do seu campo de pesquisa, que se destina não só ao seu saber individual, senão ao enriquecimento cultural de todos que o cercam e da sociedade que integra, pretendendo, como todos nós, vê-la mais justa e mais próxima dos ideais de justiça que a permeiam, ideário de qualquer país que preserve o interesse de aperfeiçoamento permanente de um Estado Democrático de Direito, que há de se aproximar de um Estado de Justiça Social.
É de se reconhecer a magnitude do trabalho de Raphael, abordando tão densa matéria, complexa e delicada, o que não o impediu de abrir clareiras em
prol de um pensamento voltado às melhores interpretações, diante dos conflitos nos diversos casos concretos em que colidem o sigilo profissional e o dever de informação ao Poder Público, no campo da lavagem de capitais.
A leitura da obra ora apresentada é altamente recomendável, senão obrigatória, para todos quantos queiram abrir os olhos à realidade de um mundo multifacetado, em que interesses individuais se conflitam com os interesses públicos, cabendo ao direito, aos seus exegetas, aos doutrinadores, aos estudiosos, ao mundo acadêmico, colaborar para o melhor deslinde de tais controvérsias.
neLio maChadoO tema de pesquisa neste estudo refere-se a um dos 3 (três) pontos de interseção1 entre o combate ao delito de lavagem de capitais e o exercício da advocacia, notadamente à sujeição dos advogados à obrigação de reporte de operações suspeitas de seus clientes aos órgãos de controle estatais.
Dentro do ordenamento jurídico brasileiro, deverão os advogados se submeter à obrigação de reporte de operações suspeitas de seus clientes, que tomarem conhecimento em razão do exercício da advocacia?
Diante do avanço no combate à criminalidade organizada no cenário internacional, observa-se, desde a década de 1980, a implementação de diversas medidas jurídicas objetivando a repressão ao tráfico de drogas, à corrupção, ao terrorismo, bem como à reinserção do proveito dos delitos na economia, mediante operações destinadas a ocultar ou dissimular sua origem ilícita.
Assim, com o aumento da demanda pela imposição de medidas legais destinadas à prevenção e repressão ao crime de lavagem de capitais no cenário internacional, tem-se observado, no arcabouço legislativo brasileiro, a cominação, aos particulares, de uma série de deveres e obrigações perante os órgãos estatais de controle.
Desse modo, a intensificação na coibição ao branqueamento de capitais gerou o visível engajamento das autoridades nacionais encarregadas pela persecução penal na repressão à infração penal em questão, com a criação de Forças-Tarefas, de Grupos Especializados e a recorrente deflagração de diligências policiais objetivando o seu enfrentamento.
Neste panorama de interseção entre o combate à lavagem de dinheiro e o exercício da advocacia, veio à tona a Lei n. 12.683/2012, impondo-se a obrigação de reporte de operações suspeitas de clientes aos profissionais que prestem “consultoria ou assessoria de qualquer natureza”, quando a atividade estiver entre aquelas mencionadas no inciso XIV de seu artigo 9º.
Nota-se, assim, uma alteração no eixo estrutural do enfrentamento à lavagem de dinheiro, na medida em que as medidas de prevenção e repressão, antes exclusivamente destinadas aos agentes públicos, foram estendidas aos particula-
res, sobretudo aos setores tidos como mais sensíveis às operações de branqueamento, como as instituições bancárias e casas de câmbio.
Particularmente, a previsão legal de obrigação de reporte de operações suspeitas de clientes aos profissionais que prestem “consultoria ou assessoria de qualquer natureza” – quando a atividade estiver entre aquelas mencionadas no inciso XIV do artigo 9º da Lei n. 9.613/1998 – despertou atenção da classe dos advogados, diante das especificidades da relação com seus constituintes.
Isso porque tal obrigação se conflita com a garantia de “inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia” e com a confidencialidade da comunicação entre advogado e cliente, ambas previstas nos incisos II e III do artigo 7º do Estatuto da Advocacia. Assim, diante da hipótese de os advogados serem incluídos como sujeitos obrigados a comunicar operações suspeitas de seus clientes, por se inserirem em categoria profissional que presta “consultoria ou assessoria de qualquer natureza” nas operações previstas na Lei de Lavagem, veio à baila o debate sobre a legalidade da imposição de sua colaboração com as autoridades públicas, sem se violar a indispensável confiança que deve pautar a relação entre advogado e cliente.
Instaurou-se, assim, uma verdadeira dicotomia, pois o legislador, por um lado, exige de todo aquele que aconselha ou presta “assessoria de qualquer natureza” a obrigação de colaboração com as autoridades no combate à lavagem de dinheiro. Por outro, proíbe e pune a quebra de confiança do profissional da advocacia em relação aos dados e informações repassados por seus clientes (BADARÓ; BOTTINI, 2019, p. 187).
Diante do potencial confronto normativo acima delineado, afigura-se importante definir se a confidencialidade das comunicações entre cliente e advogado afeta toda a extensa gama de atividades profissionais que são desempenhadas pelo profissional da advocacia, se incide somente sobre aquelas tidas como privativas da classe ou se encontra limitação nas hipóteses de representação judicial dos constituintes.
Em decorrência deste contexto de insegurança sobre a extensão da aplicação da norma, diversos questionamentos surgiram a respeito da incidência de tal obrigação sobre os advogados, seja em relação aos que atuam em litígios, seja aos que exercem atividades consultivas e de assessoria jurídica, bem assim em relação aos que realizam assessoria não vinculada à esfera jurídica.
Com efeito, a delimitação dos advogados enquanto sujeitos passivos da obrigação de reporte em comento é imprescindível ao exercício da atividade ad-
vocatícia com a segurança jurídica necessária ao desempenho da função com independência e destemor.
Não menos importante à sociedade é o debate sobre o tema, posto que qualquer cidadão poderá ser afetado pela extensão da medida, que tem como ponto nevrálgico o conflito com a garantia de confidencialidade da relação (e qualquer forma de correspondência) entre cliente e advogado.
O tema despertou a atenção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), cujo Conselho Federal, em 13 de abril de 2021 (OAB, 2021), levou a debate proposta de provimento de autorregulação da classe para prevenir a lavagem de capitais.
Ressalte-se, no ponto, que, em 4 de dezembro de 2020, a XVII Reunião
Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) recomendou à OAB que editasse regulamentação aos advogados para o cumprimento das obrigações previstas na Lei n. 9.613/1998.
Não bastasse, a relevância e atualidade do tema também podem ser inferidas das atividades do Poder Legislativo, cuja Câmara instituiu Comissão – posteriormente transformada em um grupo autônomo de estudos, em razão de dificuldades decorrentes da pandemia de Covid-192 – para analisar a reforma da Lei n. 9.613/1998, sendo certo que um dos pontos destacados para debate se refere justamente às pessoas obrigadas ao reporte de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
A abordagem metodológica do estudo comporta, por meio do método dedutivo, a revisão documental, eminentemente qualitativa, da bibliografia nacional e internacional3 sobre este ponto de convergência entre o combate ao mascaramento de capitais e o exercício da advocacia, posto que as medidas legislativas incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro têm suas origens em Convenções e diretrizes internacionais, bem assim o exame de periódicos e de precedentes dos Tribunais nacionais e estrangeiros sobre o tema, para se responder ao objeto da pesquisa.
Inicia-se a pesquisa com a análise do panorama internacional a respeito do delito de lavagem de capitais, destacando-se a intensificação do combate à criminalidade organizada desde a década de 1980, a conceituação legal do delito, a ampliação do rol dos sujeitos obrigados às medidas de controle através da Lei n. 12.683/2012 e sua origem no Direito Comparado.
No segundo capítulo, serão abordados a origem, o conceito e os fundamentos do sigilo profissional do advogado, as hipóteses legais para o seu afastamento, além das atividades classificadas como típicas da advocacia, de modo a se verificar a prevalência (ou não) do dever de sigilo ante a obrigação de reporte, em razão da natureza da atividade exercida pelo advogado.
Por fim, a investigação perscrutará a dicotomia vivenciada pelos advogados diante da obrigação de reporte e do dever de guardar sigilo profissional, debruçando-se sobre as experiências e entendimentos adotados para solucionar a controvérsia no cenário internacional, a posição da Ordem dos Advogados do Brasil sobre o tema, e os fundamentos da impugnação, perante a Suprema Corte Federal, da conformidade constitucional do dever de reporte internalizado pela Lei 12.683/2012.
Antes de iniciar a abordagem histórica da tipificação do delito de lavagem de capitais, afigura-se oportuno conceituá-lo como o mecanismo pelo qual se busca distanciar o patrimônio oriundo de atividades criminosas da sua origem ilícita, sendo ardilosamente jogado no mercado formal como se legal fosse (LUZ, 2019, p. 2).
Trata-se, com efeito, da sequência de atos praticados para mascarar natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, valores e direitos provenientes de infrações penais, com a finalidade maior de recolocá-los na economia formal sob aparência de licitude (BADARÓ; BOTTINI, 2019, p. 29).
Busca-se, desse modo, ocultar o objeto material do crime antecedente, seja para furtar-se das penas a ele cominadas, seja para fruir dos seus proventos (MASSUD; SARCEDO, 2013, p. 264), acarretando em um nefário círculo vicioso da criminalidade que se retroalimenta e prolifera, o que, ao cabo, representa um relevante meio de refinanciamento das organizações criminosas modernas e requintadas (LUZ, 2019, p. 3).
A doutrina divide o crime de branqueamento em três fases: a primeira relacionada à colocação do proveito do crime no sistema financeiro (placement); seguida de operações destinadas a dissimular a origem criminosa (layering); findando na integração dos bens, direitos ou valores à economia formal, sob aparência lícita (integration) (SÁNCHEZ RIOS, 2010, p. 33).
No que tange ao bem jurídico penalmente tutelado, há intranquilidade na doutrina quanto ao tema, sendo oportuna a advertência de Silveira (2012, p. 129) em relação à “crise pós-moderna” referente à dificuldade de identificação dos bens jurídicos protegidos pelas normas penais, como se observa no caso da criminalização dos maus-tratos a animais, da tutela penal de embriões e na lavagem de capitais, o que vem a ser corroborado por Bechara (2009, p. 17), que reconhece a dissolução do conceito de bem jurídico em razão da perda de seus
contornos claros e objetivos, acentuando-se no caso de bens jurídico supraindividuais.
Apesar de tal dificuldade na identificação do bem penalmente tutelado pela norma criminal, “há um marco conceitual que define seus contornos”, operando como um “critério negativo, que afasta a legitimidade da proteção penal de tudo aquilo que esteja fora dos parâmetros definidos”, de modo que os bens jurídicos funcionam como “relevante instrumento de interpretação teleológica, capazes de solucionar impasses dogmáticos diversos, como problemas de concurso de normas, de aplicação da lei penal no tempo, e de fixação de critérios para apuração da materialidade típica” (BADARÓ; BOTTINI, 2019, p. 76-77).
Neste cenário de incerteza quanto à objetividade jurídica do mascaramento de capitais, há de se registrar a existência de segmento da doutrina que aponta para a Administração da Justiça como o bem jurídico protegido pela norma penal, posto que o objetivo maior da conduta criminosa seria o de dificultar que o Estado rastreie o produto do crime antecedente (BADARÓ; BOTTINI, 2019, p. 81).
Por sua vez, há relevante corrente indicando a proteção da ordem socioeconômica como o bem a ser zelado pelo tipo penal (CALLEGARI, 2004, p. 142), ante a disparidade provocada na concorrência pela atuação de empresas que se utilizam de fundos de origem ilícita, de modo que o branqueamento de dinheiro não afetaria somente a Administração da Justiça (MASSUD; SARCEDO, 2013, p. 269). Há, ainda, quem defenda ser a tutela do mesmo bem jurídico protegido pelo crime antecedente (GRECO FILHO, 2006, p. 162), pois é este que gera o patrimônio a ser lavado, posicionamento que desperta críticas, pois a identidade entre o bem penalmente tutelado entre ambos os delitos geraria bis in idem, impedindo, ainda, as hipóteses de autolavagem, “que ocorre nos casos em que o autor da reciclagem é também o agente do crime anterior” (BADARÓ; BOTTINI, 2019, p. 79).
Vê-se, assim, que existe uma pluralidade de bens apontados pela doutrina como protegidos pelo tipo penal de branqueamento de capitais, o que Gloeckner e Scapini (2019, p. 16) justificam como consequência da “escassez e anemia semântica que governam os discursos em torno da sua justificativa jurídico-penal”, o que, no sentir dos autores, revelaria a ausência de um bem jurídico protegido pela norma (CASTELLAR; 2004, p. 195). Tratar-se-ia, então, de um recurso à debilidade probatória para se obter a condenação pela prática do crime antecedente, classificado como “um tipo politicamente dirigido em processos de criminalização falhos” (GLOECKNER; SCAPINI, 2019, p. 17).
A origem histórica da conduta sob análise é atribuída aos Estados Unidos da América, quando da vigência da proibição de comercialização de bebidas al-
coólicas (Lei Seca), ocasião em que a criminalidade organizada passou a utilizar lavanderias de roupas e de carros para nelas introduzir o capital auferido com atividades ilícitas, passando a impressão de que os valores seriam provenientes de atividades lícitas (LUZ, 2019, p. 4), daí advindo a expressão money laundering (GODINHO, 2001, p. 26).
Ocorre, contudo, que a conduta perpetrada pelas organizações criminosas para conferir aparência lícita a verbas de origem criminosa não tinha previsão legal no ordenamento jurídico norte-americano, de modo que a criminalização da lavagem de capitais iniciou-se na década de 1970, ocasião em que a Itália tipificou a conduta de riciclaggio, antecedida pelos crimes de tráfico de entorpecentes, extorsão, extorsão mediante sequestro e roubo agravado (MASSUD; SARCEDO, 2013, p. 265).
No entanto, foi ao longo da década de 1980 que a tipificação do crime de lavagem de dinheiro ganhou contornos mais claros no Estados Unidos da América, integrando uma série de medidas destinadas à declarada “guerra às drogas”, no governo do ex-presidente Ronald Reagan (GLOECKNER; SCAPINI, 2019, p. 13).
Desde então, o que se observou foi uma tendência, no âmbito internacional, a se coibir a reintrodução do proveito de determinadas atividades criminosas no mercado formal, como forma de impor uma asfixia financeira às organizações criminosas, evitando que consigam reciclar o produto de seus delitos. Como aponta Manzano Pérez (2008, p. 53), tratava-se de uma alternativa às autoridades públicas, diante das dificuldades de se desincumbirem do ônus da prova nos crimes de tráfico de drogas e crime organizado, o que culminou, em 1986, na tipificação do delito através do Money Laundering Control Act, passando a ser classificado como crime federal nos Estados Unidos da América (GLOECKNER; SCAPINI, 2019, p. 14).
Com a evolução dos mecanismos destinados às operações de branqueamento de capital de origem ilícita, observou-se que o combate a tais atividades deveria se dar no âmbito internacional, eis que as operações financeiras transcendiam as fronteiras, de modo que as legislações nacionais se mostraram insuficientes à repressão, o que resultou na reunião global de esforços, uniformizando-se as diretrizes para a coibição ao delito em questão (CORDERO, 2015, p. 110).
Isso porque, em uma época em que vige intensa interconexão entre os mercados financeiros globais, a lavagem de capitais não reconhece ou respeita as fronteiras políticas tradicionais, tornando ineficiente o esforço isolado dos países para combatê-la (SOUZA; COELHO, 2020, p. 42).
Aránguez Sánchez aponta a vasta gama de técnicas empregadas para se ocultar a origem criminosa de bens, direitos ou valores, concluindo que o surgi-
mento de novos métodos de mascaramento tem como único limite a imaginação e habilidade dos autores do delito (SÁNCHEZ, p. 44-45), em razão da sofisticação dos processos destinados a tal finalidade.
Neste contexto, além de 3 (três) convenções internacionais para aperfeiçoamento do combate ao branqueamento de ativos de origem criminosa4, é oportuno gizar a criação do FATF/GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo), instituído pelo grupo de países denominado G-7, em 1989, tratando-se de organização intergovernamental criada para formular recomendações destinadas à prevenção e repressão à crescente preocupação em coibir o branqueamento de capitais5. O GAFI tem como incumbência a elaboração de políticas para estimular os países signatários a adotarem-nas em seus ordenamentos jurídicos, através de suas Recomendações. Ademais, o órgão ainda realiza periódicas avaliações da implementação das medidas em seus países-membros.
Como destaca De Carli (2008, p. 39), o regime global antilavagem não se encerra na assunção de tratados internacionais, na medida em que também foram estabelecidos uma série de compromissos políticos entre Estados e organizações globais, em fenômeno classificado pelo direito internacional como soft law.
Como importante marco internacional na intensificação do combate ao branqueamento de capitais, Gloeckner e Scapini (2019, p. 14) destacam que os atentados ocorridos em 11 de setembro de 2001 despertaram uma “globalização da lavagem de dinheiro”, gerando uma pressão norte-americana para adoção de medidas internacionais destinadas à imposição de mecanismos de cooperação jurídica entre os países, o que veio a ser referendado pelo G-7 e pelo FATF/GAFI.
Conforme destacam os autores,
A “luta antilavagem”, (e também anticorrupção) deflagrada a partir do final dos anos 1980 (conectada diretamente ao tráfico de drogas e à moralidade do uso do sistema financeiro para utilização futura de proveito econômico da atividade ilícita) será arquitetada sobre a plataforma tecnológica do “controle dos riscos”, o que indica claramente o ingresso de uma lógica atuarial e prevencionista na circulação de ativos e de uma estratégia securitária que aparece na racionalidade neoliberal, descentralizando as funções policiais a ponto de se poder falar de uma “segurança nodal”, cuja marca é a interconexão de diversos agentes, instituições e políticas públicas, não se resumindo à tradicional polícia repressiva (GLOECKNER; SCAPINI, 2019, p. 15).
4 Iniciou-se com a Convenção de Viena, em 1988, a qual, ainda que não mencionasse expressamente a lavagem de capitais (SALGADO, 2017, p. 60), estabeleceu medidas destinadas à repressão do tráfico de entorpecentes, especialmente aos rendimentos financeiros dele decorrentes, através da tipificação da sua ocultação ou encobrimento. Posteriormente, a Convenção de Palermo, no ano 2000, definiu a infração penal de lavagem de capitais, impondo aos signatários a adoção de medidas para reprimir o crime organizado, também tipificado no instrumento internacional. Houve uma ampliação da abrangência dos delitos antecedentes, antes restritos ao tráfico de drogas, impondo-se, de forma inédita, uma série de medidas de dever de vigilância a determinados entes privados, como bancos e instituições financeiras não bancárias. Finalmente, a Convenção de Mérida, em 2003, impôs aos signatários a implementação de diversas medidas de cooperação internacional e entre entidades particulares tidas como sensíveis, para se combater a corrupção, com especial enfoque nas infrações penais a ela adjacentes, como as de crime organizado e de lavagem de capitais.
5 Disponível em http:/ / www. fatf- gafi. org/ about/ historyofthefatf/ . Acesso em 8 fev. 2022.