

REVISTA JURÍDICA DE SEGUROS
OUTUBRO 2025
OUTUBRO 2025 - NÚMERO 20
2025. Revista Jurídica de Seguros - Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg
Presidente
Dyogo Henrique de Oliveira
Coordenadora
Adriana Queiroz
Organizadora
Maria da Gloria Faria
Conselho Editorial
Adriana Queiroz, Ana Frazão, Ana Paula de Barcellos, André Tavares, Angélica Carlini, Antônio Carlos Vasconcellos Nóbrega, Carlos Harten, Glauce Carvalhal, Ilan Goldberg, Laura Schertel Mendes, Maria da Gloria Faria, Mário Viola, Ney Wiedemann Neto, Ricardo Bechara Santos, Rodrigo Falk Fragoso, Thiago Junqueira, Washington Luis Bezerra da Silva.
Revista Jurídica de SEGUROS / CNseg
Nº. 20. Rio de Janeiro: CNseg, Outubro de 2025.
376 pp.
• Direito do Seguro: doutrina, legislação, regulação e jurisprudência
• Direito e Organização Internacional do Seguro
• Operação do Direito em matérias afins ou próximas do Direito do Seguro
ISSN 2359-1447
Publicação sem valor comercial. Distribuição gratuita.
As opiniões e os conceitos externados em artigos publicados nesta revista são de responsabilidade exclusiva de seus autores.
Informações para contato:
Rua Senador Dantas 74, 16º andar - Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP 20031-205 Tel. 21 2510 7777 - www.cnseg.org.br - email: revistajuridica@cnseg.org.br
EDITORIAL
Esta edição da Revista Jurídica de Seguros é dedicada inteiramente à análise do Marco Legal dos Seguros. Com a iminente entrada em vigor da Lei nº 15.040/2024, prevista para o próximo 11 de dezembro, nosso propósito é oferecer aos operadores de Direito, stakeholders e públicos variados um material de referência que permita compreender a profundidade das mudanças introduzidas, os impactos para segurados e seguradoras, bem como os desafios interpretativos que a comunidade jurídica e o mercado terão de enfrentar nos próximos anos.
Para tanto, um time de especialistas se debruçou sobre os pontos mais sensíveis e controversos da nova norma, a fim de produzir 19 artigos valorosos, no sentido de pacificar entendimentos ou se aproximar disso. Os textos abordam desde questões estruturais até implicações práticas e interpretativas, fornecendo uma visão crítica e abrangente. Esta coletânea representa um esforço conjunto para fomentar o debate qualificado e plural sobre os rumos do Direito Securitário brasileiro, facilitar o entendimento da nova lei, elucidar dúvidas e contribuir para o aprimoramento da doutrina, da jurisprudência e da prática jurídica.
Abrindo os estudos, Glauce Carvalhal , reflete com Angélica Carlini sobre os efeitos temporais da norma e suas implicações para a segurança jurídica no artigo Retroatividade ou Irretroatividade da Lei 15.040/2024 . Na sequência, Thiago Junqueira analisa os contornos da responsabilidade civil sob a nova ótica legal em A disciplina do Seguro de Responsabilidade Civil na Lei do Contrato de Seguro . Em paralelo, Ilan Goldberg projeta os desafios e oportunidades para o setor em O futuro do contrato de seguro para grandes riscos no Brasil . Complementando essa abordagem contratual, Gustavo de Medeiros Mello revisita os elementos essenciais da formação dos contratos em A Formação dos Contratos de Seguro . Essa análise serve de base para o aprofundamento das estruturas normativas que regem os diversos ramos do setor.
Nesse contexto, Victor Augusto Benes Senhora examina a estrutura normativa dos seguros patrimoniais em Seguro de Danos na Nova Lei de Seguros, ao passo que Marcelo Barreto Leal oferece uma análise específica sobre o segmento automotivo em Os Seguros Auto no âmbito da Lei nº 15.040/2024. Em sintonia com os desafios contemporâneos, Landulfo de Oliveira Ferreira Júnior aborda a crescente relevância da
proteção digital em Riscos Cibernéticos e a Nova Lei de Seguros, e Ricardo Bechara Santos examina os papéis e responsabilidades dos agentes envolvidos em Os intervenientes no contrato de seguro à luz da nova lei.
A transparência contratual e seus limites são tratados por Carlos Harten no artigo O dever de declaração do risco (art. 44), enquanto André Tavares analisa os conflitos normativos e operacionais em Questões de direito intertemporal e regulação de sinistro. Já Nelson Rosenvald oferece uma leitura crítica sobre os novos contornos da responsabilidade civil em Seguros de Responsabilidade Civil na Nova Lei, e Mario Viola e Mariana Mendonça conectam o seguro à proteção de dados pessoais em Regulação de Sinistro e Proteção de Dados Pessoais.
A discussão sobre o destinatário dos produtos deste mercado é desenvolvida por Ney Wiedemann Neto no artigo Quem pode contratar seguros?, enquanto Bárbara Bassani de Souza propõe reflexões sobre segmentação e regulação em Grandes Riscos e a Lei do Contrato de Seguro. A tensão entre publicidade e confidencialidade nas decisões arbitrais é discutida por Oksandro Gonçalves e Renan Matheus Nerone Lacerda em Publicidade versus confidencialidade, e o dever de comunicação do sinistro é analisado sob a ótica da boa-fé por Pery Saraiva Neto, Iryni Mariah Helário Meintanis e Vicente Silva Saraiva em O dever de avisar o sinistro.
Seguindo, a distinção entre seguros massificados e grandes riscos na regulação de sinistros é destacada por Jader Barbosa Moreira Filho e Gustavo Amado Léon em Distinção entre seguros massificados e grandes riscos na Regulação de Sinistro de Seguro Garantia, enquanto Luiz Tavares Pereira Filho aponta zonas de incerteza normativa em Black Hole – A lacuna legal relativa à não comunicação do sinistro. Encerrando esta edição, Antonio Carlos Vasconcellos Nóbrega reforça a importância dos mecanismos de governança e integridade institucional em Governança e Compliance na Nova Lei de Seguros.
O peso desta obra diz muito: a nova lei representa um divisor de águas para o Direito Securitário e para o mercado de seguros brasileiro. Depois de mais de duas décadas de debates nas duas Casas Legislativas, o Brasil finalmente passa a contar com um diploma legal específico, moderno e abrangente, que regula minuciosamente o contrato de seguro. Além de consolidar princípios já consagrados, a nova legislação introduz dispositivos inovadores que visam conferir maior segurança jurídica, transparência e eficiência às operações de seguro, refletindo
a importância estratégica dessa atividade para o desenvolvimento econômico e a proteção social no Brasil.
Este novo marco legislativo não apenas nos aproxima das práticas adotadas em países europeus e latino-americanos, como também consolida o seguro como instrumento central de desenvolvimento econômico, estabilidade financeira e proteção social, transformando-se em um verdadeiro manual jurídico do contrato de seguro.
Estamos diante de uma oportunidade histórica. Cabe agora a todos os atores envolvidos – seguradoras, segurados, advogados, reguladores, magistrados e acadêmicos – transformar este novo marco legal em um instrumento de confiança, equilíbrio e inovação. A CNseg continuará a desempenhar seu papel fundamental de liderança nesse processo, oferecendo conhecimento, reflexão e diálogo. Afinal, o seguro é, e continuará a ser, um dos pilares essenciais para o desenvolvimento sustentável e para a proteção da sociedade brasileira.
Dyogo Oliveira
CARTA AOS LEITORES
Prezados leitores,
Em novembro de 2014, a Confederação Nacional das Seguradoras – CNseg publicou o primeiro número da Revista Jurídica de Seguros –RJS, um projeto que contou com quase um ano de gestação, desde sua aprovação pelo Conselho Diretor. Vale lembrar o importante apoio do então presidente da CNseg, de saudosa memória, Marco Antônio Rossi, que permitiu que o que parecia um sonho se tornasse realidade.
A RJS, revista especializada em Direito do Seguro, veio preencher uma lacuna na literatura securitária e oferecer um espaço para a divulgação de matérias sobre questões jurídicas, temas recorrentes no Judiciário e suas intercessões com aspectos operacionais do vasto universo do seguro. Na época, como Superintendente Jurídica da casa, fui honrada com o convite para ser organizadora da revista, missão que venho exercendo com muita dedicação e empenho ao longo destes mais de dez anos.
O primeiro número, com artigos do Ministro Eros Roberto Grau, dos juristas Ana Paula de Barcellos e Diogo de Figueiredo Moreira Neto, e ainda com pareceres do Ministro Célio Borja e do Professor Cândido Rangel Dinamarco, foi editado somente em papel. Hoje, as edições ainda contam com publicação em formato físico, mas também, concomitantemente, em meio eletrônico, podendo ser encontradas no endereço www.cnseg.org.br.
Neste mês de outubro, temos o lançamento da RJS Nº 20, na edição do 8º Seminário Jurídico de Seguros, em Brasília. Desta vez, em formato especial, a revista trata de uma só temática: o Novo Marco dos Contratos de Seguro. Os artigos abordam os impactos e desdobramentos da Lei 15.040/2024, as propostas operacionais inéditas e as alterações significativas para a regulação de sinistros, dentre outros desafios a serem enfrentados pelo setor.
Os distinguidos autores, nomes destacados no mundo jurídico e no Direito do Seguro, nos chamam à reflexão sobre a interpretação de importantes comandos do NMCS, incluídas situações pouco claras e dependentes de regulamentação.
Por fim, há que se destacar o importante apoio e prestígio que o Presidente da CNseg, Dr. Dyogo Oliveira, e a Diretora Jurídica, Glauce Carvalhal, dedicam à revista — sem o qual não teríamos chegado até aqui.
Boa leitura!
Gloria Faria Organizadora da RJS
Índice
Editorial
Dyogo Oliveira
Presidente da CNseg 5
Carta aos Leitores
Gloria Faria
Organizadora da RJS 8
Artigos
Retroatividade ou Irretroatividade da Lei 15.040 de 2024
Angélica Carlini e Glauce Carvalhal 14
Lei Nº 15.040/24 – Questões de Direito Intertemporal e o Procedimento de Regulação de Sinistro
Andre Tavares 37
A Regulação na Nova Lei de Seguros e a Importância dos Mecanismos de Governança e Compliance
Antonio Carlos Vasconcellos Nóbrega 47
Grandes Riscos e a Lei do Contrato de Seguro – Reflexões
Bárbara Bassani de Souza 65
O Dever de Declaração do Risco na Lei de Contrato de Seguro (Lei n°15.040/2024)
Carlos Harten 81
A Formação dos Contratos de Seguro
Gustavo de Medeiros Melo 106
O Futuro do Contrato de Seguro para Grandes Riscos no Brasil.
Ilan Goldberg 126
A Importância da Distinção entre Seguros de Grandes Riscos dos Massificados na Regulação de Sinistro de Seguro Garantia a Partir da Lei 15.040 de 2024
Jader Barbosa Moreira Filho e Gustavo Amado León 154
Convergência Jurídica: O Direito Digital na Lei de Seguros - Lei 15.040/2024 e no Projeto de Lei nº 4/2025 - Reforma do Código Civil
Landulfo de Oliveira Ferreira Júnior
Black Hole - A Lacuna Legal Relativa à Não Comunicação do Sinistro
Luiz Tavares Pereira Filho
Os Seguros Auto no Âmbito da Lei n.º 15.040/2024
Marcelo Barreto Leal
A Regulação de Sinistro Sob a Perpectiva da Proteção de Dados Pessoais
Mario Viola e Mariana Mendonça
Seguros de Responsabilidade Civil na Nova Lei de Seguros
Nelson Rosenvald
Que Entidades Podem Pactuar Contratos de Seguro?
171
183
197
217
227
Ney Wiedemann Neto 251
Primeiras reflexões sobre o Marco Legal dos Seguros: publicidade versus confidencialidade na divulgação de decisões arbitrais
Oksandro Gonçalves e Renan Matheus Nerone Lacerda
269
O Dever do Segurado de Avisar o Sinistro: Da Nova Sistemática Introduzida Pela Lei 15.040/2024 à Luz dos Deveres Acessórios do Princípio da Boa-Fé
Pery Saraiva Neto, Iryni Mariah Helário Meintanis e Vicente Silva Saraiva
293
Os Intervenientes no Contrato de Seguro à Luz da Nova Lei de Seguros – Lei nº 15.040 de 9 de dezembro de 2024, também conhecida como o Marco Legal dos Seguros.
Ricardo Bechara Santos
318
A Disciplina do Seguro de Responsabilidade Civil na Lei do Contrato de Seguro
Thiago Junqueira
Seguros de Dano na Nova Lei de Seguros
Victor Augusto Benes Senhora
333
352
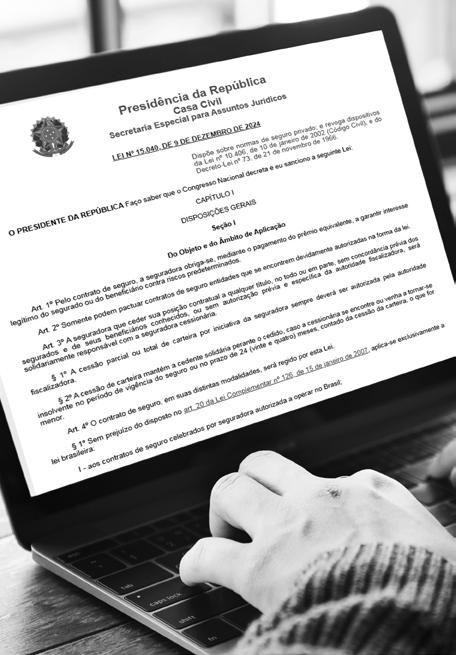

Retroatividade ou Irretroatividade da Lei 15.040 de 2024
Angélica Carlini1
Glauce Carvalhal2
Resumo – A presente reflexão trata da irretroatividade da lei nova para as situações protegidas pela Constituição Federal e pela Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro – LINDB, e consubstanciadas em ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Aborda, ainda, a impossibilidade da Lei n. 15.040, de 2024, ser aplicada aos contratos firmados anteriormente à sua entrada em vigor.
Palavras – chave – Seguro. Contratos. Irretroatividade. Lei Nova.
Abstract – The present discussion addresses the non-retroactivity of the new law for situations protected by the Federal Constitution and the Law of Introduction to the Rules of Brazilian Law (LINDB), and embodied in a perfect legal act, acquired right, and res judicata. It also addresses the impossibility of Law No. 15,040 of 2024 being applied to contracts signed prior to its entry into force.
Keywords – Insurance. Contracts. Non-retroactivity. New Law.
Sumário. Introdução. 1. Definição dos fundamentos jurídicos que determinam a retroatividade e irretroatividade da lei. 2. A necessidade de prevalência da segurança jurídica. 3. Aspectos técnicos e jurídicos peculiares aos contratos de seguro. Conclusão. Referências Bibliográficas.
1 Pós-Doutoranda em Inteligência Artificial e Seguros na Universidad Pontifícia Comillas, Madrid, Espanha. Pós-Doutorado em Direito Constitucional pela PUC/RS. Doutora em Direito Político e Econômico. Mestre em Direito Civil. Pós-Graduada em Direito Digital. Advogada, parecerista e consultora em Direito de Seguro, Saúde Suplementar e Responsabilidade Civil. Docente do Programa de Mestrado da Escola Paulista de Direito – EPD.
2 Pós-Graduada em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. UFRJ. Diretora Jurídica da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg. Membro do Conselho da seção brasileira da Associação Internacional de Direito de Seguro – AIDA/BRASIL. Catedrática da Academia Nacional de Seguros e Previdência – ANSP.
Introdução
Aprovada a Lei n. 15.040, de 2024, que entrará em vigor em 11 de dezembro de 2025, e que regulará as relações de seguros privados no Brasil, surgem inúmeras questões relevantes no debate sobre a aplicação da lei. Uma das questões mais instigantes é, sem dúvida, referente ao direito intertemporal, a aplicação da lei nova aos contratos em vigor e constituídos sob a égide do Capítulo XV do Código Civil brasileiro e do Decreto-Lei n. 73, de 1966, ambos modificados pela nova lei. 3
Para a compreensão de qual deverá ser a lei aplicada aos contratos de seguros privados firmados anteriormente à Lei 15.040, de 2024, três aspectos jurídicos são de fundamental importância: (i) a definição dos fundamentos jurídicos que determinam a retroatividade e irretroatividade da lei; (ii) a necessidade de prevalência da segurança jurídica; e, (iii) os aspectos técnicos e jurídicos peculiares aos contratos de seguro.
A relevância do tema não escapou ao Ministro Gilmar Ferreira Mendes4, que ao comentar o inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal, afirmou:
É possível que a aplicação da lei no tempo continue a ser um dos temas mais controvertidos do direito hodierno. Não raro, a aplicação das novas leis às relações já estabelecidas suscita infindáveis polêmicas. De um lado, a ideia central de segurança jurídica, uma das expressões máximas do Estado de Direito; de outro, a possibilidade e a necessidade de mudança. Constitui grande desafio tentar conciliar essas duas pretensões, em aparente antagonismo.
3 O capítulo do Código Civil foi inteiramente revogado pelo artigo 133 da Lei 15.040, de 2024; e o Decreto-Lei 73, de 1966, teve os artigos 9º a 14 revogados.
4 MENDES, Gilmar Ferreira. Comentários ao inciso XXXVI do Artigo 5º da Constituição Federal. In CANOTILHO, J.J.Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (coordenadores). São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 368.
A discussão sobre direito intertemporal assume delicadeza ímpar, tendo em vista disposição constante no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição, que reproduz norma tradicional do direito brasileiro. Desde 1934, e com exceção da Carta de 1937, todos os textos constitucionais brasileiros têm consagrado cláusula semelhante.
Cientes da relevância do tema, esta reflexão pretende aprofundar o entendimento sem qualquer apego a argumentos pueris, mas com alicerce no trabalho de relevantes pesquisadores e pensadores do direito contemporâneo no Brasil, que se debruçaram sobre o tema e poderão com toda certeza, iluminar a interpretação e aplicação do novo marco legal de seguros, a Lei n. 15.040, de 2024.
1. Definição de Retroatividade e Irretroatividade da Lei.
O tema da retroatividade das leis não é contemporâneo, embora na atualidade tenha adquirido ainda maior relevância. João Baptista Machado5 relata que só no século XVIII o problema do conflito das leis no tempo foi tratado com interesse. Afirma o autor:
Só no século XVIII o problema dos conflitos de lei no tempo surgiu com um novo e decisivo interesse, em ligação com a proteção dos direitos fundamentais do cidadão e da segurança jurídica destes contra o poder. Não admira, pois, que as doutrinas que posteriormente surgiram sobre a retroactividade da lei se tenham inspirado no princípio do respeito dos “direitos adquiridos”. Assim como não admira que em diferentes constituições do final do séc. XVIII (designadamente nas várias constituições dos Estados da América do Norte) se tenha proibido ao legislador a promulgação de leis retroactivas.
(...)
5 MACHADO, João Baptista. Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador. 19ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 2011, p. 224.
O certo é que, na sequência da revolução liberal de 1789, havia de prevalecer a corrente inspirada na ideia garantista de não retroactividade da lei, tendo-se estipulado na Constituição de 1792 que “nenhuma lei, criminal ou civil, pode ter efeito retroactivo”.
(...)
Seja como for, ninguém pode recusar que a função social do direito é essencialmente uma função estabilizadora, ou ordenadora-estabilizadora de condutas e de expectativas de conduta. (...) É nesse sentido que se pode afirmar com Savigny que o princípio da não retroactividade decorre da essência da lei, neste mesmo sentido que se pode afirmar que ele é um princípio universal de direito e se pode presumir, como ensinam Ennecerus-Nipperdey, que em todo o preceito jurídico está implícito um “de ora avante”, um “daqui para o futuro”.
E conclui Baptista Machado,
(...) o direito tem como função estabilizar as expectativas das pessoas que nele confiam e nele assentam os seus planos de vida. Nada corrói mais a função social do direito do que a perda de confiança nas suas normas em consequência da frustração de expectativas legítimas fundadas nas mesmas normas. Daí a necessidade de respeitar a estabilidade das situações jurídicas seja ela mesma um postulado inerente àquela função social do direito.
No Brasil, como sabemos, a função social da propriedade é um paradigma da Constituição Federal, tanto quanto o é das relações contratuais, conforme estipulação do artigo 421 do Código Civil. Na lição de Baptista Machado, a função social do direito e por consequência, dos contratos, também consiste em garantir e respeitar a estabilidade das situações jurídicas, a confiança que deve vigorar como pressuposto essencial nas relações contratuais.
Ensina José Eduardo Martins Cardozo6 que existem duas grandes correntes doutrinárias na construção de um conceito para retroatividade de atos legislativos. Uma delas busca o conceito a partir da definição momento temporal em que tiveram origem as realidades jurídicas atingidas pela ação da norma legislativa. E a segunda é composta por estudiosos que buscam identificar estritamente o conceito de retroatividade, com a ação da lei sobre o período de tempo que antecede ao início da sua própria vigência.
Para os primeiros afirma Cardozo7 o conceito de retroatividade se fundaria na localização temporal do momento que tiveram nascimento ou foram gerados os fatos, os direitos, os efeitos ou as situações jurídicas que se colocam sob a incidência da nova lei. E, para os adeptos da segunda corrente, retroativas seriam apenas as leis que projetam efeitos sobre o passado (efeitos pretéritos). Nessa perspectiva, ressalta o mesmo autor, a expressão retroagir seria acolhida apenas no seu estrito sentido linguístico de agir sobre o passado, ou seja, retro-agir.
Para Cardozo, a segunda linha de pensamento acima exposta é aquela que se mostra cientificamente mais adequada. Em sua própria definição o autor determina:
(...) falar da retroatividade de um diploma legal é referir-se sempre à sua ação pretérita, ou seja, à sua ação projetada para o período anterior à sua vigência, de forma a atingir realidades fáticas jurídicas já verificadas. É sempre como quer Roubier, o conceito que se deve atribuir à atuação de uma lei ao passado. Na definição de retroatividade, pois, não se pode pretender vislumbrar a atuação sobre o presente ou o futuro de uma norma legislativa.
Essa aplicação ao passado, evidentemente, pode ser lícita ou ilícita. Retroatividade lícita é a projeção pretérita dos efeitos de uma lei nova, em total
6 CARDOZO, José Eduardo Martins. Da Retroatividade da Lei. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 252.
7 Obra citada, p. 252.
conformidade com um dado sistema de direito positivo. Ao revés, retroatividade ilícita é a projeção pretérita dos efeitos de uma lei nova sobre certas realidades jurídicas que normativamente se encontram imunes a esta ação, em vista do sistema jurídico pretender que continuem a ser regidas pelas disposições da lei velha.
O Ministro Gilmar Ferreira Mendes8 esclarece:
A definição de retroatividade foi objeto de duas doutrinas principais: a do direito adquirido e a do fato passado ou do fato realizado. A primeira defende que a lei nova não pode retroagir para atingir direitos já constituídos (adquiridos). A segunda entende que a lei não pode retroagir para atingir fatos anteriores ao seu início de vigência. A doutrina do fato passado é também chamada de teoria objetiva. A teoria do direito adquirido, por sua vez, é chamada de teoria subjetiva. Na nossa tradição, domina a teoria subjetiva do direito adquirido. (ADI 493, voto Min. Moreira Alves).
O debate sobre retroatividade ou irretroatividade da lei adquiriu um novo componente e de grande relevância na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, ou seja, o Decreto-Lei n. 4.657, de 1942, modificado pela Lei n. 12.376, de 2010. De fato, o artigo 6º e seus parágrafos9 convidam a uma reflexão sobre o efeito imediato da lei.
8 Obra citada, p. 368.
9 Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. § 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. § 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. Disponível em: https://www.planalto.gov. br/ccivil_03/decreto-lei/del4657.htm. Acesso em 19 de julho de 2025.
Ressalta Mario Luiz Delgado10
Controverte-se, porém, a doutrina sobre a partir de quando esse retrocesso da lei ao passado caracterizará a retroatividade ou implicará mera eficácia imediata (....)
(...)
Uma lei tem eficácia imediata quando é aplicável aos fatos ou situações jurídicas que forem ocorrendo ou se completarem durante a sua vigência. A imediatidade (ou eficácia imediata) consiste, portanto, ‘na aplicação da lei nova a situações jurídicas que já vêm do passado, criando nova regulamentação para os efeitos que se produzirem dali em diante, ou mesmo suprimindo pura e simplesmente essas situações: em ambas as hipóteses, todos os efeitos que tenham sido produzidos no passado permanecem intocados.’
(...)
É equívoco, portanto, considerar retroativa uma lei que, somente para o futuro e contada da data em que entrar em vigor, regular as consequências de fatos pretéritos, como é o caso do caput do art. 2.035 do novo Código Civil. O dispositivo pretende regular não as “partes pretéritas” dos fatos pendentes, mas, tão somente, os efeitos integralmente consumados no futuro, quando já vigente a nova lei. A questão é de “eficácia imediata”, e não de retroatividade, muito embora também a “eficácia imediata” possa vir a ser restringida pelo ato jurídico perfeito, o direito adquirido ou a coisa julgada (...).
10 DELGADO, Mario Luiz. Problemas de Direito Intertemporal no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2004, pgs. 16 e 24.
No mesmo sentido, a reflexão de Rosa Maria de Andrade Nery e Nelson Nery Júnior11 que afirmam (...) a lei nova não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, o direito adquirido ou a coisa julgada. Contudo, a cláusula da irretroatividade da lei nova convive com outro preceito do direito intertemporal, que é o da eficácia imediata da lei nova.
E ponderam os mesmos autores:
Essa convivência harmônica entre os dois dispositivos implica a conclusão de que, quando a LINDB, Art. 6º, caput determina que, assim que entre em vigor, a nova lei produza eficácia imediata e geral, atingindo a todos indistintamente, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, isto quer significar que a nova lei, mesmo possuindo eficácia imediata, não pode atingir os efeitos que já foram produzidos quando estava em vigor a lei revogada. É isto que significa “a lei não prejudicará (...) ato jurídico perfeito, expressão consagrada pela CF 5º XXXVI. Ter efeito imediato e geral significa que a lei nova atinge somente os fatos pendentes (facta pendentia) e os futuros (facta futura) que se realizarem sob sua vigência, não abrangendo os pretéritos (facta praeterita), estes últimos protegidos pela cláusula constitucional da irretroatividade. Não se pode confundir, portanto, a eficácia imediata que toda lei nova tem, atingindo os negócios jurídicos em curso a partir de sua entrada em vigor, com a retroatividade da lei, proibida pelo sistema conforme disposto no CF 5º XXXVI e LINDB 6º caput.
Por fim, irretroatividade da lei é o princípio pelo qual a nova lei não pode ser aplicada para
“(...) realidades jurídicas geradas sob império da lei antiga (direitos adquiridos, situações jurídicas, fatos
11 NERY JR., Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código Civil Brasileiro. 14ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022, p. 37.
realizados, situações jurídicas seguidos de seus respectivos efeitos) independentemente de se projetar ou não a ação criadora, modificadora ou extintiva do novo diploma legal em período anterior ao da sua entrada em vigor.”12
E na lição de Mario Luiz Delgado13, o princípio da irretroatividade das leis “(...) estaria incrustrado na própria consciência dos povos, como um momento universal e perene, que traz segurança, certeza, bem-estar e equilíbrio."
Nesse aspecto, da segurança jurídica e do equilíbrio das relações jurídicas é que a irretroatividade da lei nova assume especial relevância quando aplicada aos contratos de seguro.
2. A Proteção da Segurança Jurídica e o Tratamento Constitucional da Irretroatividade da Lei para o Direito Adquirido, o Ato Jurídico Perfeito e a Coisa Julgada.
A iniciativa privada é fundamento da República Federativa do Brasil conforme inciso IV do artigo 1º da Constituição Federal. Contratos firmados no âmbito da atividade privada devem ser respeitados para evitar que sejam atingidos pela insegurança jurídica que colocaria em risco os fundamentos da república, e o equilíbrio econômico e social.
A atividade de seguros privados no Brasil tem mais de duzentos anos, é regulada pelo governo federal, aporta mais de um trilhão de reais em recursos aplicados, paga anualmente bilhões aos contratantes de diferentes modalidades de seguros, previdência complementar aberta e títulos de capitalização e, tudo isso só é possível, porque se trata de atividade estruturada essencialmente em regras atuariais que ponderam a frequência e severidade dos riscos e de suas consequências. Essas regras atuariais se encontram resguardadas nos contratos de seguro, coletivos ou individuais, em cláusulas que fixam: o valor a ser pago pelo segurado; o limite máximo de responsabilidade do segurador; os riscos cobertos pelos contratos;
12 CARDOZO, J.E.M. obra citada, p. 254.
13 DELGADO, M.L. obra citada, p. 21.
a existência de cosseguro; os riscos não contratados ou riscos excluídos; as hipóteses de agravação de risco e suas consequências; os documentos necessários para a regulação e liquidação de sinistros; entre outros tantos aspectos essenciais.
Para contratantes de seguro, corretores, seguradores e resseguradores, a prevalência da segurança jurídica em respeito às regras técnicas, legais e infralegais é fundamental para que sejam respeitados os direitos e cumpridos os deveres firmados nos contratos.
José Eduardo Martins Cardozo14 destaca:
"(...) coloca-se como correto afirmar-se que, ao menos nos Estados capitalistas modernos, a disciplina do fenômeno da intertemporalidade jurídica deve ser entendida como questão de caráter substancialmente constitucional. Realmente, como provado anteriormente, sendo a previsibilidade jurídica um aspecto vital à concepção ou mesmo à sobrevivência das sociedades que fundamentam sua estrutura econômica na circulação de riquezas ou no comércio, outra conclusão não seria possível in casu.”
José Afonso da Silva15 ao comentar o inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal, afirma
A temática, aqui, liga-se à sucessão de leis no tempo e à necessidade de assegurar o valor da segurança jurídica, especialmente no que tange à estabilidade dos direitos subjetivos. A ‘segurança jurídica’ consiste no ‘conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida. Uma importante condição da segurança jurídica está na relativa cer-
14 CARDOZO, J.E.M. obra citada, p. 306.
15 SILVA, José Afonso. Comentários Contextuais à Constituição. 10ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2024, p. 124.
teza que os indivíduos têm de que as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma seja substituída.
Realmente, a lei é feita para vigorar e produzir efeitos para o futuro. Seu limite temporal pode ser nela mesma demarcado, ou não. (...)
O mais comum, contudo, é que uma lei, uma norma, só perca o vigor quando outra a revogue, expressamente ou tacitamente. Se a lei revogada produziu efeitos em favor de um sujeito, diz-se que ela criou situação jurídica subjetiva, que poderá ser um simples interesse, um interesse legítimo, a expectativa de direito, um direito condicionado, um direito subjetivo. (...)
E um dos mais notáveis estudiosos do tema segurança jurídica, Humberto Ávila16, ao analisar todas as dimensões que a segurança pode ter no âmbito das relações jurídicas, sociais e econômicas, nos ensina:
(...) segurança jurídica é segurança do e pelo Direito, e segurança dos direitos frente ao Direito. Sem a conjugação dessas várias dimensões da segurança jurídica, não se atinge um estado mínimo de confiabilidade e de calculabilidade do ordenamento jurídico, com base na sua cognoscibilidade, porque o estado de segurança conquistado por uma dimensão será solapado pela ausência de qualquer uma das outras dimensões. Em outras palavras, sustenta-se que há um nexo de pressuposição ou vínculo de reciprocidade entre as várias dimensões da segurança jurídica, no sentido de que uma não funciona sem a outra. Afinal, pode o Direito garantir segurança sem ser seguro, isto é, pode o Direito assegurar expectativas sem ser minimamente cognoscível, confiável
16 ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 7ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2025, p. 314.
e calculável? Pode ele ser seguro sem ser para assegurar outros valores, isso é, pode o Direito ser cognoscível, confiável e calculável sem que esses elementos estejam a serviço de outros valores? Pode o Direito garantir segurança sem permitir segurança frente a si mesmo, isto é, pode o Direito assegurar calculabilidade e confiabilidade sem preencher determinados requisitos para que o indivíduo possa dele se precaver? (...)
E o mesmo autor17 define segurança jurídica como
(...) uma norma-princípio que exige, dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, a adoção de comportamentos que contribuam mais para a existência, em benefício dos cidadãos e na sua perspectiva, de um estado de confiabilidade e de calculabilidade jurídica, com base na sua cognoscibilidade, por meio da controlabilidade jurídico-racional das estruturas argumentativas reconstrutivas de normas gerais e individuais, como instrumento garantidor do respeito à sua capacidade de – sem engano, frustração, surpresa e arbitrariedade – plasmar digna e responsavelmente o seu presente e fazer um planejamento estratégico juridicamente informado do futuro.
Ressalta Humberto Ávila 18 que o conceito apresentado é jurídico não-classificatório. É não-classificatório porque não se limita ao dualismo segurança/insegurança, ou seja, não contempla uma verificação na modalidade “tudo ou nada”. Ao contrário, apresenta requisitos abstratos que se referem a condições de fato a serem gradualmente verificadas.
E o conceito, segundo o mesmo autor, é jurídico porque é baseado no ordenamento constitucional, implica em prescrições normativas, e por
17 Obra citada, p. 312.
18 Obra citada, p. 313.
conotar propriedades cuja controlabilidade depende da observância de determinadas condições teóricas capazes de indicar uma potencialidade para a promoção de determinado estado de coisas.19
No sistema jurídico brasileiro a segurança jurídica está objetivamente protegida no artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal e no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB. Ambas protegem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, e o fazem para impedir a retroatividade de lei nova promulgada após a concretização de situações jurídicas determinadas, porém sem impedir a aplicação imediata da lei nova às situações em que isso seja possível.
Maria Helena Diniz20 registra que:
A Lei de Introdução adotou o critério de Roubier ao prescrever que a lei em vigor terá efeito imediato geral atingindo os fatos futuros (facta futura), não abrangendo os fatos pretéritos (facta praeterita). Em relação aos facta pendentia, nas partes anteriores à dada da mudança da lei não haveria retroatividade; nas posteriores a lei nova, se aplicável, terá efeito imediato.
(...)
Em princípio, se a norma constitucional e o art. 6º da Lei de Introdução não resguardassem o ato jurídico perfeito, haveria destruição de direitos subjetivos, formados sob o império da antiga norma, prejudicando interesses legítimos de seus titulares, causando a desordem social.
Assim, para as situações em que se caracterizar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada não se aplicará a lei nova, até
19 Obra citada, p. 314.
20 DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 20ª ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2024, p.190.
porque como ressalta José Afonso da Silva21, o princípio da irretroatividade da lei não é de direito constitucional, “(...) mas princípio geral de Direito. Decorre do princípio de que as leis são feitas para vigorar e incidir para o futuro. Isto é: são feitas para reger situações que se apresentam a partir do momento em que entram em vigor. (...)”
E especificamente a respeito da definição da lei ordinária sobre o ato jurídico perfeito, José Afonso da Silva22 ressalta:
Essa definição dá a ideia de que ato jurídico perfeito é aquela situação consumada ou direito consumado (...), como direito definitivamente exercido. Não é disso, porém, que se trata. Esse direito consumado é também intangível pela lei nova, não por ser ato perfeito, mas por ser direito mais do que adquirido, direito esgotado. Se o simples direito adquirido (isto é, direito que já integrou o patrimônio, mas não foi ainda exercido) é protegido contra interferência da lei nova, mais ainda o é o direito adquirido consumado.
A diferença entre ‘direito adquirido’ e ‘ato jurídico perfeito’ está em que aquele emana diretamente da lei em favor de um titular, enquanto o segundo é negócio fundado na lei. O ato jurídico perfeito a que se refere o art. 5º, XXXVI é o negócio jurídico, ou o ato jurídico stricto sensu; portanto, assim as declarações unilaterais de vontade como os negócios jurídicos bilaterais, assim os negócios jurídicos, como as reclamações, interpretações, a fixação de prazo para a aceitação de doação, as comunicações, a constituição de domicílio, as notificações, o reconhecimento para interromper a prescrição ou com sua eficácia (ato juridico stricto sensu). Ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5º, XXXVI, é aquele que sob o regime da lei antiga se tornou apto para
21 Obra citada, p. 124.
22 Obra citada, p. 125.
produzir os seus efeitos pela verificação de todos os requisitos a isso indispensáveis. É perfeito ainda que possa estar sujeito a termo ou condição.
Assim, a aplicação imediata da lei nova ainda que expressamente permitida pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, não tem poder de modificar os pressupostos jurídicos constitucionalmente protegidos, quais sejam o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 493, do Distrito Federal, relator Ministro Moreira Alves, que defendeu a absoluta irretroatividade da lei nova para os contratos em curso ao tempo da data do início de sua vigência. E, no mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, na Súmula 285, que determinou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos anteriores à sua vigência, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito.23
E o Ministro Gilmar Ferreira Mendes24 esclarece
(...) o desenvolvimento da doutrina sore a aplicação da lei no tempo acaba por revelar especificidades do ‘estatuto contratual’ em face do ‘estatuto legal’. Enquanto este tem pretensão de aplicação imediata, aqueloutro estaria, em princípio, submetido à lei vigente no momento de sua conclusão, a qual seria competente para regê-lo até a extinção da relação contratual. (grifo nosso).
E menciona a lição de Baptista Machado25 que ensina
23 Superior Tribunal de Justiça – STJ. Súmula 285. Disponível em: https://www. stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/sumstj/article/download/5808/5927. Acesso em 21 de julho de 2025.
24 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p.381.
25 Obra citada, p. 238.
O fundamento deste regime específico da sucessão de leis no tempo em matéria de contratos estaria no respeito das vontades individuais expressas nas suas convenções pelos particulares – no respeito pelo princípio da autonomia privada, portanto. O contrato aparece como um acto de previsão em que as partes estabelecem, tendo em conta a lei então vigente, um certo equilíbrio de interesses que será como que a matriz do regime da vida e da economia da relação contratual. A intervenção do legislador que venha modificar esse regime querido pelas partes afecta as previsões destas, transforme o equilíbrio por elas arquitetado e afecta, portanto, a segurança jurídica. Além de que as cláusulas contratuais são tão diversificadas, detalhadas e originais que o legislador nunca as poderia prever todas. Por isso mesmo não falta quem entenda que uma lei nova não pode ser imediatamente aplicável às situações contratuais em curso quando do seu início de vigência sem violação do princípio da não retroactividade.
E ao analisar especificamente o direito brasileiro, José Eduardo Martins Cardozo26 reafirma que
(...) o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito não são realidades imunes apenas ao efeito retroativo da lei nova. Quaisquer efeitos de um novo diploma legislativo, não importa se imediatos ou mesmo futuros, não podem vir a preju- dicar quaisquer destas realidades. É isto o que nos determina a nossa Constituição quando afirma literalmente que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, sem discriminar quais efeitos temporais da nova norma legislativa estariam sujeitos a esta vedação.
Sendo assim, é forçoso reconhecer que o “direito adquirido” e as demais figuras jurídicas que o
26 Obra citada, p. 325.
acompanham no art. 5º, XXXVI, da Lei maior, são realidades que quando verificadas in concreto inibem a projeção contra si de efeitos imediatos da lei nova. Incorre, pois, em lamentável equívoco quem afirma que o respeito ao direito adquirido se define apenas como um limite à própria retroatividade. Em essência, qualifica este um limite a quaisquer efeitos temporais de um novo diploma legislativo, sejam estes pretéritos, imediatos ou futuros. Donde concluímos (...) que a regra do respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, nada mais é do que um princípio que assegura a sobrevivência da lei velha ou, em outras palavras, a ultratividade desta. Com efeito, nestas hipóteses, mesmo após o término da sua vigência, a lei revogada continua a disciplinar tais situações ao longo do próprio período de vigência da lei nova. O direito antigo “sobrevive”, em última instância, ante a impossibilidade do novo diploma vir a prejudicar realidades pré-constituídas.
E ressalta Cardozo27 que o uso da expressão “efeito imediato” do caput do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB é motivo de júbilo para o direito brasileiro, e ressalva:
(...) as normas jurídicas podem projetar temporalmente três tipos de efeitos: os retroativos, os imediatos e os futuros. Claro, portanto, que tendo ficado omisso o legislador constitucional quanto a qual espécie de efeito a nova lei poderia irradiar com a sua entrada em vigor, a questão colocou-se inteiramente aberta ao legislador ordinário. Caso afirmasse que a lei em vigor, respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, possuiria efeitos pretéritos ou retroativos, teria assumido como válido em nosso ordenamento o princípio da retroatividade da lei. A lei sempre atuaria para o passado como regra, vedada a sua ação sobre as realidades previstas no art. 5º, XXXVI, da nossa Lei maior.
27 Obra citada, p. 320.
Mas, como se sabe, não foi o que fez o nosso legislador ordinário. Estabeleceu, literalmente que a lei em vigor terá “efeitos imediatos”, ou seja, que deve em princípio atuar no presente, qualificando implicitamente como excepcional sua atuação pretérita. Definiu, ainda, que no direito positivo pátrio vige o princípio da irretroatividade das leis.
Diante disso, parece-nos totalmente infundada, ao menos em nosso direito, a posição daqueles que sustentam a vigência do princípio da retroatividade da lei. A expressão “efeito imediato” contida no caput do art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil elimina abertamente esta possibilidade. A regra que vige dentre nós é a irretroatividade; a retroatividade é exceção. (grifo nosso)
Estabelecida a regra da irretroatividade da lei nova, mesmo em situações de aplicação imediata que têm como regra restritiva o respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, cumpre analisar os contratos de seguro firmados anteriormente à entrada em vigor da Lei 15.04, de 2024, e cuja vigência se estenderá para além da data de entrada em vigor da mesma lei, ou seja, 11 de dezembro de 2025.
3. Os Contratos de Seguro e a Vigência Imediata da Lei 15.040 de 2024.
A operação de seguro se organiza com base em estudos atuariais de frequência e severidade de riscos com apoio do conhecimento de dados estatísticos que permitem calcular probabilidades e, consequentemente, viabilizam a cobertura de riscos predeterminados, em contratos de seguro com prazo de vigência pactuado entre as partes, para proteção do interesse legítimo do segurado.
Os seguradores são organizadores e administradores de fundos mutuais para os quais contribuem todos os segurados sujeitos a uma mesma espécie de riscos, que por meio do instrumento do mutualismo concordam em participar com valores diferentes para a constituição de um fundo, de onde sairão os recursos econômicos necessários para pagamento de indenizações ou capitais segurados, sempre que se concretize um evento coberto que gere danos patrimoniais ou extrapatrimoniais.
Nessa perspectiva é que se afirma, reiteradamente, que os contratos de seguro possuem estrutura técnica complexa e, exatamente por isso, exigem segurança jurídica para garantia do equilíbrio das relações contratuais, assim como das relações econômico-financeiras que sustentam os fundos mutuais organizados e administrados pelos seguradores.
Os seguradores na condição de organizadores e administradores do fundo mutual devem manter reservas garantidoras, ou seja, fundos que possam suportar o pagamento de indenizações ou capitais segurados, realizar aplicações financeiras seguras que permitam a remuneração desses valores com liquidez, exatamente para que nunca faltem recursos para o cumprimento das obrigações contratuais pactuadas. Não à toa o ambiente de seguros privados, capitalização, previdência complementar e saúde suplementar é regulado pelo Estado, no intuito de manter presente o agente com legitimidade para proteger o interesse público nas relações privadas. Nesse contexto, a segurança jurídica se impõe como elemento fundamental para as relações contratuais de seguros e, a incidência de novas normas – legais ou infralegais -, se constitui em parâmetro para contratos futuros e nunca para aqueles que já tenham sido perfeitamente concluídos.
A Lei 15.040, de 2024, não inovou e definiu o contrato de seguro no artigo 1º como aquele pelo qual o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio equivalente, a garantir interesse legítimo do segurado ou do beneficiário contra riscos predeterminados. A função de garantir do segurador se exprime em organizar e administrar fundos mutuais, o que exige, com absoluta certeza, segurança jurídica e previsibilidade para que os melhores resultados possam ser concretizados na relação contratual.
A lei também não inovou ao determinar que o contrato de seguro deve ser celebrado em conformidade com os princípios gerais que regem o Direito Contratual, sobretudo os da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva. E muito embora a nova lei não tenha se atentado para a diferença entre contratos de consumo e de insumo, o que teria sido de enorme valia para a análise dos casos práticos, é indiscutível que a autonomia da vontade será mais amplamente protegida nos contratos de insumo quando as partes estão em condições simétricas e paritárias, como bem determinou a Lei de Liberdade Econômica, Lei 13.874, de 2019.
Nos contratos de seguro de consumo, por sua vez, aqueles distribuídos de forma massificada no mercado como os seguros de
-32- Índice
automóvel, vida e integridade física coletivos, proteção patrimonial residen cial ou para eletroeletrônicos, seguro funeral, seguro prestamista entre outros, embora o consumidor seja vulnerável e tenha todo o espectro de proteção da Lei n. 8.078, de 1990, é indiscutível que a autonomia da vontade também está presente e deve ser respeitada, porque é ela que determina que o consumidor tome a decisão de aderir ao contrato, efetuar o pagamento das parcelas do prêmio, cumprir seus deveres típicos como não agravar riscos, fornecer informações necessárias para cálculo do valor do prêmio e do limite máximo de garantia, e, principalmente, agir com integral boa-fé e lealdade na relação de cooperação que ele e o segurador estabelecem. Desnecessário enfatizar que o segurador tem os mesmos deveres resultantes da boa-fé e da lealdade, em especial o dever de informar e esclarecer o consumidor sobre as coberturas contratadas e sobre as hipóteses de perda do direito à garantia.
O princípio da autonomia da vontade permite aos contratantes disciplinarem livremente sobre seus interesses mediante acordo de vontades, suscitando os efeitos tutelados pela ordem jurídica, tanto nos contratos de seguro de insumo como nos de consumo.
Assim, o contrato de seguro, enquanto expressão da vontade das partes, deve ser regido pela legislação vigente à época de sua formação, o que garante segurança jurídica e previsibilidade das obrigações e riscos assumidos. A aplicação da lei vigente ao tempo de sua celebração, nos contratos de seguros, respeita o princípio da autonomia privada, bem como o equilíbrio técnico-jurídico contratual originalmente estabelecido pelas partes com base no ordenamento vigente no momento da celebração.
Além disso, é preciso considerar a natureza dos contratos de seguro que envolvem compromissos de longo prazo, o que torna ainda mais relevante assegurar estabilidade e previsibilidade, o que certamente nunca será possível com a aplicação de novas normas legais ou infralegais, durante a vigência do contrato.
A confiança dos segurados e a solidez do setor dependem de um ambiente legal claro. Qualquer incerteza quanto à vigência ou aplicação das normas pode comprometer a segurança jurídica, afetar a continuidade dos contratos e, sobretudo, prejudicar o cidadão que depende da proteção securitária em situações críticas.
André de Carvalho Ramos e Erik Frederico Gramstrup28esclarecem:
O ato jurídico perfeito tem esse nome porque sua definição é simétrica a de direito adquirido – ato perfeito é aquele que integrou as etapas necessárias à sua conformação. “Perfeito” é sinônimo de acabado ou terminado. É de bom aviso prevenir uma confusão: o que está acabado não são os efeitos do ato, mas sim os passos necessários ao seu aperfeiçoamento. Logo – e do mesmo modo que o direito adquirido -, para concluir-se que um ato é perfeito, é preciso conhecer o regime jurídico vigente ao tempo da sua suposta formação. Mesmo que esse regime venha a ser modificado por lei superveniente, se os elementos do ato jurídico já foram todos reunidos, ele resistirá à lei nova – isto é, seus efeitos resistirão à lei nova.
Vê-se por essas observações que há uma simetria estrutural entre o ato jurídico perfeito e o direito adquirido; ademais um é fonte do outro. O ato jurídico perfeito é origem de direitos (adquiridos) para as partes que o praticaram. Desse modo, o ato sob condição suspensiva (gerador de direitos também condicionais) será equiparado ao perfeito para o específico fim de resistência à lei nova que pretenda alterar seu regime ou efeitos; de igual modo quanto ao ato cujos efeitos estejam sobrestados ao aguardo da realização de termo inicial.
(....)
a) Negócios consensuais serão considerados perfeitos assim que a aceitação for manifesta (nos negócios entre presentes); b) negócios reais serão tidos como perfeitos com a tradição do objeto; c) negócios formais serão perfeitos no momento em que o rito ou solenidade estiver esgotado.
28 RAMOS, André de Carvalho. GRAMSTRUP, Erik Frederico. Comentários à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB. 2ª ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021, p. 108.
E arrematam os mesmos autores às fls. 103 da obra citada:
A noção de irretroatividade é dirigida ao intérprete. Em princípio, não se interpreta uma lei de modo a que se aplique a fatos pretéritos, salvo se ela for expressa nesse sentido. Ao retroagir, porém, a lei deve pôr a salvo o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então o mandamento constante da LINDB e da Constituição Federal significa que a lei, nas hipóteses em que retroaja, deve respeitar as mencionadas balizas. A retroação, por conseguinte, é exceção e não regra; mesmo quando excepcionalmente se materialize, encontra óbice no direito adquirido, no ato jurídico perfeito e na coisa julgada.
Nesse sentido, é claro que a interpretação que melhor se coaduna com a segurança jurídica dos contratos de seguro e de todos os negócios consensuais perfeitos, é a de que a Lei nº 15.040/2024, quando entrar em vigor, será aplicável aos contratos de seguro celebrados a partir desse momento sem afetar os contratos firmados anteriormente à sua vigência.
Conclusão
Os contratos de seguro no Brasil e em muitas outras partes do mundo ocidental são regulados por dois tipos de normas, as legais e as infralegais, exatamente porque se trata de setor regulado em que a presença do Estado é necessária e perene. Os seguradores na condição jurídica de organizadores e administradores de recursos monetários de terceiros – segurados e estipulantes -, devem ao Estado total transparência de seus atos, tanto quanto responderão civil, penal e administrativamente pelos erros que cometerem e que causem prejuízos a terceiros ou ao próprio sistema de seguros.
Em contrapartida, o Estado por seus três diferentes poderes republicanos deve oferecer ao setor de seguros segurança institucional para que a atuação seja possível em todos os seus múltiplos aspectos, ou seja, não apenas para garantir a solvência e liquidez dos fundos mutuais, mas também para permitir que as aplicações financeiras sejam realizadas em segurança, que os tributos incidentes sejam previamente conhecidos e, que as normas a serem aplicadas ao setor – legais ou infralegais -, igualmente sejam previamente conhecidas e somente in-
cidam aos contratos ainda não formalizados e não àqueles que já se encontram perfeitamente concretizados.
A necessidade de segurança jurídica para o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de seguros não é uma exigência de ordem meramente formal, é antes um pilar estrutural da atividade que, sem isso, poderá ter problemas bastante graves para a mantença da solvência e da liquidez, aspectos essenciais para que a credibilidade e reputação não apenas do setor de seguros privados, mas também para o Estado que o regula e fiscaliza.
Referências Bibliográficas
ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 7ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2025.
CARDOZO, José Eduardo Martins. Da Retroatividade da Lei. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.
DELGADO, Mario Luiz. Problemas de Direito Intertemporal no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2004.
DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 20ª ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2024.
MACHADO, João Baptista. Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador. 19ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 2011.
MENDES, Gilmar Ferreira. Comentários ao inciso XXXVI do Artigo 5º da Constituição Federal. In CANOTILHO, J.J.Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (coordenadores). São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013.
MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
NERY JR., Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código Civil Brasileiro. 14ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022.
RAMOS, André de Carvalho. GRAMSTRUP, Erik Frederico. Comentários à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB. 2ª ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021.
SILVA, José Afonso. Comentários Contextuais à Constituição. 10ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2024.
Lei Nº 15.040/24 - Questões de Direito
Intertemporal e o Procedimento de Regulação de Sinistro
Andre Tavares1
Resumo: O presente artigo analisa a inaplicabilidade retroativa das novas regras de regulação de sinistro, introduzidas pela Lei nº 15.040/2024, aos procedimentos em curso. Argumenta-se que a regulação de sinistro não possui natureza de processo, mas sim de procedimento contratual, constituindo o modo de exercício do direito à garantia securitária. Diferencia-se o conceito de processo, de índole pública e jurisdicional do procedimento, que é uma sequência de atos para um fim específico. A regulação de sinistros é o mecanismo pelo qual a obrigação condicional do segurador se perfectibiliza, sendo parte integrante do direito material nascido do ato jurídico perfeito do contrato de seguro. Por essa razão, as novas normas, ao afetarem a substância do direito, são consideradas “normas híbridas” de caráter material, não se sujeitando à regra de aplicação imediata do direito processual (tempus regit actum), prevista no art. 14 do CPC. Conclui-se que o regime jurídico aplicável deve ser o vigente à época da contratação da apólice.
Palavras-chave: Regulação de Sinistro; Direito Intertemporal; Contrato de Seguro; Lei nº 15.040/2024; Irretroatividade da Lei; Ato Jurídico Perfeito; Processo; Procedimento; Direito à Garantia; Norma Híbrida.
Abstract: This article examines the non-retroactivity of the new loss adjustment rules, introduced by Law No. 15.040/2024, to pending adjustments. It posits that loss adjustment procedure is not a judicial process, but a contractual procedure that constitutes the means of exercising the right to insurance coverage. A distinction is drawn between a judicial process, which is public and jurisdictional in nature, and a procedure, defined as a sequence of acts toward a specific end. Loss adjustment procedure is the mechanism through which the insurer’s conditional obligation is perfected, forming an integral part of the substantive right created by the perfected legal act of the insurance contract. Consequently, the new rules, affecting the substance of
1 Advogado. Graduado em Direito pela PUC-Rio e Pós-Graduado em Direito Se- curitário pela UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES/FUNENSEG. Professor de Seguros no MBA da FUNENSEG. Ex-Presidente do Grupo Nacional de Traba- lho de Seguro Garantia da ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE DIREITO DE SEGUROS – AIDA e Ex-Secretário-Geral da Comissão de Direito do Seguro e Resseguro da OAB-RJ.
the right, are deemed “substantive-procedural rules” of a material character, not subject to the principle of immediate application of procedural law (tempus regit actum). The article concludes that the applicable legal framework must be the one in effect when the policy was issued.
Keywords: Loss Adjustment; Intertemporal Law; Insurance Contract; Law No. 15.040/2024; Non-retroactivity of Law; Perfected Legal Act; Judicial Process; Procedure; Right to Coverage; Hybrid Norm.
Sumário: 1. Introdução; 2. Rapidamente, sobre o procedimento de regulação de sinistro; 3. Processo e procedimento; 4. Regulação como modo do exercício do direito à garantia; 5. Direito intertemporal e procedimento; 6. Conclusão; 7. Referências Bibliográficas.
1. Introdução:
O procedimento de regulação (ou ajuste) de sinistro caracteriza-se, sem sombra de dúvidas, como técnica que visa a dar cumprimento às obrigações assumidas pelo segurador no negócio jurídico de seguro; precipuamente, caso implementado o risco, de indenizar ou pagar o capital segurado ao titular desse direito. Bifásico, inicia-se com o aviso de sinistro pelo segurado ou pelo beneficiário da garantia e conclui-se pela assunção (ou a negativa) do dever de indenizar ou pagar a soma.
A ideia-força deste brevíssimo artigo é a seguinte: independentemente de sua natureza procedimental, a regulação de sinistros consiste em modo pelo qual o segurador presta a garantia. A sua vocação de cumprimento débito-atributivo suplanta qualquer outra característica ou pressuposto. A regulação de sinistro não figura como um direito autônomo do segurado perante o segurador, nem, ao menos, pode considerada um processo. Trata-se de modo de exercício do direito à garantia.
O direito à garantia insere-se na categoria de ato jurídico modal; condiciona-se ao implemento do risco segurado (Código Civil, art. 121). Opera nos planos da existência e validade. Alcança a sua eficácia quanto materializado o risco por meio de um sinistro coberto. Perfectibiliza-se, assim, gerando direito adquirido à garantia, incorporando-se ao patrimônio do segurado ou do beneficiário.
Percebe-se, então, diferentemente do que defendem alguns, que o marco legislativo inaugurado pela Lei nº 15.040/2024, no que concerne ao procedimento de regulação de sinistro (artigos
75/86), não poderá ser aplicado aos ajustes em processamento na data do término de sua vacatio legis. O conjunto de regras deverá adequar-se ao regime jurídico ao qual se submete o clausulado da apólice. O elemento modo-acidental (aqui, exercível mediante o procedimento de ajuste de sinistro) não pode se dissociar do direito subjetivo em si.
2. Rapidamente, Sobre o Procedimento de Regulação de Sinistro:
A causa do negócio jurídico de seguro consiste na mitigação ficcional (por meio de recomposição financeira) de prejuízos concretamente impingidos sobre interesses tecnicamente e juridicamente seguráveis. O implemento da condição suspensiva do direito à garantia ocorre ante a materialização do risco, o que se denomina, na linguagem técnica, sinistro (Lei nº 15.040/2024, art. 66).
Nesse sentido:
“... para exigir a indenização, por isso, não bas- ta para o segurado, a ocorrência do dano. É preciso que o sinistro seja averiguado e analisado pelo segurador, de modo que a indenização somente ocorra depois que este esteja convicto de que realmente o dano atingiu o bem segurado e se deu na conformidade com os termos e condições da cobertura securitária. Entre a participação do sinistro e o pagamento da indenização terá de acontecer um procedimento destinado a definir o cabimento, ou não, da reparação ao segurado. A esse procedimento, que não é contencioso, nem se passa em juízo, dá‐se o nome de ‘regulação de sinistro’.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. O Contrato de Seguro e a Regulação do Sinistro, disponível em: www.ibds.com.br, p. 8).
O procedimento de regulação de sinistros não revela faceta contenciosa (o que, por si só, já o alija da natureza de processo). Estrutura-se bifásico, com vistas, primeiramente, a subsumir o sinistro às hipóteses predefinidas de cobertura. Caso o evento reclamado insira-se nesse enquadramento contratual, liquidar-se-ão, em uma segunda fase, os prejuízos eventualmente apurados.
O procedimento de regulação do sinistro, portanto, instrumentaliza o meio necessário à liquidação da dívida obrigacional do segurador, consistente na apuração dos prejuízos e dos valores a serem indenizados, sendo, desse modo, inerente à própria execução do contrato de seguro. Trata-se de uma fase contratual obrigatória, que não se confunde com um processo judicial, mas que vincula as partes ao cumprimento de deveres de cooperação e boa-fé. É exatamente isso o que nos ensina a doutrina:
“Com esse procedimento [regulação do sinistro] a seguradora, além de determinar a existência e a grandeza do direito do segurado à indenização ou ao capital, torna possível a mais adequada constituição de provisões para o sinistro e os adiantamentos de partes da indenização a fim de que o seguro cumpra sua função social, aportar recursos para a pronta recuperação dos bens da vida e, nos seguros de danos empresariais, das forças produtivas perdidas ou lesadas. Todos os atos desse procedimento são do interesse da seguradora, dos segurados e dos beneficiários”. (TZIRULNIK, Ernesto. O Contrato de Seguro. In: COELHO, Fábio Ulhoa (Coord.). Tratado de Direito Comercial, Volume 5: Obrigações e Contratos Empresariais. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 411)
Como se vê, o procedimento de regulação de sinistro não apresenta a índole de efetivo processo; não é contencioso e não comporta contraditório (não se confunda a participação do segurado, mediante o envio de elementos e informações durante o trâmite procedimental, com contraditório; isso é cooperação e boa-fé). Serve à verificação do implemento suspensivo-condicional inerente ao direito à garantia, cuja titularidade (e o respectivo exercício) cabem ao segurado ou ao beneficiário.
3. Processo e Procedimento (de regulação de sinistro):
Sabe-se que o procedimento de regulação de sinistro se caracteriza pela prática de atos logicamente ordenados, o que pode fazê-lo se subsumir a uma concepção ampla de processo. Contudo, essa determinação taxonômica não o faz ter a natureza de um processo, na acepção técnico-jurídica do termo. A distinção entre os conceitos de processo
-40- Índice
e procedimento, embora por vezes tratada como mera filigrana acadêmica, revela-se de capital importância para a correta aplicabilidade do direito no tempo; ou seja, qual norma contém efetivamente índole processual e qual norma materaliza o exercício de um direito subjetivo, porém de forma procedimental.
O processo deve ser compreendido não apenas como uma sequência de atos, mas como uma relação jurídica de natureza complexa, sempre advinda da autoridade estatal e de caráter público. A doutrina majoritária, a exemplo de Fredie Didier Jr., ensina que “O procedimento é ato-complexo de formação sucessiva, porquanto seja um conjunto de atos jurídicos (atos processuais), relacionados entre si, que possuem como objetivo comum”2 ao passo que o processo se traduz em fenomenologia ampla, a englobar o vínculo jurídico-procedimental, dentre outros, para o fim de obtenção da paz social.
Sobre o assunto, Dinamarco nos ensina que:
“O procedimento é, nesse quadro, apenas o meio extrínseco pelo qual se instaura, desenvolve-se e termina o processo; é a manifestação extrínseca deste, a sua realidade fenomenológica perceptível. A noção de processo é essencialmente teleológica, porque ele se caracteriza por sua finalidade de exercício do poder (no caso, jurisdicional). A noção de procedimento é puramente formal, não passando da coordenação de atos que se sucedem. Conclui-se, portanto, que o procedimento (aspecto formal do processo) é o meio pelo qual a lei estampa os atos e fórmulas da ordem legal do processo”. (CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 26. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. p. 301-302.)
Todo processo se exterioriza por meio de um(ns) procedimento(s), mas nem todo procedimento se constitui um processo, especialmente
2 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 17. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. p. 31.).
quando ausente a lide e a função jurisdicional. Existe uma miríade de procedimentos – administrativos, negociais, legislativos – que se constituem como meras sequências ordenadas de atos voltadas a um fim específico, e sempre em ambiente privado. A regulação de sinistro enquadra-se nesta última categoria: é um procedimento de índole eminentemente contratual e administrativa, não processual.
4. Regulação como Modo do Exercício do Direito à Garantia:
O negócio jurídico de seguro, de natureza comutativa, confere, de um lado, o pagamento do prêmio pelo segurado, e, de outro, o oferecimento da garantia pelo segurador. O direito subjetivo à garantia do seguro ostenta algumas particularidades: materializa-se ante o implemento condicional do sinistro, mas subsiste em latência desde o momento em que aperfeiçoado o vínculo do seguro.
Isso significa dizer que a matriz jurídica do negócio jurídico de seguro estrutura-se em torno de uma obrigação de natureza condicional. A dívida do segurador em indenizar não é a termo; depende da ocorrência de um evento futuro e incerto: o sinistro. A cientificação, pelo segurado, do evento deflaglador do dever de indenizar, ainda que essencial, pressupõe, por outro lado, a necessidade de verificação desse mesmo evento pelo segurador. O mero aviso de sinistro revela-se insuficiente para constituir o segurador em mora (Código Civil, art. 397). O equilíbrio comutativo do contrato pressupõe e exige um mecanismo para apurar se o evento realmente ocorreu, se ele corresponde ao risco coberto e qual a extensão do dano indenizável.
Tal dinâmica, própria do negócio jurídico de seguro, encaixa-se na definição de negócio jurídico elemento-acidental; mais propriamente na definição de negócio jurídico sob condição suspensiva (Código Civil, art. 125):
“Um negócio jurídico condicional tem seus efeitos subordinados ao evento estipulado pelas partes, quer seja para efetivá-lo ou para resolvê-lo. Trata-se de um mecanismo que amplia o espaço da autonomia privada, permitindo às partes do negócio jurídico que interfiram na sua eficácia em dois aspectos: (i) atribuindo-lhe um caráter suspensivo, de modo que não há aquisição do direito até a verificação do evento futuro e incerto (art. 125); (ii) atribuindo-
-lhe um caráter resolutivo, quando há extinção de direito diante de sua verificação (art. 126). (TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República, v. I, Rio de Janeiro, Renovar, 2006, p. 246)”
A ocorrência de sinistro indenizável significa o implemento da condição suspensiva ínsita ao direito à garantia. O modo de exercício do direito à garantia, mediante a verificação de seu implemento, consiste no procedimento de ajuste de sinistro.
O mecanismo pelo qual o devedor-segurador verifica o implemento da condição suspensiva do exercício ao direito de garantia consiste no procedimento de regulação de sinistro. Ele não se constitui em simples procedimentalidade, mas faz parte do núcleo-rígido próprio ao exercício do direito subjetivo condicional; o meio necessário ao perfazimento da condição suspensiva.3 O ajuste é o meio pelo qual “a seguradora avoca para si a responsabilidade pela regulação do sinistro, ou seja, é ela que deve mensurar a causa e a extensão dos danos causados por um determinado evento”.4 Em outras palavras, o procedimento de ajuste de sinistro mostra-se o único caminho contratualmente previsto para transformar o direito abstrato à garantia em um direito concreto à indenização ou ao recebimento de soma.
3 A regulação do sinistro integra a fase de execução do contrato de seguro. Constitui etapa contratual voltada ao adimplemento, que se desenvolve para que seja determinada a existência de cobertura para os fatos narrados no aviso de sinistro e sua extensão, com a mensuração do valor a indenizar ou do capital segurado a ser pago. Sua função precípua é preparar o cumprimento da prestação principal do segurador, definindo o an debeatur e o quantum debeatur (ainda que esta seja mais própria da liquidação do sinistro, se tomada em destaque, como fase subsequente). De forma imediata serve para apurar a ocorrência de sinistro indenizável e a extensão dos danos; de forma mediata visa promover a satisfação do interesse útil do segurado por intermédio do adimplemento da prestação principal do segurador. (MIRAGEM, Bruno; PETERSEN, Luiza. Regulação do sinistro: pressupostos e efeitos na execução do contrato de seguro. Revista dos Tribunais. vol. 1025. ano 110. p. 291-324. São Paulo: Ed. RT, março 2021. link: https://www.migalhas.com.br/depeso/429290/o-impacto-da-nova-lei-de-seguros-na-regulacao-de-sinistros
4 (REVISTA JURÍDICA DE SEGUROS. Rio de Janeiro: CNseg, n. 11, nov. 2019. p 162)
Todo direito subjetivo (inclusive o suspensivo-condicional) está passível de violação pela contraparte. Concluído o procedimento de regulação de sinistro, se o segurador se equivocar (se a verificação quanto à ocorrência do implemento condicional for falha), restará violado o direito subjetivo à garantia.
Veja-se, a esse respeito, que a doutrina especializada entende que:
“(...) a regulação de sinistros é um procedimento de prestação de serviço integrante da dívida do segurador perante o segurado, destinado à confirmação da existência e à precisão do conteúdo da dívida indenizatória, que deve ser solvida, o mais prontamente possível e sem ofensa aos interesses transindividuais que caracterizam a obrigação, de forma a se atingir o seu cumprimento exato e a consequente satisfação do consumidor ou titular do interesse segurado.” (TZIRULNIK, Ernesto. Regulação de Sinistro, São Paulo: Max Limonad 2011, p. 93/94, destacado no original).
Justamente em virtude das peculiaridades que notabilizam o contrato de seguro e o papel que o ajuste de sinistro ocupa nessa dinâmica complexa, o procedimento não pode ser analisado de forma independente e acessória à garantia, como uma mera norma adjetiva, pois se constitui no veículo único de materialização do direito subjetivo-condicional de garantia.
5. Direito Intertemporal e Ajuste (Normas Bifrontes):
A disciplina da sucessão de leis no tempo governa-se por um princípio basilar: tempus regit actum. No campo do direito processual, esse postulado traduz-se na regra da aplicação imediata da lei nova aos processos em curso (applicatio legis novae ad facta pendentia), respeitando-se, contudo, os atos processuais já praticados. O artigo 14 do Código de Processo Civil avulta expressão positiva dessa teoria.
A ratio de tal regra reside na natureza instrumental e pública das normas de processo. Todavia, essa premissa só se sustenta quando se está diante de normas de face estritamente processual. Como demonstrado, o procedimento de regulação de sinistro transcende a formali-
-44- Índice
dade adjetiva, constituindo-se como o mecanismo basilar de materialização da dívida contratual do segurador.
A desnaturação das regras substantivas em processuais não significa uma mera mudança de forma; resulta em alteração na substância do próprio direito subjetivo-condicional e no modo de seu exercício, definidos quando do estatuimento do contrato de seguro. A norma que rege o ajuste, neste caso, adquire uma feição eminentemente material.
A aplicação imediata só se justifica para normas de caráter estritamente processual. Quando a norma, embora discipline um procedimento, afeta diretamente o direito material, a solução é outra. Trata-se das chamadas “normas híbridas” ou “bifrontes”.
Nesse sentido, a doutrina leciona que “A essas normas não se aplica o princípio do efeito imediato das leis processuais; a elas se aplicam as regras de direito intertemporal próprias do direito material, que determinam a sua irretroatividade, resguardando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF).5
Essa é a exata situação das novas regras sobre o ajuste de sinistro, que, ao disciplinarem o modo de verificação suspensivo-condicional necessário ao exercício do direito à garantia, afetam diretamente a estrutura do direito subjetivo ao qual operam como meio eficiente de exercício.
6. Conclusão:
Pelo que se expôs, pode-se afirmar que o marco legislativo inaugurado pela Lei nº 15.040/2024, no que concerne ao procedimento de regulação de sinistro (artigos 75/86), não poderá ser aplicado aos ajustes em processamento na data do término de sua vacatio legis. O conjunto de regras deverá adequar-se ao regime jurídico ao qual se submete o clausulado da apólice.
Isso porque, na medida em que o procedimento de regulação de sinistro não ostenta a natureza de processo na acepção técnico-jurídica do termo, são-lhe inaplicáveis as regras de direito intertemporal
5 (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 17. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015. v. 1. p. 57.)
atinentes às normas tipicamente processuais. O comando do artigo 14 do Código de Processo Civil não se mostra pertinente ao conjunto normativo advindo da Lei nº 15.040/2024.
Como visto, o procedimento de regulação de sinistro não apresenta a índole de efetivo processo; não é contencioso e não comporta contraditório. Serve à verificação do implemento suspensivo-condicional inerente ao direito à garantia, cuja titularidade (e o respectivo exercício) cabem ao segurado ou ao beneficiário.
Some-se a isso a constatação óbvia de que o modo do exercício do direito não pode se dissociar do direito subjetivo em si, o que quer dizer que o direito subjetivo condicional existe e é válido. A sua eficácia, contudo atrela-se à certeza quanto ao implemento da condição.
Vale refletir no sentido de que o aviso de sinistro parametriza-se à notificação ou à interpelação, cujas finalidades são as de constituir o devedor da obrigação condicional em mora (Código Civil, art. 397). Ao devedor da obrigação, quando notificado ou interpelado, confere-se o direito de se opor à realidade de implemento condicional, caso efetivamente não tenha acontecido.
E o modo de exercer o direito à garantia (com a eventual oposição do segurador ao final, caso não verificada a ocorrência do evento coberto) instrumentaliza-se no procedimento de ajuste de sinistro. Nesse sentido, entende-se o conjunto normativo introduzido pela Lei nº 15.040/2024, no que concerne ao procedimento de regulação de sinistro (artigos 75/86), como um conjunto de “normas híbridas” ou “bifrontes”, às quais não se aplica a eficácia imediata das leis processuais (applicatio legis novae ad facta pendentia), mas sim as regras de direito intertemporal próprias do direito material (tempus regit actum).
A Regulação na Nova Lei de Seguros e a Importância dos Mecanismos de Governança e Compliance
Antonio
Carlos Vasconcellos Nóbrega1
Resumo: O presente artigo tem como objetivo discorrer sobre os impactos normativos nas fases de regulação e liquidação de sinistros de acordo com a nova Lei nº 15.040/24. Assim, são detalhadas as regras positivadas pela lei sobre os procedimentos necessários para apurar a existência de cobertura, o nexo de causalidade, a extensão dos danos e a quantificação da indenização. Também são apresentadas considerações sobre a importância da atuação técnica e imparcial dos reguladores e o impacto junto às seguradoras. O artigo destaca ainda, a relevância de políticas de governança e compliance, que devem estar integradas a todas as fases do contrato, especialmente na regulação de sinistros. Enfatiza-se a necessidade de controles internos, treinamentos, elaboração de manuais de conduta e canais de denúncia, como formas de garantir a lisura, a clareza e a transparência do processo.
Abstract: The purpose of this article is to discuss the regulatory impacts on the claims regulation and settlement phases according to the new Law No. 15,040/24. Accordingly, the rules established by the law regarding the procedures necessary to determine the existence of coverage, the causal link, the extent of damages, and the quantification of compensation are detailed. The article also presents considerations on the importance of the technical and impartial role of claims adjusters and the impact on insurance companies. Furthermore, it highlights the relevance of governance and compliance policies, which should be integrated into all phases of the contract, especially in claims regulation. Emphasis is placed on the need for internal controls, training, development of conduct manuals, and whistleblower channels as means to ensure integrity, clarity, and transparency in the process.
Palavras-chave: regulação, liquidação, governança, compliance.
Keywords: regulation, settlement, governance, compliance.
1 Corregedor do Ministério da Fazenda e Ex-Presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Foi Conselheiro do COAF e Corregedor-Geral da União/CGU, Mestre em Direito, Professor e Coordenador Acadêmico do IBMEC-Brasília, Atuou como advogado no mercado de capitais e no segmento de seguros.
1. Introdução
A Nova Lei de Seguros (Lei nº 15.040, de 2024) apresenta-se como um marco para a modernização do tratamento jurídico do contrato de seguro. Com vigência a partir de dezembro de 2025, a Lei nº 15.040/24 elenca um destacado rol de regras e princípios aplicáveis às mais diversas espécies de seguros, de modo a permitir mais segurança jurídica para as relações entre seguradoras, segurados e todos os demais intervenientes no contrato.
É certo que, desde a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o regime jurídico aplicável ao contrato de seguro passou a conviver com normas mais modernas e principiológicas, notadamente quando se considera a aplicação de disposições referentes à boa-fé e à função social do contrato.
Ademais, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990) igualmente trouxe uma carga normativa que se projeta com intensidade nos contratos de seguros, com reconhecidos avanços para a segurança jurídica na relação entre as partes desse negócio. A introdução dos conceitos de consumidor e fornecedor em nossa legislação, com princípios, direitos e regras próprias para essas partes, representou um avanço para as relações de consumo, com importantes impactos no contrato de seguro onde a relação consumerista está presente.
Também deve ser pontuado que, por se tratar de uma modalidade de negócio amplamente difundida no País e utilizada desde a antiguidade, a jurisprudência e as práticas comerciais envolvendo o contrato de seguro avançaram de forma significativa ao longo dos anos. Foram vários os entendimentos consolidados por nossos tribunais em relação ao seguro, em matérias como cláusulas abusivas, deveres de boa-fé e função social do contrato.
Além disso, a atuação técnica e especializada do segmento segurador tem contribuído, sistematicamente e ao longo do tempo, para a elaboração de produtos sofisticados e para a criação de práticas incorporadas ao mercado, muitas vezes à frente da própria legislação — oportuno recordar, inclusive, que, ainda hoje, aplica-se parte das normas do Decreto-Lei nº 73, de 1966, diploma legal que foi bastante alterado ao longo do tempo.
Esse desenvolvimento prático e jurisprudencial, embora tenha suprido parcialmente a ausência de normas específicas, também re -
velou a urgência de uma legislação que acompanhasse esse grau de maturidade, proporcionando maior segurança aos operadores do direito, aos participantes do mercado e, especialmente, às partes do contrato.
E foi nesse contexto que em 10 de dezembro de 2024 foi publicada a Lei nº 15.040, que passou a disciplinar o contrato de seguro e revogou partes do Decreto-Lei nº 73/66 e artigos do Código Civil relacionados a essa modalidade de negócio.
É nessa trajetória de continuado aprimoramento que se soma o novo marco legal, quando apresenta um conjunto de regras destinadas a garantir mais transparência ao negócio, além de fortalecer garantias para as partes contratantes e reduzir assimetrias, sem olvidar as obrigações que devem pautar essa relação, que é reconhecidamente lastreada em princípios que se relacionam à boa-fé. Com efeito, muito embora haja evidente esforço do legislador em assegurar a existência de um conjunto de direitos para os segurados, a estes também são previstos deveres a serem observados em diversas fases do contrato, tais como a apresentação de informações verídicas à empresa seguradora e a necessidade de comunicação de situações que agravem o risco.
É oportuno salientar que a nova lei se encontra dividida em seis capítulos, com seções e dispositivos específicos para tratar dos elementos inerentes ao contrato de seguros, incluindo risco, prêmio e interesse legítimo do segurado, além de também trazer regras voltadas às etapas de contratação e para a atuação no mercado das empresas seguradoras.
Destarte, são apresentadas regras sobre a formação, duração e interpretação do contrato de seguros, além de diretrizes para as apólices, com potencial para garantir mais segurança jurídica na relação estabelecida entre as partes. Vale igualmente mencionar o advento de seção própria para o sinistro e para as fases subsequentes de regulação e liquidação, as quais serão abordadas adiante.
O legislador também optou por dispor, em capítulos específicos, sobre os contratos de seguro de dano, de vida e aqueles que são de contratação obrigatória, com a introdução de importantes normas e princípios que se aplicam a essas modalidades de seguro, de forma a permitir maior clareza às relações contratuais estabelecidas entres as partes.
Assim, quando cria um microssistema próprio sobre o assunto, a Nova Lei de Seguros busca revestir a relação contratual de mais confiança, equilíbrio e transparência, com concretude e alicerçada no princípio da boa-fé, que se projeta de forma vigorosa no contrato e assegura previsibilidade e segurança em todas as etapas dessa modalidade de negócio.
2. A Regulação e a Liquidação de Sinistros
As etapas de regulação e liquidação são de extrema relevância no contrato de seguro, por viabilizarem a própria efetividade do negócio. De fato, é justamente nessas fases que serão verificadas as condições para o cumprimento das obrigações pactuadas pela empresa seguradora na hipótese de sinistro, conforme os termos constantes no contrato. São atividades que se relacionam ao adimplemento da obrigação de garantia pactuada pelo agente segurador. E é, em sintonia com elas, que deverão ser verificadas as condições da ocorrência do sinistro, com o exame entre o nexo de causalidade e as causas e o evento indesejado coberto pela garantia contratual estabelecida no negócio.
Em síntese, portanto, e nunca é demais repetir, para a exigência da obrigação assumida pela seguradora, não se tem como suficiente a mera presença de dano ao bem segurado, é indispensável que esse dano esteja previsto nas condições e termos constantes na cobertura securitária da apólice.
Ademais, a extensão do sinistro e a quantificação do dano também merecem destaque nessa etapa, de modo a garantir a preservação do interesse legítimo do segurado, beneficiário ou terceiro prejudicado. Busca-se, desta maneira, evitar o enriquecimento ilícito daquele que tem direito à indenização e o consequente prejuízo ao fundo mutual, além de se certificar que o valor pago seja suficiente para reparar o real prejuízo decorrente do sinistro.
Pode-se afirmar que a regulação deverá verificar inicialmente se determinado evento apresenta as condições necessárias para ser considerado um sinistro, conforme dispõem as cláusulas contratuais relativas ao risco assegurado. Nessa hipótese, faz-se indispensável a colaboração entre as partes, para que todos os elementos atinentes ao sinistro sejam avaliados e examinados em suas justas medidas, e a indenização possa ser adequadamente paga, com o
-50- Índice
adimplemento da obrigação pactuada pelo segurador. Para tanto, deverá ser encaminhado à seguradora o conjunto de documentos relacionados ao evento, tais como fotos, perícias, boletins de ocorrência emitidos pelas autoridades competentes, laudos médicos e notas fiscais.
Cabe pontuar que em sinistros complexos, decorrentes de contratos nos quais o interesse segurado alcança patamares mais elevados e perdas materiais substanciais, a regulação é ainda mais relevante, possibilitando que a dinâmica do evento seja mais bem compreendida e os prejuízos adequadamente quantificados.
E é também nessa etapa que falhas e lacunas na formação do contrato poderão ser detectadas. Logo, sem prejuízo da identificação de imprecisões em outras fases da contratação, informações incorretas fornecidas no questionário da seguradora poderão ser identificadas e analisadas, com vistas à detecção e à prevenção de eventuais e possíveis efeitos indesejados na relação contratual.
Nesta toada, vale a menção ao art. 44 da Lei nº 15.040/242 que prevê os efeitos do descumprimento da obrigação do segurado ou estipulante de apresentar as informações essenciais para a aceitação da proposta e cálculo do prêmio. A inexatidão de dados fornecidos à seguradora nessa fase pré-contratual distorce a própria lógica do instrumento de seguro e afeta os valores referentes ao interesse legítimo protegido, com reflexos no fundo mutual do grupo segurado.
2 Art. 44. O potencial segurado ou estipulante é obrigado a fornecer as informações necessárias à aceitação da proposta e à fixação da taxa para cálculo do valor do prêmio, de acordo com o questionário que lhe submeta a seguradora.
§ 1º O descumprimento doloso do dever de informar previsto no caput deste artigo importará em perda da garantia, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora.
§ 2º O descumprimento culposo do dever de informar previsto no caput deste artigo implicará a redução da garantia proporcionalmente à diferença entre o prêmio pago e o que seria devido caso prestadas as informações posteriormente reveladas. (Lei nº 15.040/24)
A violação dos deveres previstos no art. 66 3 da nova lei tem, de igual modo, a possibilidade de ser constatada durante a regulação. Ao prever determinadas responsabilidades ao segurado que tomar ciência do sinistro ou da sua iminência, busca o legislador minorar os danos patrimoniais ou extrapatrimoniais que dele sejam resultantes. Trata-se de um dever de cooperação, derivado do princípio da boa-fé, e cujo descumprimento pode gerar severas consequências para o segurado. O exame da sequência de eventos que resultou no sinistro e a quantificação do dano resultante tem aptidão para indicar uma eventual negligência por parte do segurado, o que pode ter contribuído para o agravamento do risco ou majoração dos prejuízos.
Elementos indicativos de fraude podem, da mesma forma, ser observados nessa fase. A apresentação dolosa de informações inverídicas sobre o interesse legítimo segurado ou sobre o próprio beneficiário, bem como acerca da dinâmica do evento que resultou no sinistro4 podem resultar na perda da garantia.
A omissão de informações sobre as reais causas que levaram à ocorrência de um sinistro ou a intencional apresentação de fatos inverídicos sobre a causa do evento podem, por exemplo, ser identificadas justamente na regulação, com consequências que podem ir além da esfera civil e se projetar, inclusive, na seara criminal, conforme os tipos previstos no art. 171 e no inciso II, do §4º, daquele mesmo dispositivo5 do Código Penal, com a responsabilização dos envolvidos.
3 Art. 66. Ao tomar ciência do sinistro ou da iminência de seu acontecimento, com o objetivo de evitar prejuízos à seguradora, o segurado é obrigado a: I - tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos; II - avisar prontamente a seguradora, por qualquer meio idôneo, e seguir suas instruções para a contenção ou o salvamento; III - prestar todas as informações de que disponha sobre o sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela seguradora.
4 Art. 68, §4º A fraude cometida por ocasião da reclamação de sinistro leva à perda pelo infrator do direito à garantia, liberando a seguradora do dever de prestar o capital segurado ou a indenização. (Lei nº 15.040/24)
5 Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: (...)
-52- Índice
Para melhor ilustrar tal situação, pode-se imaginar sinistro relativo a um acidente de automóvel onde as causas do evento não foram adequadamente informadas pelo segurado, com o intuito de omitir informações relevantes sobre o agravamento do risco. É manifesto que uma adequada apuração poderá, por meio de entrevistas e perícias, apontar eventuais lacunas relativas à dinâmica do evento, ou mesmo apontar a tentativa dolosa do segurado de ocultar elementos relevantes que excluiriam o evento da cobertura pactuada.
Do mesmo modo, na hipótese de seguro-garantia envolvendo grandes obras, o prejuízo resultante da paralização de uma construção de grande porte deverá ser melhor aferido por meio das etapas de regulação e liquidação, quando poderão ser identificados, por exemplo, eventuais desvios e fraudes na própria contratação do seguro, sobretudo quando riscos já conhecidos relacionados à execução do contrato não foram adequadamente informados à empresa seguradora.
Neste cenário, optou o legislador por dispor sobre a regulação e liquidação de sinistros em seção própria (Seção XIII), no primeiro capítulo da Lei nº 15.040/24, de forma a assegurar um arcabouço de diretrizes para essas importantes e indispensáveis fases do contrato de seguros. Essas regras encontram-se positivadas nos arts. 75 a 88 da nova lei, e suprem uma lacuna normativa até então existente diante da ausência de tratamento específico da matéria no Código Civil de 2002, o que gerava insegurança jurídica e incerteza nesses procedimentos.
Conforme será ventilado adiante, foram determinados prazos específicos para o cumprimento das obrigações do segurador e introduzidas regras para assegurar mais transparência nessa fase contratual, com obrigações e deveres para os responsáveis pela regulação e liquidação de sinistros e o reforço do dever de cooperação entre todas as partes envolvidas.
Art. 171, §2º - Nas mesmas penas incorre quem: (...) V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. (Código Penal.
3. O tratamento da Regulação na Nova Lei de Seguros e a necessidade de adequadas políticas de governança e compliance
Nos termos expostos nas páginas anteriores, foram mencionados, ainda que de forma abrangente e sem o aprofundamento e densidade que o assunto merece, os impactos da Lei nº 15.040/24 na atividade seguradora e como os mecanismos de liquidação e regulação apresentam-se como elementos inerentes ao contrato de seguro. Pois bem, após essas etapas, são discutidas, nos parágrafos seguintes, as inovações legislativas relativas ao tema e como as empresas que atuam nesse segmento devem melhor adequar suas estruturas administrativas para atender às exigências legais e mitigar riscos reputacionais e regulatórios.
Em modo preliminar, deve-se registrar que boas e necessárias práticas internas de governança e compliance já se encontram devidamente incorporadas à rotina operacional do mercado segurador, que atua sob um denso campo regulatório e com altos volumes de recursos financeiros, com contratos de longo prazo, revestidos de elevada tecnicidade, e relacionamento constante com diversos atores que atuam no negócio (segurados, corretores, prepostos, beneficiários, dentre outros).
As seguradoras, destarte, precisam estruturar modelos de governança capazes de assegurar a responsabilidade corporativa e a tomada de decisões equilibradas, considerando tanto o desempenho econômico e a viabilidade do negócio, quanto os direitos dos segurados. Conselhos atuantes, auditoria independente e mecanismos internos de controle tornaram-se pilares essenciais e indispensáveis para garantir a confiança dos consumidores e a estabilidade do setor.
Na mesma direção e objetivo, as ferramentas de compliance devem ter um papel ativo na cultura das empresas de seguros. O estrito e atento cumprimento do arcabouço regulatório e de demais normas aplicáveis aos seus negócios, além da rigorosa observância de regras de conflito de interesse, prevenção à lavagem de dinheiro e anticorrupção, são medidas mandatórias para evitar problemas reputacionais e legais às organizações. Deve-se buscar a criação de ambientes corporativos éticos, com políticas claras de prevenção, de modo que se mantenha a constante construção e manutenção de uma cultura de conformidade.
Os mecanismos de governança e compliance devem ser analisados de modo integrado, com efeitos que se projetam em todas as fases dos negócios da companhia. Assim, do mesmo modo que regras de
prevenção à lavagem de dinheiro devem ser cumpridas na contratação do seguro e no pagamento da indenização, normas anticorrupção têm grande valor em negócios envolvendo órgãos públicos.
E nessa mesma linha de raciocínio, estruturas de controle e prevenção devem também ser cuidadosamente observadas na regulação e liquidação de sinistros, tendo em vista que asseguram a transparência e imparcialidade desses processos, com a aderência às normas contratuais e legais vigentes, incluindo os preceitos advindos da Lei nº 15.040/24. Portanto, é válido realçar e debater justamente algumas dessas regras previstas na nova lei, de forma que se possa colocar em evidência como podem impactar a implementação e o aperfeiçoamento de políticas de governança e compliance.
Sob essa perspectiva, vale atentar, de início, ao art. 766 do referido diploma legal, que não obstante determinar que a regulação e liquidação do sinistro cabem à seguradora, permite que ocorra a contratação de um terceiro para a prestação dos referidos serviços (Parágrafo único do art. 76), prática que, inclusive, já é usual no mercado.
A permissão de que um terceiro conduza essa apuração deve ser objeto de cautela e atenção, já que a atuação do regulador não afasta a responsabilidade da seguradora, a qual permanece encarregada da adequada aferição das condições do sinistro, conforme sua própria condição de parte no contrato, e nos termos do art. 797.
Assim, convém que a seguradora assegure uma adequada atuação desse terceiro e sua total aderência às políticas e diretrizes da empresa, considerando que, no desempenho de suas atividades para verificar a existência de cobertura contratual e quantificação do dano, o regulador deverá interagir com os mais diversos agentes, públicos e privados, para a obtenção de informações sobre o sinistro. A solicitação de documentos para o próprio segurado ou terceiros alcançados pelo evento,
6 Art. 76. Cabem exclusivamente à seguradora a regulação e a liquidação do sinistro. Parágrafo único. A seguradora poderá contratar regulador e liquidante de sinistro para desenvolverem a prestação dos serviços em seu lugar, sempre reservando para si a decisão sobre a cobertura do fato comunicado pelo interessado e o valor devido ao segurado.
7 Art. 79. O regulador e o liquidante de sinistro atuam por conta da seguradora.
diligências em órgãos públicos (delegacias, cartórios, postos de fiscalização etc.) e entrevistas com testemunhas são algumas das possíveis diligências que o regulador poderá adotar.
Desta maneira, impõe-se como medida essencial e estratégica a extensão das políticas internas de compliance para os agentes reguladores, com o estabelecimento de padrões de comportamento adequados condizentes com as boas práticas adotadas pela seguradora no relacionamento com terceiros, entre colaboradores e com seus órgãos de administração.
Frise-se que não nos parece suficiente a simples ciência e comunicação ao regulador dos deveres estatuídos no art. 808 da Lei nº 15.040/24. De fato, muito embora o legislador tenha previsto o dever de probidade – conceito que se apresenta com elevada carga de abstração e elasticidade –, deve-se reconhecer que é necessário ir além, com a previsão de obrigações e encargos específicos para o responsável da regulação do sinistro, de tal modo que seja possível a esse agente identificar o melhor caminho a ser adotado diante de uma dificuldade concreta durante essa fase contratual.
Entraves burocráticos para a obtenção de documentos públicos ou a possibilidade de testemunhos ou laudos contraditórios sobre a dinâmica de evento são desafios que podem se apresentar durante essa atividade, e podem representar riscos para a seguradora caso o regulador atue com excessos ou fora dos contornos legais na busca da verdade real sobre as causas do sinistro.
Por conseguinte, códigos de conduta e manuais devem ser elaborados com redação clara e atenta à realidade vivenciada por aqueles que estão diretamente envolvidos com a atividade. É conveniente que esses documentos, acompanhados de treinamentos específicos, apresentem exemplos e situações reais que usualmente são encontradas durante o processo de regulação, a fim de que o regulador possa inferir o caminho mais adequado – considerando, inclusive, as políticas da seguradora – a ser percorrido diante de um obstáculo em sua atividade.
8 Art. 80. Cumpre ao regulador e ao liquidante de sinistro: I - exercer suas atividades com probidade e celeridade; II - informar os interessados de todo o conteúdo de suas apurações, quando solicitado, respeitada a exceção prevista no parágrafo único do art. 83 desta Lei; III - empregar peritos especializados, sempre que necessário.
-56- Índice
A proibição do oferecimento de quaisquer vantagens indevidas a agentes públicos ou a terceiros relacionados ao sinistro, assim como a vedação ao uso de qualquer forma de intimidação, pressão ou influência, com o objetivo de obter depoimentos sobre a dimensão real e os aspectos fáticos do ocorrido, são exemplos de diretrizes que devem constar nesses guias, a fim de nortear a conduta do regulador enquanto representante da seguradora.
Vale atenção também ao Parágrafo Único do art. 799, que contém vedação para que a remuneração do regulador seja estabelecida com base na economia proporcionada à seguradora. Ou seja, impede que o pagamento desse agente esteja condicionado ao resultado financeiro obtido na regulação do sinistro. Essa regra busca garantir que o profissional atue com total imparcialidade e independência, sem incentivo a práticas que possam prejudicar o segurado, terceiros interessados, beneficiários e comprometer a transparência no processo.
Essa vedação está alinhada às boas práticas de compliance corporativo, que recomendam evitar qualquer forma de remuneração variável vinculada ao desempenho ou êxito de terceiros que atuam em nome da empresa, com o escopo de prevenir conflitos de interesses ou mesmo envolver a organização em um caso de corrupção – considerando, inclusive, a responsabilidade objetiva por atos de terceiro prevista na Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/13).
No contexto da regulação de sinistros, remunerar o regulador com base na economia gerada à seguradora poderia induzir a prática de condutas que se afastam de uma justa e imparcial avaliação dos fatos e dos direitos do segurado, com o enfoque exclusivo em documentos, perícias e testemunhos que pudessem indicar a não cobertura do evento.
A restrição imposta pela lei contribui para que os serviços terceirizados sejam prestados com transparência e responsabilidade, de modo a que seja alcançado o real fim a que se propõe: estabelecer a realidade do sinistro e a cobertura ou não do evento. Desta forma, essa regra protege não só os interesses e direitos dos clientes, mas também evita
9 Art. 79 (...) Parágrafo único. É vedada a fixação da remuneração do regulador, do liquidante, dos peritos, dos inspetores e dos demais auxiliares com base na economia proporcionada à seguradora.
riscos reputacionais e legais à seguradora, mitigando a possibilidade de uma reversão judicial de uma indevida negativa de cobertura.
Ainda na Seção XIII do Capítulo I da Lei nº 15.040/24, merece atenção e ênfase o texto do art. 8610, que apresenta regras sobre o prazo de pagamento da indenização e consequências para sua inobservância.
Desta forma, passa a seguradora a ter um prazo específico de trinta dias para a conclusão da etapa da regulação do sinistro, com a possibilidade de suspensão desse lapso temporal em algumas hipóteses, como quando houver a necessidade de solicitar documentos adicionais ao segurado.
Caminhou bem o legislador ao também possibilitar que em sinistros de maior complexidade o órgão regulador permita, em âmbito infralegal, que a apuração seja concluída em prazo superior, observado o limite de cento e vinte dias. Busca-se garantir o tempo necessário para que sejam realizadas vistorias, perícias técnicas e todas as demais providências para se aferir a realidade do sinistro e a cobertura do evento, preservando o interesse de todos os envolvidos.
10 Art. 86. A seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para manifestar-se sobre a cobertura, sob pena de decair do direito de recusá-la, contado da data de apresentação da reclamação ou do aviso de sinistro pelo interessado, acompanhados de todos os elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura.
§ 1º Os elementos necessários à decisão sobre a cobertura devem ser expressamente arrolados nos documentos probatórios do seguro.
§ 2º A seguradora ou o regulador do sinistro poderão solicitar documentos complementares, de forma justificada, ao interessado, desde que lhe seja possível produzi-los.
§ 3º Solicitados documentos complementares dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, o prazo para a manifestação sobre a cobertura suspende-se por no máximo 2 (duas) vezes, recomeçando a correr no primeiro dia útil subsequente àquele em que for atendida a solicitação.
§ 4º O prazo estabelecido no caput deste artigo somente pode ser suspenso 1 (uma) vez nos sinistros relacionados a seguros de veículos automotores e em todos os demais seguros em que a importância segurada não exceda o correspondente a 500 (quinhentas) vezes o salário-mínimo vigente.
§ 5º A autoridade fiscalizadora poderá fixar prazo superior ao disposto no caput deste artigo para tipos de seguro em que a verificação da existência de cobertura implique maior complexidade na apuração, respeitado o limite máximo de 120 (cento e vinte) dias.
§ 6º A recusa de cobertura deve ser expressa e motivada, não podendo a seguradora inovar posteriormente o fundamento, salvo quando, depois da recusa, vier a tomar conhecimento de fatos que anteriormente desconhecia.
É oportuno que haja cautela na interpretação desse artigo e sua aplicação prática, já que o descumprimento do prazo de trinta dias poderá gerar consequências gravosas no âmbito do contrato. Portanto, o início desse prazo deve se dar somente quando todos os documentos necessários ao processo de regulação forem entregues pelo segurado, razão pela qual é conveniente que o rol desses documentos já conste no próprio contrato de seguro.
A apresentação de documentos não previstos inicialmente pode, da mesma maneira, ser necessária, tendo em vista a própria dinâmica dos eventos que resultaram no sinistro. Neste caso, haverá suspensão do prazo de trinta dias, conforme previsto nos §2º e §3º do art. 86. Frise-se, contudo, que a regra positivada nos aludidos dispositivos faz alusão ao pedido para a apresentação de documentos complementares, e não daqueles que devem ser entregues já no início do próprio processo.
Ainda, requer atenção o §6º do art. 86, que trata da fundamentação e justificativa da recusa da cobertura por parte da seguradora. A necessidade de motivação decorre da própria natureza do contrato de seguros e da boa-fé e transparência que devem pautar toda a relação entre as partes. Como já mencionado, é justamente nessa fase de regulação que a seguradora poderá ter acesso a informações que indiquem que o evento não está coberto pelo contrato. Nesse caso, deverá a seguradora esclarecer de modo detalhado e preciso a falta de cobertura do evento, com a clareza necessária para que o segurado tenha pleno conhecimento das razões que levaram à negativa, com o reforço da norma prevista no art. 8311 da Lei nº 15.040/24.
Dispõe o mesmo §6º que os fundamentos que geram a recusa da cobertura não podem ser alterados posteriormente, salvo quando fatos novos chegarem ao conhecimento da seguradora. Com efeito, não seria razoável que a seguradora não pudesse incluir no fundamento da recusa elemento que só chegou ao seu conhecimento posteriormente, como, por exemplo, quando é deflagrada operação policial para apurar 11 Art. 83. Negada a cobertura, no todo ou em parte, a seguradora deverá entregar ao interessado os documentos produzidos ou obtidos durante a regulação e a liquidação do sinistro que fundamentem sua decisão. Parágrafo único. A seguradora não está obrigada a entregar documentos e demais elementos probatórios que sejam considerados confidenciais ou sigilosos por lei ou que possam causar danos a terceiros, salvo em razão de decisão judicial ou arbitral.
um esquema de fraude contra o seguro ou é recebida uma denúncia sobre informações falsas prestadas pelo segurado, na formação do contrato ou mesmo na etapa de regulação do sinistro.
Percebe-se que os preceitos estatuídos ao longo do art. 86 revelam a necessidade de que as seguradoras estabeleçam procedimentos, adequadas rotinas e fluxos internos que atendam às exigências legais, afastando riscos de descumprimento das regras ventiladas nos parágrafos anteriores.
Exatamente por isso, mecanismos informatizados de controle e treinamento apropriado de todos os envolvidos nesse processo são medidas essenciais, para que as informações e os fundamentos sobre a cobertura ou não do evento sejam adequadamente transmitidas ao segurado. Consequentemente, impõe-se que, além da transparência e da lisura de todo o processo de regulação, a própria comunicação com o segurado seja realizada com a máxima boa-fé e por meio de colaboradores devidamente capacitados, que tenham aptidão para esclarecer dúvidas e explicar decisões técnicas relativas a essa fase do contrato.
Os arts. 82 e 8312 da nova lei, de igual modo, corroboram a importância de que empresas de seguros adotem medidas adequadas e suficientes para o tratamento e guarda dos documentos relativos à regulação e liquidação do sinistro. Logo, muito embora o relatório de regulação feito por um terceiro seja direcionado inicialmente à seguradora, a qual deverá realizar o juízo e exame sobre a cobertura ou não do evento, a intenção do legislador é clara no sentido de que o acesso a tal documento também deve ser franqueado ao segurado e demais interessados.
O objetivo aqui é assegurar a necessária transparência aos critérios e à metodologia utilizada pela seguradora enquanto responsável pela análise do sinistro, bem como à forma com que foram conduzidos os trabalhos realizados pelos agentes encarregados da regulação.
12 Art. 82. O relatório de regulação e liquidação do sinistro é documento comum às partes.
Art. 83. Negada a cobertura, no todo ou em parte, a seguradora deverá entregar ao interessado os documentos produzidos ou obtidos durante a regulação e a liquidação do sinistro que fundamentem sua decisão.
Parágrafo único. A seguradora não está obrigada a entregar documentos e demais elementos probatórios que sejam considerados confidenciais ou sigilosos por lei ou que possam causar danos a terceiros, salvo em razão de decisão judicial ou arbitral.
Todavia, percebe-se que a regra positivada no Parágrafo Único do art. 83 nos traz uma ressalva, com a previsão de que não há obrigatoriedade de entrega de documentos que estejam acobertados por algum tipo de sigilo ou que possam gerar danos a terceiros. Tal situação pode ocorrer na hipótese de a seguradora ter acesso a dados fiscais ou a informações protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18), além de testemunhos que, caso divulgados, possam colocar em risco a imagem ou integridade de alguém que colaborou com a apuração da realidade do sinistro.
Muito embora ao final do dispositivo (PU do art. 83) esteja prevista a possibilidade de entrega desses documentos por decisão exarada no âmbito judicial ou em processo arbitral, o propósito do legislador é claro no sentido de resguardar certas informações, ainda que isso possa resultar em certo grau de limitação ao direito do interessado de ter conhecimento dos fundamentos probatórios que levaram a uma negativa de cobertura.
E é justamente por essa razão que a negativa de acesso deve ser a exceção e estar amparada em sólidos fundamentos, técnicos e jurídicos. É válido atentar, inclusive, que a regra aqui debatida permite somente a restrição de acesso a determinados documentos e informações, e não a todo o conteúdo do relatório de regulação produzido, de tal forma que é necessário que a seguradora entregue aos interessados os demais elementos constantes no processo e que não se amoldam às exceções previstas no Parágrafo Único do art. 83.
Desta maneira, é altamente recomendável e medida de boa prudência o tratamento das informações e elementos probatórios já na etapa de regulação, sem olvidar o adequado exame jurídico posterior da empresa seguradora sobre a existência ou não de impedimentos para a concessão de acesso a esses documentos.
É oportuno que sejam elaborados manuais e estabelecidos treinamentos que permitam aos agentes responsáveis pela regulação e liquidação de sinistros inferir e registrar quais são os elementos documentais passíveis de restrição de acesso, com a adoção de medidas adequadas inclusive para a proteção desses dados. Ademais, em âmbito interno, deverão as seguradoras incorporar em suas rotinas medidas para assegurar um apropriado tratamento e guarda dos documentos sensíveis produzidos durante essa fase contratual, com análise minuciosa e precisa sobre a possibilidade ou não de acesso aos interessados de seu conteúdo.
Ainda no contexto da regulação e liquidação de sinistros, oportuno fazer alusão ao papel dos canais de denúncia e ouvidorias na prevenção e apuração de condutas que se afastam dos preceitos da nova lei.
Como esses processos muitas vezes envolvem a atuação de terceiros, como reguladores autônomos e empresas especializadas, é fundamental que segurados e demais interessados possam relatar comportamentos suspeitos ou excessos que comprometam a imparcialidade da análise e o resultado do processo.
Ademais, esses mecanismos de interlocução com os segurados e demais interessados também podem se revelar instrumentos eficazes para identificar falhas nos fluxos internos da seguradora e a oportunidade de melhorias, especialmente quando as manifestações recebidas apontam para atrasos reiterados, descumprimento de prazos e exigências excessivas de documentação.
Ao assegurar um tratamento adequado e imparcial de denúncias e reclamações, tanto de usuários quanto de seus próprios colaboradores, e garantir a existência de um canal independente e protegido, a seguradora tem a oportunidade de revisar rotinas, qualificar seus prestadores de serviço e alinhar seus procedimentos às exigências da Lei nº 15.040/24.
4. Conclusão
A promulgação da Lei nº 15.040/2024 representa um avanço significativo no tratamento normativo do contrato de seguros. Ao consolidar entendimentos e práticas já adotadas no mercado e prever um denso arcabouço de regras e princípios aplicáveis ao contrato de seguros, a nova norma garante maior estabilidade às relações jurídicas do setor. A estruturação de diretrizes para as diferentes etapas contratuais, com mais clareza do que se espera dos contratantes, proporciona maior previsibilidade e proteção aos interesses das partes envolvidas.
Dentre os aspectos mais relevantes, destacam-se as disposições relativas à regulação e liquidação de sinistros, com a introdução de orientações claras quanto aos procedimentos e prazos que devem ser observados nessa importante fase do contrato, bem como deveres e responsabilidades de todos os envolvidos. É certo que o detalhamento procedimental previsto na nova lei contribui para o fortalecimento da
-62- Índice
confiança no setor e estimula a cooperação entre seguradoras, reguladores e segurados, com o reforço do princípio da boa-fé.
Muito embora a intenção do legislador seja clara no sentido de conferir mais celeridade, transparência e equilíbrio ao processo de apuração e indenização dos danos cobertos, deve-se reconhecer que a adoção de políticas internas compatíveis com os novos parâmetros legais apresenta-se como medida essencial e indispensável nesse novo cenário normativo.
Como demonstrado e debatido no presente artigo, a capacitação de profissionais envolvidos na análise, regulação e liquidação de sinistros e o aperfeiçoamento de mecanismos de controle e auditoria passam a ser elementos centrais para assegurar o cumprimento das novas exigências, de modo a evitar litígios e fortalecer a legitimidade das decisões tomadas no âmbito contratual.
A Lei nº 15.040/24 não apenas moderniza o regime jurídico aplicável ao contrato de seguro, como também estimula a adoção de boas práticas e comportamentos éticos por parte de todos os atores envolvidos. Ao alinhar técnica, previsibilidade e valores como boa-fé e transparência, a nova lei se firma como relevante instrumento para o desenvolvimento sustentável do mercado securitário brasileiro, com impactos positivos para toda a sociedade.
Bibliografia
BECHARA SANTOS, Ricardo. Direito de Seguro no Novo Código Civil e Legislação Própria. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2018.
CARVALHAL, Glauce, CARLINI, Angelica. Lei de Seguros Interpretada: Lei 15.040/2024 Artigo por Artigo. São Paulo: Editora Foca, 2025.
GRAVINA, Mauricio. Direito dos Seguros. São Paulo: Almedina, 2020.
FRANCO, Isabel. Guia Prático de Compliance. Rio de Janeiro: Ed. Forense. 2020
MARINELA, F., PAIVA, F. & Ramalho, T. Lei Anticorrupção. São Paulo: Saraiva, 2015.
MARTINEZ, André Almeida; LIMA, Carlos Fernando. Compliance Bancário: Um Manual Descomplicado. São Paulo: Quartier Latin, 2022.
MENDONÇA, Vinicius. Curso do Direito do Seguro e Resseguro. São Paulo: Editora Foca, 2024.
NUCCI, G. DE S. Corrupção e Anticorrupção. Rio de Janeiro: Ed. Forence. 2015
ZENKNER, Marcelo. Integridade governamental e empresarial: um espectro de repressão e da prevenção à corrupção no Brasil e em Portugal. Belo Horizonte: Fórum, 2019.
TZIRULNIK, Ernesto. Direito do Seguro Contemporâneo: edição comemorativa dos 20 anos do IBDS. São Paulo: Editora Contracorrente, 2021.
VERISSIMO, Carla. Compliance: incentivo à adoção de medidas anticorrupção. São Paulo: Ed. Saraiva, 2018.
Grandes Riscos e a Lei do Contrato de Seguro – Reflexões
Bárbara Bassani de Souza1
Resumo: O artigo objetiva indicar os principais dispositivos previstos na Lei do Contrato de Seguro com impactos em seguros de grandes riscos, propiciando ao leitor algumas reflexões e discussões necessárias para que esses seguros continuem exercendo o seu papel fundamental ao desenvolvimento do país.
Abstract: This article aims to highlight the main provisions set out in the Insurance Contract Law that impact large risks insurance, offering readers some necessary reflections and discussions so that such insurance policies may continue to play their fundamental role in the country’s development.
Palavras-chave: Lei do Contrato de Seguro. Seguros de Grandes Riscos. Discussões.
Keywords: Insurance Contract Law. Large Risks Insurance. Discussions.
Sumário: 1 – Introdução. 2 – Seguros de grandes riscos. 3 – Liberdade contratual. 4 – Legislação aplicável. 5 – Coberturas e exclusões. 6 – Idioma. 7 – Regulação e liquidação de sinistros. 8 – Eficácia/ vigência. 9 – Outros aspectos. 10 – Conclusões. 11 – Referências bibliográficas.
1. Introdução
Após cerca de vinte anos de tramitação legislativa, foi publicada, em 10.12.2024, a Lei nº 15.040, que dispõe sobre normas de seguro privado. Conhecida como a Lei do Contrato de Seguro (LCS), o novo marco passará a viger um ano após a sua publicação2 e reflete, na ínte-
1 Advogada na área de Seguros e Resseguros (consultoria e contencioso estratégico). Doutora e Mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo-USP. Graduada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Autora de diversos artigos e livros. Acadêmica da Academia Nacional de Seguros e Previdência – ANSP. Diretora de Relações Internacionais da AIDA Brasil (2022-2024) e Diretora Jurídica da AIDA Brasil (2024-2026). Professora e Coordenadora da Escola de Negócios e Seguros (ENS).
2 Os artigos 757 a 802, do Código Civil, que atualmente disciplinam o contrato de
gra, o texto do PL nº 2.597/2024, aprovado pelo Congresso Nacional em 05.11.2024.
A LCS é composta por 134 (cento e trinta e quatro) artigos, divididos em seis grandes Capítulos: Disposições Gerais; Seguros de Danos; Seguros sobre a Vida e a Integridade Física; Seguros Obrigatórios; Prescrição; e Disposições Finais e Transitórias.
Há um intenso processo de adaptação de produtos, operações e teses por parte das entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e um dos aspectos que mais têm sido objeto de debates e reflexões é o impacto da LCS nos seguros de grandes riscos.
Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo indicar os principais dispositivos previstos na LCS com impactos em seguros de grandes riscos, propiciando ao leitor algumas reflexões necessárias para que esses seguros continuem exercendo o seu papel fundamental ao desenvolvimento do país.
2 . Seguros de Grandes Riscos
A forte ingerência da SUSEP nos denominados clausulados de seguros sempre foi objeto de muita crítica tanto por parte das seguradoras como por parte dos segurados, na medida em que o engessamento das regras dificultava a criação de produtos novos e mais sofisticados, além da necessária compatibilização com produtos oferecidos globalmente, especialmente, quando se trata de grandes empresas sediadas no país, pertencentes a conglomerados econômicos com forte presença multinacional.
Felizmente, a SUSEP, atenta à nova realidade, segregou a regulamentação de seguros de danos em produtos massificados e produtos de grandes riscos. Desde 1º de abril de 2021, com a vigência da Resolução do
seguro, serão revogados com a vigência da Lei, assim como o inciso II do § 1º do art. 206, do mesmo diploma, além dos arts. 9º a 14 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados.
-66- Índice
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) nº 4073, foi chancelada a liberdade contratual para seguros de grandes riscos com amplitude de poder de negociação pelas partes (seguradora e segurado), mediante tratamento paritário com intervenção excepcional do regulador.
Referida norma, além de incentivar as partes a pactuarem e a definirem as suas próprias condições contratuais supre a necessidade de os produtos serem submetidos a registro na SUSEP. Nessa classificação, incluem-se apólices de qualquer ramo contratado por pessoas jurídicas, que apresentem, no momento da contratação e da renovação, pelo menos, uma das seguintes características: a) limite máximo de garantia superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais); b) ativo total superior a R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais), no exercício imediatamente anterior; ou c) faturamento bruto anual superior a R$ 57.000.000,00 (cinquenta e sete milhões de reais), no exercício imediatamente anterior. Também são entendidos como grandes riscos, seguros dos ramos de riscos de petróleo, riscos nomeados e operacionais, global de bancos, aeronáuticos, marítimos e nucleares, além de, na hipótese de o segurado ser pessoa jurídica, crédito interno e crédito à exportação.
Caso as referidas condições não sejam verificadas, o clausulado é tratado com maior ingerência por parte do regulador (mesmo assim com uma ingerência menor do que aquela adotada até a vigência das referidas regras), com a observância de algumas disposições mínimas aplicáveis a seguros de danos tido como massificados, regulamentados pela Circular SUSEP nº 621, em vigor desde 1º de março de 2021.
Embora haja essa classificação regulatória de seguros de grandes riscos sob a ótica da Resolução CNSP nº 407/2021, como a referida norma é de caráter facultativo, por evidente, existem seguros que não estão regidos sob essa normativa, mas que são considerados seguros de grandes riscos, seja pelo porte do segurado, que não tem as carac-
3 Vale notar que referida norma está sendo questionada judicialmente, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.074/DF ajuizada no dia 08 de fevereiro de 2022 pelo Partido dos Trabalhadores – PT, segundo o qual a Resolução extrapolaria a sua competência infralegal ao alterar a forma de interpretação dos contratos, entendimento esse que nos parece frágil do ponto de vista jurídico e prejudicial à almejada modernização no setor de (res)seguros em termos de novos produtos.
terísticas de uma pessoa hipossuficiente do ponto de vista técnico, jurídico ou econômico, seja do ponto de vista da natureza do próprio produto, para garantia de um grande projeto ou para garantia de riscos de maior complexidade.
Nesse sentido, os seguros de grandes riscos podem ou não estar regidos pela Resolução CNSP nº 407/2021 e, para aqueles produtos emitidos com base na faculdade da referida norma, há uma liberdade contratual maior em seus termos e condições, o que não significa que, para os produtos não regidos pela referida norma, não exista uma tolerância maior em termos de regramento.
Caso assim não o fosse, não existiriam produtos feitos sob medida para atender as mais diversas necessidades de coberturas, como ocorre com seguros garantia, por exemplo, e tantos outros de extrema relevância para o desenvolvimento do país.
O ponto central do presente artigo é analisar algumas disposições previstas na LCS, que impactam diretamente os seguros de grandes riscos, em menor grau, quando esses produtos não estão regidos pela Resolução CNSP nº 407/2021 e, em maior grau, quando regidos pela referida norma.
3. Liberdade Contratual
Uma das principais dúvidas trazidas pela LCS é quanto à liberdade contratual. Em alguns artigos, a LCS utiliza a expressão “modelo”.
Como exemplo, citamos o artigo 9º, §2º, segundo o qual: “Se houver divergência entre a garantia delimitada no contrato e a prevista no modelo de contrato ou nas notas técnicas e atuariais apresentados ao órgão fiscalizador competente, prevalecerá o texto mais favorável ao segurado”.
O artigo 48, §3º, por sua vez, dispõe:
Art. 48. O proponente deverá ser cientificado com antecedência sobre o conteúdo do contrato, obrigatoriamente redigido em língua portuguesa e inscrito em suporte duradouro, nos termos do § 1º do art. 42 desta Lei.
(...)
O contrato celebrado sem atender ao previsto no caput deste artigo, naquilo que não contrariar a proposta, será regido pelas condições contratuais previstas nos modelos que vierem a ser tempestivamente depositados pela seguradora no órgão fiscalizador de seguros, para o ramo e a modalidade de garantia constantes da proposta, prevalecendo, quando mencionado na proposta o número do processo administrativo, o clausulado correspondente cuja vigência abranja a época da contratação do seguro, ou o mais favorável ao segurado, caso haja diversos clausulados depositados para o mesmo ramo e modalidade de seguro e não exista menção específica a nenhum deles na proposta.
Portanto, entendemos que, a despeito de a LCS utilizar a expressão “modelo”, sugerindo a existência de clausulados padronizados ou submetidos ao regulador, a LCS não impede uma liberdade contratual maior para situações específicas e não veda a existência de seguros de grandes riscos com maior liberdade contratual.
Em outras palavras, no processo de regulamentação da LCS, entendemos que poderia ser publicada norma equivalente à atual Resolução CNSP nº 407/2021, observados os artigos da LCS, que tratam de pontos gerais, como agravamento de risco, foro, prescrição etc.
Na visão da Autora, o fato de a Lei prever para determinadas situações a existência de modelos de contratos não impede que existam seguros feitos sob medida, tais como existem hoje, desde que esses seguros cujo registro não precisaria ser submetido ao regulador, observem em seus termos os dispositivos da LCS, assim como esses seguros, no regramento atual, seguiam os dispositivos do Código Civil e demais leis aplicáveis. A liberdade concedida pelo regulador sempre observou e sempre deve observar os limites da legislação federal.
A diferença é que, com a LCS, essa liberdade fica mais restrita, pois existem mais dispositivos no âmbito federal a serem observados nesses produtos, um maior detalhamento de regras e prazos que antes não eram tratados pelo legislador, como ocorre, por exemplo, com regulação de sinistros e com outros pontos, que serão trazidos no decorrer do presente artigo.
4. Legislação Aplicável
Nos termos do artigo 4º, da LCS:
Art. 4º O contrato de seguro, em suas distintas modalidades, será regido por esta Lei.
§ 1º Sem prejuízo do disposto no art. 20 da Lei Complementar nº 126, de 15 de janeiro de 2007, aplica-se exclusivamente a lei brasileira:
I - aos contratos de seguro celebrados por seguradora autorizada a operar no Brasil;
II - quando o segurado ou o proponente tiver residência ou domicílio no País; ou
III - quando os bens sobre os quais recaírem os interesses garantidos se situarem no Brasil.
§ 2º O disposto nesta Lei aplica-se, no que couber, aos seguros regidos por leis próprias.
O artigo é claro, em seu parágrafo 2º, no sentido de que os seguros obrigatórios serão regidos, no que couber, pelas disposições da nova Lei, aplicando-se também às leis específicas que os regulam.
Logo, seguros de transportes, por exemplo, seguem regidos pelas leis específicas. Seguros garantia setor público seguem sendo regidos, naquilo que for cabível, pela Lei de Licitações. E todos esses regramentos deverão seguir de forma harmônica, a fim de que não haja incompatibilidade para que tais seguros, essenciais, para a economia do Brasil, possam seguir sua curva de crescimento.
Por outro lado, podem surgir dúvidas sobre conflitos de normas, como, por exemplo, com dispositivos da Lei Complementar 126/2007, que dispõe sobre a política de resseguro, retrocessão e sua intermediação, as operações de cosseguro, as contratações de seguro no exterior e as operações em moeda estrangeira do setor securitário. Ademais, outro ponto de dúvida legítima, que merece reflexão, é com
relação aos seguros contratados por investidores no exterior de grandes projetos no Brasil.
Por exemplo, a construção de uma ferrovia conta com seguros contratados localmente, mas pode ter investidores externos que contratam seguros de crédito legalmente no exterior, por estarem sediados no exterior com seguradoras estrangeiras. Nessas situações, intimamente ligadas a seguros de grandes riscos, aplica-se a LCS, por força do inciso III, do referido artigo 4º?
A resposta parece-nos negativa, na medida em que, embora possam existir seguros contratados no exterior para a garantia de riscos no Brasil, direta ou indiretamente, esses seguros devem ser regidos pela legislação de seu país de origem, sob pena de inviabilizar a contratação e gerar insegurança jurídica.
A doutrina ensina4:
Assim, as partes contratantes em simetria e paridade poderão decidir, em respeito à autonomia da vontade que as rege, sobre a aplicação da norma de direito estrangeiro, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. Essa interpretação é a que melhor coaduna o texto da lei de seguros com os dispositivos da Lei de Liberdade Econômica e à necessidade de que contratos de seguro dinamizem a economia nacional e a proteção aos riscos dos segurados.
Não se olvide, ainda, dos inúmeros seguros de grandes riscos contratados por empresas locais, porém, pertencentes a conglomerados multinacionais e, por isso, fazem parte de um programa global de seguros, com apólices contratadas no exterior por suas controladoras sediadas no exterior. Essas apólices globais, muitas vezes, contêm coberturas para garantias de riscos de suas subsidiárias, incluindo empresas brasileiras, ou seja, riscos garantidos no país.
4 CARLINI, Angelica. CARVALHAL, Glauce (coord.). Lei de Seguros Interpretada São Paulo: Editora Foco, 2025. p. 9.
Evidentemente, o objetivo da LCS não pode ser obstaculizar essas contratações, muito menos prever que esses seguros globalmente contratados para garantia de riscos no país sejam regidos pela legislação local em vez da legislação estrangeira, em que foram contratadas.
O mesmo se diga de apólices contratadas no exterior por empresas brasileiras para garantia de seus riscos no país, no caso de inexistência de oferta de capacidade no Brasil.
5. Coberturas e Exclusões
O contrato de seguro segue pautado na boa-fé, embora a expressão “estrita boa-fé” não esteja presente na nova lei5. A lei privilegia a confiança no segurado e estabelece que dúvidas na interpretação de documentos serão resolvidas a favor do segurado6.
O artigo 9º, caput, menciona que: “O contrato cobre os riscos relativos à espécie de seguro contratada”, e o § 1º, por sua vez, que: “os riscos e os interesses excluídos devem ser descritos de forma clara e inequívoca”.
O artigo 59, por sua vez, menciona que: “As cláusulas referentes a exclusão de riscos e prejuízos ou que impliquem limitação ou perda de direitos e garantias são de interpretação restritiva quanto à sua incidência e abrangência, cabendo à seguradora a prova do seu suporte fático”.
O segurado de grandes riscos não deve ser tratado como um segurado de massificados e, cabe ao julgador, no caso concreto, analisar as peculiaridades de cada situação em caso de litígio. A LCS traz um norte, uma regra geral, que deve ser observada por todos e, na medida do quanto aplicável e cabível, a todos os tipos de seguros, incluindo grandes riscos.
5 Art. 56. O contrato de seguro deve ser interpretado e executado segundo a boa-fé.
6 Art. 57. Se da interpretação de quaisquer documentos elaborados pela seguradora, tais como peças publicitárias, impressos, instrumentos contratuais ou pré-contratuais, resultarem dúvidas, contradições, obscuridades ou equivocidades, elas serão resolvidas no sentido mais favorável ao segurado, ao beneficiário ou ao terceiro prejudicado.
-72- Índice
Porém, o caráter protecionista trazido pelo legislador sem distinguir os seguros de grandes riscos dos demais, não autoriza situações fraudulentas ou interpretações favoráveis ao segurado em coberturas e exclusões quando o seguro foi negociado de forma igualitária. Nesse sentido, a doutrina leciona7:
Por essa razão, dois aspectos são relevantes: (i) que os proponentes de seguro forneçam dados cada vez mais detalhados e precisos sobre suas atividades empresariais, de forma que os clausulados de seguro possam contemplar toda a diversidade existente na atualidade; e (ii) que haja liberdade para que segurados e seguradores possam determinar as coberturas contratuais para os diferentes riscos, com o objetivo de contemplar a diversidade de situações existentes no ambiente produtivo e, principalmente, segmentar com maior qualidade técnica as necessidades de cada proponente. Nessa perspectiva, é recomendável que a interpretação do caput do artigo 9º da nova lei esteja em consonância com o disposto no parágrafo 2º, do artigo 1º, da Lei n. 13.874, de 2019, a Lei de Liberdade Econômica, que determina expressamente: §2º Interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas.
A boa-fé e o dever de colaboração do segurado para com a seguradora permanecem e, qualquer interpretação que eleve o segurado a um superpoder perante a seguradora pode gerar distorções irreversíveis na prática, principalmente, em seguros de grandes riscos.
6. Idioma
O artigo 48, §2º, dispõe que: “serão nulas as cláusulas redigidas em idioma estrangeiro ou que se limitem a referir-se a regras de uso internacional”, previsão que gera grande preocupação quanto à possibilidade
7 CARLINI, Angelica. CARVALHAL, Glauce (coord.). Lei de Seguros Interpretada São Paulo: Editora Foco, 2025. p. 18-19.
de inclusão de cláusulas de embargos e sanções, além de outras que façam referência à legislação estrangeira.
Muitas vezes, o segurado, por ser de um grande risco, precisa dessas cláusulas em seus produtos, seja para a compatibilização necessária com o seu programa global de seguros, seja para adequação de suas políticas globais de combate a fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Como se não bastasse, é comum, em seguros de grandes riscos, a menção às cláusulas do mercado ressegurador londrino em coberturas e exclusões, com referências a números de cláusulas largamente utilizadas em escala internacional, incluindo grandes segurados no Brasil, que há muitos anos, já são conhecedores de tais disposições.
Portanto, é necessário que a LCS conviva de forma harmônica a essas situações, sem que seja imposta uma vedação geral nos casos em que os seguros de grandes riscos demandem das próprias seguradoras ou concordem em ter em suas condições cláusulas em idioma estrangeiro ou que remetam a legislações estrangeiras, já que são profundos conhecedores da língua ou da própria legislação, em razão das características da estrutura societária a que pertencem.
7. Regulação e Liquidação de Sinistros
A LCS introduz, pela primeira vez, no âmbito do ordenamento jurídico legislativo federal, uma seção específica dedicada à regulação e à liquidação de sinistros, com mais de 20 (vinte) artigos abordando o tema.
A LCS mantém a ausência de um prazo máximo para a comunicação do sinistro, utilizando a expressão “prontamente” em vez de “tão logo saiba” do Código Civil. Esse aviso é crucial para fins de prescrição, pois a LCS altera o marco prescricional para a data da recusa pela seguradora. A demora na comunicação pode levar a pretensões imprescritíveis.
O legislador estabelece que a ausência de comunicação do sinistro, seja por dolo ou culpa, não se aplica quando o interessado provar que a seguradora tomou ciência do sinistro e das informações por outros meios. Isso é particularmente relevante para grandes sinistros e eventos públicos amplamente divulgados.
Ademais, a nova dinâmica imposta com relação aos processos de regulação e liquidação de sinistros tem impacto direto em seguros de grandes riscos. Entre esses pontos de maior impacto, destacam-se as seguintes previsões: (i) a regulação e a liquidação devem ser simultâneas, sempre que possível; (ii) em havendo dúvidas sobre critérios e fórmulas de cálculo, serão aplicados os mais favoráveis ao segurado; (iii) os relatórios e os documentos são comuns às partes, exceto os confidenciais; e (iv) os prazos envolvidos.
A regra geral prevista na LCS é a de que a seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para manifestar-se sobre a cobertura, sob pena de decair do direito de recusá-la, contado da data de apresentação da reclamação ou do aviso de sinistro pelo interessado, acompanhados de todos os elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura8 e a de que reconhecida a cobertura, a seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para pagar a indenização ou o capital estipulado9.
Esse prazo é excepcionado em seguros de maior complexidade, da seguinte forma: (i) a autoridade fiscalizadora poderá fixar prazo superior a 30 (trinta) dias para tipos de seguro em que a verificação da existência de cobertura implique maior complexidade na apuração, respeitado o limite máximo de 120 (cento e vinte) dias10; e (ii) a autoridade fiscalizadora poderá fixar prazo superior ao disposto a 30 (trinta) dias para tipos de seguro em que a liquidação dos valores devidos implique maior complexidade na apuração, respeitado o limite máximo de 120 (cento e vinte) dias11.
Esse é o único Capítulo da LCS em que há referência ao que mais se aproxima do conceito de grandes riscos. Optou o legislador por fazer referência a seguros de maior complexidade, sem mencionar que
8 Vide, caput, do artigo 86.
9 Vide, caput, do artigo 87.
10 Vide artigo 86, §5º.
11 Vide artigo 87, §5º.
esses seguros são seguros de grandes riscos. Portanto, é possível que um seguro que não seja de grandes riscos, pela sua complexidade, precise de prazos maiores para a regulação e liquidação de sinistros.
A reflexão proposta no presente artigo é se, para os seguros de grandes riscos, nos quais, naturalmente, há necessidade de um prazo maior para a regulação e liquidação, o limite de 120 (cento e vinte) dias é adequado. Entendemos que, em algumas situações, esse limite pode não ser adequado, sendo necessário um prazo maior, hipótese em que não poderiam ser aplicadas as penalidades previstas no artigo 8812, da LCS, e para garantir a harmonização e a colaboração entre as partes no processo de regulação de sinistro, o segurado poderia renunciar a esse prazo e à exequibilidade dessas penalidades durante a regulação, especialmente, nas situações em que ele não tem condições de atendimento dos prazos impostos pelo legislador.
A nova legislação sobre regulação e liquidação de sinistros deve gerar bastante judicialização e necessitará de ampla interpretação, especialmente em casos concretos de maior complexidade, que dependem inclusive da regulamentação da SUSEP.
A aplicação prática dessas disposições será um desafio e exigirá atenção contínua, para além da adaptação tanto em produtos como no próprio processo de regulação de sinistro.
8. Eficácia/Vigência
Nos termos do artigo 134, a LCS entrará em vigor após decorrido 1 (um) ano de sua publicação oficial e, à luz da regra prevista no artigo 5º, inciso XXXVI13, da CF, interpretada em consonância como disposto no
12 Art. 88. A mora da seguradora fará incidir multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, corrigido monetariamente, sem prejuízo dos juros legais e da responsabilidade por perdas e danos desde a data em que a indenização ou o capital segurado deveriam ter sido pagos, conforme disposto nos arts. 86 e 87 desta Lei.
13 XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
art. 6º14, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, aplica-se aos seguros firmados a partir de 11.12.2025. Para os seguros firmados anteriormente a essa data, aplicam-se as regras e Leis vigentes quando da sua contratação.
Apesar dessa regra geral de vigência e eficácia, é importante que as supervisionadas estejam atentas à adaptação da LCS e às regras nela contidas que podem ser consideradas de aplicação imediata.
Por exemplo, para um seguro contratado em novembro de 2025, portanto, sob a égide do Código Civil e não da LCS, mas com um sinistro ocorrido em 2026, pode ser discutida a incidência de algumas regras da LCS, entre elas, a possibilidade de compartilhamento do relatório de regulação de sinistro, quando não protegido por confidencialidade.
Isso porque, se os termos e condições da apólice contratada em novembro de 2025 nada dispuserem quanto a isso, pode haver discussão quanto à aplicação imediata da LCS ao sinistro em 2026 desse seguro, naquilo que não for incompatível com o Código Civil e com as cláusulas contratuais que regeram aquela contratação em novembro de 2025, sendo esse, mais um aspecto de necessária reflexão para os seguros de grandes riscos.
9. Outros Aspectos
Além dos aspectos detalhados nos itens anteriores, são inúmeros os dispositivos da LCS com impactos em seguros de grandes riscos e, até pela sua dimensão, o presente artigo não esgota o tema.
Para não deixar de mencionar, vale apontar, ainda, os seguintes: (i) as mudanças significativas no que diz respeito aos prazos de prescrição para o exercício da pretensão do segurado contra a seguradora; (ii) um regramento específico para resseguro no âmbito de uma lei de seguro; e (iii) a forte interferência na legislação processual e de arbitragem.
O prazo geral para o exercício da pretensão do segurado contra a seguradora continua sendo de 1 (um) ano. No entanto, a LCS altera
14 Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
o início da contagem desse prazo, que começa a fluir a partir da ciência da recepção da recusa expressa e motivada da seguradora. Nesse contexto, mais do que nunca, a comunicação imediata do sinistro à seguradora é crucial. A demora pode levar a pretensões imprescritíveis, criando dificuldades para o provisionamento e impactos nas reservas técnicas, o que geraria distorções, especialmente, em seguros de grandes riscos, em razão do seu elevado valor.
Certamente, a jurisprudência irá precisar enfrentar o tema para que as pretensões em seguros não se tornem imprescritíveis ou, ao menos, não superem o próprio prazo máximo de prescrição geral decenal previsto no Código Civil.
A mudança é relevante, pois embora a jurisprudência já caminhasse para considerar a data da recusa como marco inicial, existem julgados que seguem a data do sinistro como fato gerador, especialmente, quando a demora para comunicação por parte do segurado é superior a um ano.
Outro ponto de extrema atenção para grandes riscos é o resseguro, tratado na LCS, em cinco artigos. As disposições para o resseguro não diferenciam os tipos de resseguradores que operam no país (local, admitido e eventual), aplicando-se a todos eles.
A LCS estabelece que o contrato de resseguro será formado pelo silêncio da resseguradora no prazo de 20 (vinte) dias, contado da recepção da proposta. A SUSEP pode alargar esse prazo em caso de necessidade técnica, dinâmica que pode afastar o país das práticas internacionais, impactando principalmente seguros de grandes riscos que demandam resseguro para a pulverização do risco.
O processo de interpretação e de regulamentação da LCS em matéria de resseguro talvez seja ainda mais relevante do que em todos os demais pontos.
Finalmente, a LCS, embora seja uma lei de direito material, interfere significativamente na legislação processual civil e, também, na de arbitragem. A LCS estabelece que o foro competente para as ações de seguro é o do domicílio do segurado ou do beneficiário, salvo se eles optarem por qualquer domicílio da seguradora ou de seu agente. Além disso, a competência da justiça brasileira é absoluta para litígios relativos aos contratos de seguro sujeitos à LCS, sem prejuízo da resolução de conflitos por meios alternativos.
Os contratos de seguro podem prever a resolução de litígios por meios alternativos, incluindo a arbitragem, desde que pactuada mediante instrumento assinado pelas partes. A resolução deve ocorrer no Brasil e ser submetida às regras do direito brasileiro. A SUSEP disciplinará a divulgação obrigatória dos conflitos e decisões, sem identificar os particulares, ponto esse que deverá ser avaliado, até mesmo sob a ótica operacional.
Quanto à interferência na legislação de arbitragem, a LCS estabelece que seguradoras, resseguradoras e retrocessionárias respondem no foro de seu domicílio no Brasil para ações e arbitragens entre si que possam interferir na execução dos contratos de seguro, o que tem gerado críticas.
Todos esses pontos têm relevância para seguros de grandes riscos e merecem ser refletidos e discutidos com seriedade na busca pela interpretação mais adequada dos dispositivos, evitando retrocessos.
10. Conclusões
O processo de interpretação dos dispositivos da LCS para a sua correta aplicação ao longo do tempo é de fundamental relevância, especialmente, nos seguros de grandes riscos, de forma a não afastar as relações securitárias do ordenamento jurídico como um todo, o que dependerá não apenas da doutrina que será formada ao longo do tempo, como da jurisprudência.
A colaboração entre os operadores de direito será essencial para a melhor interpretação da LCS e para garantir que o setor de seguros e resseguros continue crescendo durante e após o processo de adaptação da LCS.
Finalmente, vale notar que a LCS prevê que a autoridade fiscalizadora poderá expedir atos normativos que não a contrariem, atuando para a proteção dos interesses dos segurados e de seus beneficiários e, com esse espírito, a Autora espera que o regulador seja sábio o suficiente no processo de regulamentação para propiciar a evolução dos seguros de grandes riscos, permitindo uma maior liberdade sempre que não houver incompatibilidade com a legislação federal, a exemplo dos pontos trazidos no presente artigo.
Os próximos anos serão de muita interação sobre o tema até que haja o amadurecimento da aplicação e a correta interpretação da LCS para que os seguros de grandes riscos continuem contribuindo para o desenvolvimento do país.
Bibliografia
CARLINI, Angelica. CARVALHAL, Glauce (coord.). Lei de Seguros Interpretada. São Paulo: Editora Foco, 2025.
Fontes Legislativas
BRASIL. Código Civil. http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/ leis/2002/L10406.htm
BRASIL. Código de Processo Civil. http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
BRASIL. LCS. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20232026/2024/lei/l15040.htm
Sítios eletrônicos
https://www.editoraroncarati.com.br
https://www.gov.br/susep/pt-br
https://tozzinifreire.com.br/site/conteudo/uploads/e-book-lei-do-contrato-de-seguro-677bdce32dcd2.pdf
O Dever de Declaração do Risco na Lei de Contrato de Seguro (Lei n°15.040/2024)
Carlos Harten1
Resumo: O presente artigo analisa a importância do dever pré-contratual de declaração do risco no contrato de seguro, conforme a Lei n° 15.040/2024. O dever de declaração é uma exigência legal para que o contratante e outros envolvidos forneçam à seguradora todas as informações que conhecem sobre o interesse e o risco a ser garantido. A seguradora utiliza essas informações para avaliar a natureza, a magnitude e a periculosidade do risco, bem como para decidir se ele é segurável, estabelecendo as condições de aceitação de cobertura, incluindo o valor do prêmio. O texto discute como o questionário de avaliação de risco, adotado pela nova lei, é o principal meio para o segurado cumprir essa obrigação. Essa abordagem substitui o modelo de declaração espontânea, que era considerado problemático. O artigo também diferencia o tratamento dado aos contratos massificados e aos de grandes riscos, onde a complexidade do risco exige maior colaboração e transparência do proponente no cumprimento do dever. Além disso, detalha as consequências do descumprimento do dever. Para casos de dolo, a lei prevê a perda da garantia. Já para a falta culposa, a sanção é a redução proporcional da indenização, o que reequilibra o contrato e promove a pacificação de conflitos. A violação dolosa ou a aceitação de risco tecnicamente impossível ou não subscrito pela seguradora, por sua vez, pode levar à extinção do contrato. O artigo conclui que a nova lei busca aumentar a segurança jurídica dos contratos de seguro.
Abstract: This article analyzes the importance of the pre-contractual duty to disclose risk in insurance contracts, as established by Law No. 15.040/2024. The duty to disclose is a legal requirement for the contracting party and other involved parties to provide the insurer with all known information about the interest and the risk to be guaranteed. The insurer uses this information to assess the nature, magnitude, and dangerousness of the risk, to decide if it is insurable, and to establish the conditions for accepting coverage, including the premium value.
The text discusses how the risk assessment questionnaire, adopted by the new law, is the main means for the insured to fulfill this obligation. This approach replaces the spontaneous declaration model, which was considered
1 Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Diploma de Estudios Avanzados – DEA, obtido na Universidade de Salamanca. Formação executiva na Harvard Law Scholl/EUA e INSEAD/França. Advogado.
problematic. The article also differentiates the treatment given to mass-market and large-risk contracts. In the latter, the complexity of the risk requires greater collaboration and transparency from the proposer in fulfilling the duty to disclose. Furthermore, it details the consequences of non-compliance with this duty. For cases of willful misconduct (“dolo”), the law provides for the loss of the guarantee. For culpable negligence, the sanction is a proportional reduction of the indemnity, which rebalances the contract and promotes conflict resolution. Intentional violation or the acceptance of a technically impossible risk, or one not normally underwritten by the insurer, can lead to the termination of the contract. The article concludes that the new law aims to stabilize jurisprudential divergences on the topic and increase the legal certainty of insurance contracts.
Palavras-chave: risco; seguro; dever de declaração; agravamento de risco; lei do contrato de seguro.
Keywords: risk; insurance; duty to disclosure; risk aggravation; insurance contract law.
Sumário: 1. O Dever de Declaração do Risco; 2. O Questionário de Avaliação de Risco; 3.Conclusões.
1. O Dever de Declaração do Risco
O dever de declaração de risco, que recai sobre o contratante e os intervenientes2 do contrato de seguro (art. 45 da LCS), consiste na exigência de que sejam fornecidas à seguradora todas as informações por eles conhecidas sobre o interesse e o risco para o qual pretendem obter garantia. É a apresentação do estado de risco3 à seguradora, para que esta possa “estimar sua natureza, magnitude, periculosidade, se
2 Art. 37. Os intervenientes são obrigados a agir com lealdade e boa-fé e prestar informações completas e verídicas sobre todas as questões envolvendo a formação e a execução do contrato.Leonardo Cocentino, em completa e atual obra sobre este tema, detalha os possíveis atores que participam na formação do contrato e suas influências no cumprimento do dever de declaração (COCENTINO, Leonardo Montenegro. O risco na formação e execução do contrato de seguro: declaração pré-contratual, agravamento e redução de risco. São Paulo: Ed. Roncarati, 2024. p.204)
3 MORANDI, Juan Carlos Félix. Estudios de Derecho de Seguros. Buenos Aires: Pannedille, 1971, p. 217.
for um risco assegurável ou não e, em caso afirmativo, estabelecer as condições para a sua aceitação”4.
O conteúdo da declaração pré-contratual do risco consiste nas informações e circunstâncias que, ao menos potencialmente, podem ser relevantes para a tomada de decisão do segurador. Especificamente, “as informações necessárias à aceitação da proposta e à fixação da taxa para cálculo do valor do prêmio (...)” (art. 44 da LCS). São informações particulares do proponente de seguros, seus aspectos subjetivos, seu interesse e as circunstâncias do bem ao qual o seguro se relaciona, e são desconhecidas da seguradora, mas necessárias para que ela avalie a sua participação no negócio. A necessidade de receber informações impõe à outra parte o correlativo dever de informar. Em outras palavras, “um dever de informar deriva de uma necessidade: há um déficit de informação, uma pessoa possui a informação e a outra a necessita”5.
Por outro lado, a seguradora, como especialista de sua indústria, já possui conhecimento de informações gerais sobre os tipos de riscos comumente expostos a determinados interesses, como: o histórico de índices pluviométricos de determinada região em que será plantada a lavoura para a qual é proposto seguro agrícola; e fatos notórios (art. 374, I do CPC), presumidamente de domínio público, a exemplo da nocividade de determinado produto para a saúde humana ou animal.
Adiante trataremos com maior detalhamento, mas, ao nosso ver, a extensão das informações que devem ser detalhadas pelo proponente irá variar conforme o questionário enviado pela seguradora ao segurado na fase pré-contratual, assim como também depende se o contrato é massificado, usualmente de consumo, ou de grandes riscos (Resolução CNSP n 407/2021).
4 MORANDI, Juan Carlos Félix. Estudios de Derecho de Seguros. Buenos Aires: Pannedille, 1971, p.218; STIGLITZ, Rubén S. Derecho de Seguros. Tomo I. Buenos Aires: Abedelo-Perrot, 2001. p.191, ensina: “A descrição do estado de risco constitui uma atividade informativa na etapa pré-contratual e útil à seguradora em ponto à apreciação de sua entidade, de suas probabilidades de verificação, para dispor por antecipado as obrigações eventuais e, entre elas, a fixação do prêmio, etc., e que lhe permitem decidir a aceitação ou a rejeição do mesmo” (tradução nossa).
5 FABIAN, Christoph. O dever de informar no direito civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002, p. 39.
Essa etapa de cumprimento do dever pré-contratual de declaração do risco permite à seguradora individualizar o risco que recai sobre determinado interesse, para que possa agrupá-lo homogeneamente dentro da massa de segurados, a qual forma uma espécie de fundo comum apto a cobrir os prejuízos que possam advir aos interesses individuais. Afinal “os riscos se classificam por grupos homogêneos, fato que facilita o cálculo do prêmio em razão de que a estatística fornece o grau de probabilidade de sinistros em função de cada grupo de riscos e todo isso pressupõe homogeneidade de tarifas”6
Uma vez individualizado e delimitado o risco que deve ser assumido, a seguradora consegue medir, atuarialmente o custo da sua prestação e calcular o valor do respectivo prêmio. Os prêmios são pagos proporcionalmente à gravidade do risco que o segurado leva à comunidade, obtido por meio de cálculos atuariais e pactuados na apólice. O equilíbrio do contrato de seguro depende da equitativa relação entre o risco individualizado, delimitado e assumido, em contraprestação ao prêmio recebido. A assunção de obrigação maior do que a contribuição do prêmio rompe este equilíbrio. A regra examinada visa proteger a base econômica do contrato de seguro e a estabilidade do fundo mutual.
O dever de declaração do risco, que foge do ordinário procedimento de que os indivíduos procurem, por si mesmos, antes de contratar, informações especiais do negócio que vai realizar-se, é consequência do princípio da lealdade e boa-fé (art. 37 da LCS)7, os quais impõem
6 HARTEN, Carlos. El deber de declaración del riesgo en el Contrato de Seguro. Salamanca: Ratio Legis Libréria Jurídica, 2007, p.37
7 No mesmo sentido: MUÑOZ, Miguel Ruiz. Dever de declaração de risco do tomador no contrato de seguro e faculdade rescisória da seguradora. Revista Española de Seguros, n°65, 1991, pág. 14; CALERO, F. Sánchez. Ley de Contrato de Seguro. Pamplona: Editora Aranzadi, 1999, p. 193, seguido pela Jurisprudência Espanhola (SSTS 8 de fevereiro de 1989 (civil). Arz. 1989/761); GREENE, Mark R. Riesgo y seguro (traducción Hernán Troncoso Rojas). Madrid: Editorial Mapfre, 1976,p. 259; STEINDORFF, M. E. Certains aspects de la déclaration du risque et de ses conséquences» en Droit Comparé. L’Harmonisation du Droit du contrat d’Assurance Dans La C.E.E., colloque organisé par la Licence de Droit et Economie des Assurances sous les auspices de la C.E.E, Bruxelles: Universite Catholique de Louvain, 1980, p. 210; COMPARATO, Fábio Konder. Seguro de Crédito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968,p. 116; TARR, Anthony A. TARR, Julie-Anne, The insured’s non-discousure in
-84- Índice
a colaboração das partes, e conforma-se com o racional de eficiência prática e econômica do negócio.
A proximidade do contratante da garantia ao interesse legítimo do segurado contra eventual sinistro, determina que seja ele quem leve à seguradora os dados e informações sobre as circunstâncias necessárias para a avaliação do risco. A isso se soma o fato de que o contrato de seguro, como exemplo típico de contratação de adesão, não permite usualmente à seguradora examinar de forma exauriente todos os pormenores dos estados dos riscos sobre os que recebe proposta para garantir.
Não interessa à rapidez do tráfico comercial que a contratação dependa de intermináveis processos de exames, análises, perícias e eventuais exigências complementares de informações que, além de deixar o interesse segurado exposto sozinho ao risco durante o período de investigação, criam barreiras que dificultam o desenvolvimento do contrato e, com isso, a socialização dos riscos.
A realização, por parte da seguradora, de todas as diligências necessárias para detectar ou confirmar o estado de risco, sobretudo em seguros massificados, não se justifica cisto que ocasionaria custos elevados8, o que converteria o contrato de seguro num produto de difícil aquisição pelo seu alto preço. Ao lado disso, é inerente ao homem a fuga dos negócios que implicam uma burocracia exagerada. Devido a assimetria de informações entre o proponente do seguro e a seguradora, que se caracteriza pelo futuro segurado reter as informações e circunstâncias que envolvem o risco que deseja segurar, e a seguradora deter a técnica atuarial aplicada aos cálculos que levarão a fixação do prêmio a ser cobrado, o dever de lealdade e boa-fé, de ambas as par-
the Formation of insurance contracts: a Comparative Perspective. Oxford: International and comparative Law Quartely, vol. 50, part 3, july 2002, p.pág. 579. LOWRY, John. RAWLINGS, PHILIP. Insurance Law: Doctrines and principles. Oxford and Portland: Hart Publising, 1999, p. 75, que indicam, ainda, outros fundamentos encontrados pela jurisprudência inglesa: “The argument is pivoted upon wheter the duty arises from some implied term of the contract, or is rooted in a fiduciary relationship of the parties, or whether it is based in some tortuous duty”.
8 Neste sentido, HALPERIN, Issac. Exposición crítica de la ley 17.413. Buenos Aires: Depalma, 1972, p.. 148; e TARR, Julie-Anne, The insured’s non-disclosure in the Formation of insurance contracts: a Comparative Perspective. Oxford: International and comparative Law Quartely, vol. 50, part 3, july 2002, p. 577.
tes, é essencial para a devida formação do contrato. Além de que há informações que, mesmo com investigação, não podem ser acessadas pelas seguradoras, sem a participação do proponente, seja por serem de conhecimento exclusivo deste9, seja por estarem protegidas pelo direito constitucional à intimidade e pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n°13.709/2018).
Os deveres de boa-fé e cooperação das partes, tanto na fase pré-contratual, quanto contratual, autorizam que a seguradora confie nas informações recebidas do proponente para manifestação de seu consentimento10, motivo pelo que se recusa a existência de um dever da seguradora de confrontar, na fase pré-contratual, a sinceridade das declarações recebida do segurado11. Contudo, especialmente examinando conflitos em contratos de seguro de vida, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) criou sólido entendimento de que, salvo em caso de evidente má-fé do proponente, a seguradora não poderá negar cobertura por ter o proponente ocultado ser portador de doenças preexistentes, caso não tenha realizado exames médicos na fase de contratação12.
Em outros termos, e em última medida, a jurisprudência do STJ exonera o dever de boa-fé do proponente, ou presume que este pode atuar com engodo e impõe que a seguradora desconfie do que lhe é declarado, transformando um contrato de fidelidade em um negócio de astutos.
9 Neste sentido: SALANDRA, Vittorio. Le dichiarazioni dell’assicurato secondo il nuovo codice. Assicurazioni, 1942, parte I, p. 3.
10 FABIAN, Christoph. O dever de informar no direito civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002, p.158, bem resume o ponto esquecido pelo acórdão indicado: “A boa-fé, e também a boa-fé da contraparte, é presumida. A parte contratual pode confiar na contraparte. A confiança é um elemento essencial para o funcionamento do tráfego jurídico e, finalmente, da sociedade”.
11Conforme: MAYAUX, Luc. L’ignorance du risque. Colloque du 11 décembre 1998 organisé à Paris par l’Association Internationale du Droit de l’Assurance-groupe Français. Revue Genérale du Droit des Assurances, n° 3, 1999, p. 742.
12 Súmula 609/STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
-86- Índice
Embora, ao contrário do que parece crer o referido entendimento, a seguradora pode esperar a fidelidade do proponente, mas isso não a impede de investigar as circunstâncias de risco de forma supletiva às declarações do segurado ou com a finalidade de confirmá-las (art.49, §3º da LCS). Contudo, a apuração complementar, mesmo com inspeção13 prévia do local do risco ou do bem sobre o qual recai o interesse a ser segurado, não exonera o segurado de seu dever de declarar o risco14.
É esta, inclusive, a ratio do art. 93, § 2º da LCS15, ao estabelecer que a simples inspeção prévia não autoriza a presunção de conhecimento de vícios, menos ainda de inverdades ou reticências do proponente. Do contrário, seria opor em desfavor do segurador uma medida que toma justamente em proteção à mutualidade. A vistoria, desta maneira, é acessória e complementar à declaração pré-contratual do estado de risco pelo proponente, não substituta desta.
Entretanto, havendo evidente demonstração de que a seguradora conheceu, na fase pré-contratual, a divergência entre o risco declarado e aquele real, é possível considerar que ela emitiu seu consentimento com base no risco real apurado, superando eventual omissão ou imprecisão cometidas pelo proponente.
Em outro ponto, é inegável que as evoluções tecnológicas, a sofisticação das análises e uso intensivo de dados, aliados à crescente inovação do mercado segurador, com o desenvolvimento de novos produtos e
13 Com o objetivo de, por exemplo, apurar o real valor em risco; medidas de contenção destes riscos e de manutenção preventiva de máquinas e equipamentos; política de gerenciamento de risco; etc.
14 GARRIGUES, Joaquín. Contrato de Seguro Terrestre, 2ª. Edición. Madrid: Aguirre, 1982, p. 508-509; MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo XXV. Rio de Janeiro: Borsoi, 1964. p. 325; MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil, direito das obrigações, 31ª edição. Vol.5. São Paulo: Saraiva, 2001. p..334, destaca “Tal obrigação existe ainda que a seguradora costume proceder investigações preliminares antes de aceitar o seguro”.
15 Art. 93. Não se presume na garantia do seguro a obrigação de indenizar o vício não aparente e não declarado no momento da contratação do seguro, nem seus efeitos exclusivos.
(..)§ 2º A simples inspeção prévia pela seguradora de riscos relacionados com atividades empresariais não autoriza a presunção de conhecimento do vício.
canais de distribuição, alcançando novos nichos, têm influenciado no aumento da profundidade do conhecimento estatístico da frequência e severidade de determinados riscos pelo mercado. A adoção de ferramentas de inteligência artificial (IA), por exemplo, possibilita uma análise mais precisa e rápida dos riscos, melhorando a precificação e a oferta de produtos, embora também algum modelo possa produzir danos, como a discriminamação algoritmica. Este aprofundamento tem diminuído a assimetria informacional entre o proponente de seguros e a seguradora, com evidente reflexo na extensão do conteúdo do dever de declaração do risco pelo proponente, em virtude da diminuição ou até eliminação da dependência das informações que este revele. Em que pese esta constatação possa eventualmente vir a afetar a extensão da conduta exigida do proponente, não nos parece suficiente para exonerá-lo do dever de cooperar com o segurador, relevando as informações que possam afetar a vontade deste, conforme questionários que submeta ao proponente.
2. O Questionário de Avaliação de Risco
O art. 766 do CCB prevê o sistema de declaração espontânea do risco – “se o segurado, por si ou pelo seu representante, fizer declarações inexatas (...)”, dando costas à realidade do mercado onde, por regra, as informações pré-contratuais prestadas pelo proponente se dão na forma de resposta a um questionário previamente confeccionado para seguradora, a qual indica as informações que, ao seu juízo, considera importantes para mensurar o risco e emitir consentimento.
Mesmo apoiado pelo corretor de seguros, técnico especializado, o homem médio tem escassa capacidade de discernir todos os fatos que podem influenciar na probabilidade de ocorrência de um sinistro, razão pela qual a declaração espontânea relega o proponente à sua sorte, impondo-o a comunicar à seguradora todas as circunstâncias que ele acredita que sejam influentes para aferição do risco, podendo incluir algumas inócuas e deixar de fora outras relevantes.
O questionário de seguros foi adotado pela prática seguradora justamente com o objetivo de facilitar o cumprimento do dever de declaração do risco pelo contratante e, com isso, acelerar e facilitar a própria negociação do seguro – com a redução de custos e aumento da velocidade da contratação16-, além de claramente colaborar para que
16 CAVALIERI FILHO, Sergio. As declarações do proponente no seguro de vida
haja uma maior fidelidade entre o risco declarado e o real. A seguradora, como especialista, é quem está em melhor situação, conforme sua própria experiência, para indicar as circunstâncias do risco que podem influenciar na aceitação da proposta.
O art. 44 da LCS adota este modelo, ao prever que o proponente é “obrigado a fornecer as informações necessárias à aceitação da proposta e à fixação da taxa para cálculo do valor do prêmio, de acordo com o questionário que lhe submeta a seguradora.” Também, o art. 45 da LCS dispõe que “as partes e os terceiros intervenientes no contrato, ao responderem ao questionário, devem informar tudo de relevante que souberem”, reafirmando que são as respostas ao questionário o meio para comunicar à seguradora as circunstâncias particulares do risco objeto da proposta.
O questionário delimita a extensão do dever de declaração do risco17. De um lado, espera-se atenção e cuidado do proponente em informar adequadamente tudo que lhe é indagado. O art. 45 da LCS prevê que os proponentes e intervenientes “devem informar tudo de relevante que souberem ou que deveriam saber a respeito do interesse e do risco a serem garantidos, de acordo com as regras ordinárias de conhecimento”. Com isso, devem comunicar não só o que têm pleno conhecimento, mas também atuar com diligência para obter informações adequadas e atuais do que lhe for questionado. A norma impõe que o proponente se informe para poder compartilhar, além de exigir uma conduta ativa e cooperativa. Como consequência, elimina-se o difícil exame subjetivo de conseguir apurar o que determinado proponente conhece, substituindo-o pelo exame objetivo do que “deveria saber”, de acordo com “as regras ordinárias de conhecimento”. Dizendo de outra forma, o que objetivamente o homem médio saberia, com ordinário esforço para conhecer. em grupo. In. Seminário sobre contratos de Seguro, o seguro esse desconhecido. Rio de Janeiro: Centro de Debates e Estudos–Cedes. Tribunal de Alçada Cível do Estado do Rio de Janeiro, 1994, p.42, é da mesma opinião: “Este procedimento beneficia a seguradora, porque torna bem rápida a contratação, evitando aquele moroso processo de exames médicos, como também o segurado, reduzindo os custos do seguro e possibilitando a massificação de sua cobertura.”
17 CALERO, Fernando Sánchez. Ley de Contrato de Seguro. Pamplona: Editora Aranzadi, 1999, p.ág. 200.
Se os proponentes e intervenientes deixam de informar uma circunstância relevante para a aferição do risco, ou fazem declarações inverídicas, sem esta consciência, incorrendo em falhas no cumprimento do dever que poderiam ser corrigidas caso atuassem com ordinária diligência, sujeitar-se-ão aos efeitos da sua falta informativa, a serem tratados no tópico seguinte.
Por outro lado, a seguradora prudente deve incluir no questionário perguntas de todas as circunstâncias que, segundo sua experiência, influam na valoração do risco para conseguir o equilíbrio entre a sua prestação de garantia e o prêmio auferido. O questionário, para cumprir adequadamente o fim a que se propõe, deve estar redigido de forma clara, de simples compreensão do que se pretende conhecer, além de abordar circunstâncias precisas.
Embora sem previsão expressa na LCS, há amplo entendimento doutrinário com a compreensão de que as questões apresentadas ao proponente de seguro presumem-se relevantes para a apreciação do risco e, com ela, a aceitação ou não do contrato. Assim, em caso de posterior revelação de que as respostas eram inverídicas ou omissas, caso haja impugnação de sua capacidade para influir na aceitação do segurador, o segurado terá o ônus de contestar e provar a não ocorrência deste fato.
Não parece haver, contudo, concordância doutrinária sobre a necessidade ou não de o proponente informar questões que não foram objeto de questionamento expresso pela seguradora18. Revendo parcialmente
18 Com entendimento pela exoneração do proponente: COCENTINO, Leonardo Montenegro. O risco na formação e execução do contrato de seguro: declaração pré-contratual, agravamento e redução de risco. São Paulo: Ed. Roncarati, 2024, p. 221; CALERO, Fernando Sánchez. Ley de Contrato de Seguro. Pamplona: Editora Aranzadi, 1999, p. 200; BRUNETTI, Antonio. Derecho Marítimo Privado. Versión Española anotada por MONTELLÁ, R. Gay de. Barcelona: Editora Bosch, 1951, p. 424; CELADA, Domingo de la Rivas A. De. El deber de declaración exacta y sus consecuencias jurídicas. Revista Española de Seguros n°8. Madrid, 1976, p. 275; LAMBERT-FAIVRE, Ivonne. Droit des Assurances. 8ª. Édition. Paris: Dalloz, 1992, p.210; VASQUES, José. Contrato de Seguro. Coimbra: Coimbra editora, 1999, p.220; LOSADA, Fernando Calbacho, JIMÉNEZ, Lupi- cinio, RODRÍGUEZ, Urruticoechea. “El deber de declaración del riesgo en ley de contrato de seguro”, Revista de Derecho Mercantil, 1987, p..141, quem afirmam que diante da má-fé do segurado de omitir a questão, cairia à negligência da seguradora de incluir a pergunta no questionário; CHINER, Nuria Latorre. Deber de declara-
-90- Índice
posicionamento exposto em trabalho anterior19, nos parece que a solução depende da espécie contratual que se examine. Em se tratando de contratos massificados, usualmente de consumo, com proponentes tecnicamente vulneráveis, em que a fase pré-contratual de apreciação do risco é simplificada e abreviada, já possuindo as seguradoras amplo conhecimento da sinistralidade das espécies de risco que usualmente segura, o proponente cria a legítima expectativa de que a empresa seguradora, especialista de seu negócio, confeccionará o questionário com todas as informações suficientes de que necessita conhecer para avaliar a aceitação ou não do risco. Assim, não há como exigir do contratante diligência excepcional - além de preencher com zelo e precisão o questionário que lhe foi ofertado - ou a apresentação de informações adicionais. Essa é, inclusive, a usual conduta das seguradoras.
Não se tem notícia de impugnações ao cumprimento do dever de declaração do risco com fundamento em circunstâncias que não foram objeto de expresso questionamento.
Por outro lado, em se tratando de contratos de grandes riscos (Resolução CNSP n 407/21), onde a fase pré-contratual é mais detalhada, composta não apenas de preenchimento de questionário de avaliação de risco, mas, também, de compartilhamento de documentos; pedidos e apresentação de esclarecimentos (art.49, §2º da LCS); avaliações; inspeção; perícias etc., a solução nos parece diversa. Nestes casos, embora o segurador tenha experiência nas atividades empresariais para as quais oferta garantia (ex. petróleo, marítimo, crédito à exportação, grandes obras, etc.), a complexidade e diversidade dos empreendimentos, produzem uma acentuada assimetria de informações e impedem a elaboração de questionários amplos e eficientes, que atendam de forma padronizada a necessidade de conhecimento dos riscos dos diferentes proponentes e suas formas de empreender. Assim, o dever de colaboração e transparência do contratante é amplificado, devendo o proponente informar detalhadamente as circunstâncias particulares do seu risco para o qual propõe cobertura, não apenas no interesse ción del riesgo. In. Comentarios a la ley de contrato de seguro, J. Boquera Matarredona – J. Bataller Grau – J. Olavaria Iglesia (coords.). Valencia: Tirant lo Blanch, 2002, p.167, destaca que não haveria a exoneração do tomador de má-fé.
19 HARTEN, Carlos. El deber de declaración del riesgo en el Contrato de Seguro. Salamanca: Ratio Legis Libréria Jurídica, 2007, p.87/88.
do parceiro contratual, mas no próprio, justamente para afastar que a revelação extemporânea de fato relevante para a classificação do risco possa causar prejuízo ao seu direito de receber indenização securitária, caso venha a sofrer sinistro. Afinal, o proponente de grandes riscos conhece, ou ao menos deveria conhecer, seu negócio como nenhum outro. Age legalmente e de boa-fé aquele que não atua passivamente, se limitando a responder ao questionado, mas, sim, detalha todos os fatos e circunstâncias de sua atividade empresarial que podem lesionar o interesse para o qual pretende obter garantia. Por isso, ao avaliar a conduta do segurado, uma vez encontrada divergência entre o risco declarado e aquele apurado, a imputação de ineficiência do questionário apresentado pela seguradora cede perante a má-fé do segurado em se omitir a revelar todos os fatos conhecidos que poderiam influir no consentimento da seguradora.
3. O Descumprimento do Dever de Declaração do Risco
A falsidade da declaração será constatada quando esta contenha fatos não congruentes com a realidade conhecida do contratante. A declaração é reticente quando se omite ou não se declara integralmente alguma circunstância influente na aceitação do risco20. Tanto a informação reticente, como a emitida com falsidade, descrevem risco sem correspondência com a realidade. Nos dois casos, as prestações contratuais estão desequilibradas, por isso recebem o mesmo tratamento legal21. Há casos, contudo, em que a declaração prestada não é fiel à realidade, sem que isso se constitua uma infração ao dever de declaração do risco.
Isso porque só é relevante a representação faltosa que influa na taxa do prêmio ou na aceitação da proposta seguradora. Também não configura violação do dever de declaração de risco a informação prestada 20 Menezes Cordeiro dispõe que reticência designa “o não cumprimento do dever de declaração inicial do risco ou o seu cumprimento imperfeito” (CORDEIRO, Antônio Menezes. Direito dos seguros. Lisboa: Almeida, 2013. p. 581).
21MORANDI, Juan Carlos Félix. Estudios de derecho de seguros. Buenos Aires: Pannedille, 1971, p.375. citando BRUCK e DONATI, afirma que a diferença entre uma declaração omissa e uma falsa, tem uma importância relativa, “porque uma declaração pode ser interpretada como falsa ou bem como reticente e suas consequências não variam”.
de forma divergente porque desconhecida do proponente sem que sua ignorância decorra de efetiva negligência. Neste exemplo, não obstante efetivamente exista una divergência entre o risco real e o segurado, não há violação do dever de declaração do risco.
Configurado o vício da declaração, deverá ser examinado o ambiente no qual se produziu, com o objetivo de qualificar a violação conforme a conduta do segurado. As sanções por violação do dever de declaração variam segundo o grau de reproche do comportamento do tomador de seguros.
No regime do CCB, a conduta é aferida conforme resulte ou não de má-fé (art. 766). A boa-fé, especialmente em sua vertente objetiva, prescreve um modelo de comportamento, um standard, que deve ser seguido – e esperado - pelos contratantes. Quem age fora dele, e apresenta déficit de cuidado, sujeitará sua conduta às sanções legais.
A LCS, por sua vez, diferencia as consequências da infração conforme o proponente ou intermediários atuem com culpa ou dolo, os quais têm maior carga subjetiva, avaliando a intencionalidade da conduta do agente. Embora nem sempre no caso concreto seja fácil a distinção, age com culpa quem, por falta de cuidado, presta informação errônea e com dolo aquele que deliberadamente apresenta falsa representação, com intenção ou aceitando o efeito de enganar, o que pode ser demonstrado por provas diretas, indiciárias ou por presunção.
Conforme o art.44 § 1º da LCS, “o descumprimento doloso do dever de informar (...) importará em perda da garantia, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora.” De início, a jurisprudência do STJ22 tem caminhado para consolidar o tratamento do dolo e culpa grave como equivalentes.
Na declaração dolosa ou com culpa grave, o proponente de seguro age intencionalmente para informar um estado do risco divergente do real, contaminando a vontade da seguradora na aceitação do contrato.
22 “O agravamento intencional de que trata o art. 768 do Código Civil envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo)” (AgInt no AREsp 1.039.613/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020)
Para a norma, não importa o objetivo de sua falsidade, embora usualmente seja para obter a própria garantia, a qual poderia ser recusada, ou para a cobrança de prêmios menos onerosos. Basta a declaração intencionalmente inverídica ou omissiva. No dolo, por sua vez, há uma expressiva reprovação da conduta do segurado, de interesse público que este não obtenha sucesso em seu intento. A importante função social e econômica do contrato de seguro não tolera condutas maliciosas, como aquelas que respondem negativamente a existência de conhecidas doenças graves ou acidentes sofridos23. Havendo violação dolosa, perde o segurado o direito à respectiva garantia.
O princípio da conservação dos contratos (art. 170 do CCB e art.51, §2º, do CDC) impõe, contudo, esforço para preservar, sempre que possível, sua utilidade e que possa alcançar a finalidade de sua pactuação, mesmo diante de defeitos na fase de formação. Por isso, quando o contrato de seguro garantir diferentes interesses e riscos, a nulidade ou ineficácia de apenas uma garantia não alcançará as demais, mantendo-se hígido o que para elas se contratou (art. 9, §3º da LCS). Eventual caso de fraude tarifária pode servir de exemplo: tendo o segurado de apólice residencial declarado ter alarmes como medida de contenção contra o risco de roubo, os quais posteriormente, se revelam inexistentes, eventualmente não perderia a garantia para o sinistro de incêndio, causado por explosão de botijão de gás24. Assim, os efeitos da falta informativa estariam contidos para a específica garantia que ela influenciou.
Destaque-se, contudo, que esta conclusão não deriva da ausência de nexo causal entre a informação falseada e o sinistro ocorrido. Ainda que o STJ tenha sólido entendimento de que a perda do direito à inde-
23 “O acórdão estadual, com base no acervo fático-probatório, demonstrou nos autos que o segurado silenciou-se a respeito da visão monocular e da sua profissão, sendo evidente, desse modo, a má-fé quando da assinatura do contrato de seguro de vida.” (AgInt no REsp n. 2.097.220/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024.)
24 “É conveniente adiantar que nos dois casos se o seguro se refere a várias pessoas, várias coisas ou vários riscos, o contrato será válido para aquelas pessoas, coisas ou riscos a quem não se refere a declaração errônea ou reticente”. (DONATI, Antigo. Il contrato di assicurazione nelle legislazione dei paesi del M.E.C. Roma: Instituto di Diritto delle Assicurazioni del’Università di Roma, 1963, p. 260).
-94- Índice
nização securitária depende deste vínculo causal25, nem o CCB, nem a LCS, exigem este liame. Ao contrário, o segurado que descumprir o dever de declaração do risco sujeita-se aos efeitos de sua falta, mesmo na hipótese de sequer ocorrer sinistro, vez que desde a formação do contrato há um desequilíbrio entre o prêmio pago e aquele devido para o risco real, conforme ampla doutrina especializada26. Não fosse assim, considerando que, de toda a massa de segurados, apenas uma pequena fração sofrerá sinistro durante a vigência do contrato, os demais violadores, restariam exonerados e a não aplicação de qualquer sanção “serviria de estímulo à prática desse tipo de comportamento desleal pelo segurado ou pelo tomador do seguro” (vide REsp nº 1.340.100/ GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 8/9/2014)27.
Por outro lado, ainda no tocante ao exemplo acima, caso a informação dolosamente falseada levasse a seguradora a recusar a contratação (art. 44,§3º da LCS), não nos parece haver dúvidas de que o segurado não apenas perde o direito à garantia, como o contrato se resolverá de pleno direito, retendo a seguradora o direito ao prêmio vencido e a
25 “Ademais, as informações omitidas ou prestadas em desacordo com a realidade dos fatos devem guardar relação com a causa do sinistro, ou seja, deverão estar ligadas ao agravamento concreto do risco (Enunciado nº 585 da VII Jornada de Direito Civil).”(REsp n. 1.601.555/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 20/2/2017.)
26 Conforme: BRUNETTI, Antonio. Derecho Marítimo Privado. Versión Española anotada por MONTELLÁ, R. Gay de. Barcelona: Editora Bosch, 1951, p. 411; CELADA, Domingo de la Rivas A. De. El deber de declaración exacta y sus consecuencias jurídicas. Revista Española de Seguros n°8. Madrid, 1976, p. 277; DONATI, Antígono. Il contrato di assicurazione nelle legislazione dei paesi del M.E.C. Roma: Instituto di Diritto delle Assicurazioni del’Università di Roma, 1963, p.259; HALPERIN, Isaac. Exposición crítica de la ley 17.413. Buenos Aires: Depalma, 1972, p. 150; BERR, J. Claude. La declaration des risques en Droit Francais. L’Harmonisation du Droit du contrat d’Assurance Dans La C.E.E., colloque organisé par la Licence de Droit et Economie des Assurances sous les auspices de la C.E.E, Bruxelles: Universite Catholique de Louvain, 1980, p.338; VASQUEZ, José. Contrato de Seguro. Coimbra: Coimbra editora, 1999. 227-228.
27 “... retirar a penalidade de perda da garantia securitária nas fraudes tarifárias (inexatidão ou omissão dolosas em informação que possa influenciar na taxa do prêmio) serviria de estímulo à prática desse tipo de comportamento desleal pelo segurado ou pelo tomador do seguro (vide REsp nº 1.340.100/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 8/9/2014, e AgInt no AREsp nº 928.789/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 25/8/2016).
vencer, além do crédito referente ao ressarcimento de todas as despesas em que a seguradora incorrer, sejam aquelas decorrentes da própria contratação, como as de regulação do sinistro, como vistorias, honorários periciais etc. Não sendo hipótese de que a seguradora recusasse a contratação, mesmo conhecendo o real estado do risco dolosamente falseado e estando as informações inverídicas limitadas a uma única garantia em específico, e não a todo o contrato, considerando que a reprovável conduta do segurado não pode ficar sem consequências, nos parece que seria o caso de aplicar o art. 44, §2º da LCS, uma vez que ao fim e a cabo, houve pagamento de prêmio menor que o devido.
Dispõe o art. 44, §2º da LCS que em caso de “descumprimento culposo do dever de informar” haverá “a redução da garantia proporcionalmente à diferença entre o prêmio pago e o que seria devido caso prestadas as informações posteriormente reveladas”. Se o segurado pagou prêmio 10% (dez por cento) menor, terá 10% (dez por cento) descontado de seu crédito, por exemplo. O descumprimento culposo parece ser aquele reservado à falta escusável, como: desatenção pontual do segurado; não compreensão adequada do questionário; omissão de informação íntima ou vexatória etc.
A LCS apresenta uma substancial diferença perante o regramento do art. 766 do CCB, o qual prevê que a violação de boa-fé autoriza a resolução do contrato, se a descoberta da falha informativa ocorrer antes do sinistro; ou a cobrança da diferença do prêmio, mesmo após ele. O mero desconto do prêmio significa, em última instância, uma “não sanção”, pois é apenas pagar o que sempre foi devido, desde a formação do contrato, e não cobrado porque a seguradora não tomou conhecimento do risco real que havia assumido. Considerando que o prêmio, em geral, é substancialmente menor que o valor da indenização, a redução proporcional do crédito do segurado (regra da LCS) alcançará montante superior ao saldo do prêmio devido (regime do CCB).
A redução proporcional é uma solução menos brutal28 que a perda total da garantia, atendendo ambos os contratantes com o reequilíbrio das prestações e servindo como instrumento de confiança na própria
28 BERR, J. Claude. La declaration des risques en Droit Francais. L’Harmonisation du Droit du contrat d’Assurance Dans La C.E.E., colloque organisé par la Licence de Droit et Economie des Assurances sous les auspices de la C.E.E, Bruxelles: Universite Catholique de Louvain, 1980, p. 323.
eficiência da atividade seguradora. O contrato de seguro, ao assegurar a tranquilidade do segurado frente aos eventos temidos29, não pode ignorar a necessidade de estabilidade e a certeza de que a prestação indenizatória será honrada. A solução assegura que o segurado só perderá a garantia contratada se proceder com tamanha negligência que não possa lhe ser outorgada a qualidade de contratante de boa-fé. Se procede com fidelidade, embora tenha atuado culposamente, o segurado manterá a obrigação da seguradora e estará cumprida a finalidade do pacto, embora recebendo indenização proporcionalmente reduzida.
Desde trabalho anterior, defendi que a redução proporcional da indenização, em caso de boa-fé do segurado, seria aplicável mesmo no regime do CCB, com apoio nas regras do infrasseguro, as quais produziriam efeitos equivalentes:
“A falsidade da declaração do risco implica a seu irregular agrupamento com a mutualidade. De igual maneira ocorre no caso do infrasseguro. “Em efeito, se o prêmio se calcula sempre em função da frequência e intensidade dos sinistros previsíveis, a assinação à mutualidade dos riscos com valor superior ao declarado falseia os cálculos operativos, ocasionando no limite o pago das indenizações de montante superior à massa de prêmios percebidas do conjunto de segurados”30
A solução encontrada na LCS para os casos de infração culposa merece aplausos e poderá se converter em um instrumento de pacificação do constante conflito judicial diante das faltas informativas dos segu-
29 GREENE, Mark R. Riesgo y seguro (traducción Hernán Troncoso Rojas). Madrid: Editorial Mapfre, 1976, p. 86 recolhe alguns dos valores sociais e econômicos do seguro: “O seguro contribui aos negócios, a estabilidade social e a tranquilidade mental protegendo as firmas comerciais e ao pai de família; as seguradoras empreendem iniciativas ativas de prevenção de perdas; se liberam as reservas de caixa para fins de inversão, permitindo uma melhor colocação dos recursos econômicos e aumentando a produção (...)”.
30 HARTEN, Carlos. El deber de declaración del riesgo en el Contrato de Seguro. Salamanca: Ratio Legis Libréria Jurídica, 2007, p.134. Esse entendimento, contudo, encontrou resistência doutrinária por POÇAS, Luís. O dever de declaração inicial do risco no contrato de seguro. (Teses de Doutorado). Lisboa: Almedina, 2013, p.278, nota de rodapé 1049.
rados. A experiência mostra que este é, seguramente, um dos temas de maior recorrência nos Tribunais, há décadas.
Diante do gravoso efeito de perda da garantia securitária, especialmente após sinistros sofridos, e da compreensão casuística da eventual desproporcionalidade da medida, parece que, não raro, a jurisprudência foi complacente com desvios do segurado, caminhando para criar entendimentos que ultimaram por diminuir indevidamente a obrigação dos contratantes de seguro e agravaram a prestação da seguradora. São exemplos: a exigência de que a seguradora efetue exames médicos prévio para confrontar as declarações de saúde que recebe; ou classificar como de boa-fé informações explicitamente inverídicas relativas ao perfil do condutor de veículos automotores segurados; e quando o proponente quantifica o valor de seu interesse em montante bastante superior, por exemplo, ao observado no mercado de imóveis31.
A entrada em vigor de uma nova lei pode estabilizar avanços interpretativos de regimes anteriores, além de produzir novas consequências para fatos que ocorrerão sob sua vigência, trazendo nova ordenação e solucionando problemas históricos. Espera-se, assim, que a regra do art. 44, §2º da LCS possa dar este caminho, reequilibrando as prestações sempre que houver infração não dolosa da obrigação do segurado de declarar de forma completa e verídica as circunstâncias do risco proposto.
A nova lei incorpora, ainda, a experiência de algumas legislações estrangeiras que sofriam críticas pelo modelo da redução proporcional da indenização32, quando aplicáveis às hipóteses em que, conhecendo as seguradoras as informações reais em confronto com aquelas declaradas, recusariam a proposta de contratação. Cita-se, como exemplo, uma seguradora que não aceita garantia contra os riscos de incêndio
31 (REsp n. 1.943.335/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).
32 BESSON, André. La sanction encourue, par l’assuré de bonne foi, en cas d’ irrégularité dans la déclaration du risque. In studi per DONATI, Antigono. Roma: 1970, t. I, p.56, se pergunta, enquanto aos interesses da seguradora: “est-il juste, en de telles hypothèses, de l’obliger à indemniser partiellement l’assuré?”, ao criticar a hipótese de redução proporcional nos casos em que não se tivesse verificado a aceitação do seguro, novamente perguntando: “La bonne foi de l’assuré suffit-elle à justifier une solution aussi contraire à la technique de de l'assurance?”.
-98- Índice
para depósitos contendo produtos inflamáveis ter que indenizar sinistros, ainda que com redução proporcional, quando os segurados afirmaram negativamente estocar tais produtos.
Dispõe o art. 44 § 3º da LCS que se, “diante dos fatos não revelados, a garantia for tecnicamente impossível, ou se tais fatos corresponderem a um tipo de interesse ou risco que não seja normalmente subscrito pela seguradora, o contrato será extinto, sem prejuízo da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora.” E “pode-se entender como garantia tecnicamente impossível, a ausência de massa crítica para operacionalizar o seguro, a ausência de operação em determinado ramo (...), exclusão do contrato de resseguro, entre outros” 33 .
De início, ainda que o dispositivo faça referência a “fatos não revelados”, descrevendo a reticência, nos parece que a regra se aplica tanto aos supostos de omissão, quanto aos de alteração da realidade fática pelo segurado. Como destacado, tanto um, quanto o outro, encontram solução comum em nossa experiência nacional, assim como na generalidade das legislações, não havendo razão para tratamento diverso.
Diversamente das hipóteses do art.44, §1º (perda da garantia por dolo) e do art.44, §2º (redução proporcional em caso de falta culposa), a regra de extinção do contrato para garantia impossível ou para riscos e interesses não subscritos independe da qualificação da conduta do segurado, se culposa ou dolosa. Basta haver a falta informativa e ser verificado que ela produziu a aceitação de uma proposta que regularmente não seria subscrita. Com isso, a seguradora tem a segurança de que não precisará dar garantia a risco que não faz parte de sua política de subscrição.
Na sequência, o art. 46 da LCS determina que “a seguradora deverá alertar (...) as consequências do descumprimento do dever de informar.” A consciência por parte do tomador de seguros do próprio dever, assim como da amplitude deste, resulta de fundamental importância para que seja eficaz o cumprimento do dever declaração do risco. Os
33 CARLINI, Angélica; CARVALHAL, Glauce (org.). Lei de Seguros Interpretada. Lei 15.040/2024. Artigo por Artigo. 1. ed. São Paulo: Editora Foco, 2025, p. 67.
sujeitos contratuais, antes que contrapartes, são mutuários do objetivo contratual. O cumprimento das obrigações assumidas é a finalidade e o desejo do pacto. Por isso, a exigência legal da boa-fé impõe às partes uma atividade cooperativa.
Embora seja evidente a importância do alerta, a norma não prevê consequências para o seu desatendimento pela seguradora. Não nos parece, contudo, que sua mera ausência afaste, por si só, as consequências da violação da falta informativa do segurado. O dever de declaração do risco é tema universal em direito securitário, decorrente de lei (art. 44 da LCS), em relação a qual não se pode alegar desconhecimento (art.3º, Decreto-Lei 4.657/42).
Não fosse suficiente, usualmente o proponente é acompanhado de corretor de seguros, o qual tem o dever de orientação e aconselhamento, tanto na fase pré-contratual, quanto durante a execução do contrato, podendo suprir a eventual ausência de alerta da seguradora. Por outro lado, é inegável que a falta da seguradora concretiza uma omissão da sua obrigação de colaborar, no interesse do segurado e no seu próprio. Com isso, não age com a adequada boa-fé, concorrendo com o segurado na origem da falta informativa, cujos efeitos devem ser aferidos no caso concreto.
O tomador de seguros, devidamente advertido do dever de declarar com veracidade o risco, não deve suportar uma sanção igual àquele que não recebeu a pertinente advertência. Desta forma, acreditamos que, em caso de violação culposa do dever de declaração do risco, o proponente não advertido de forma adequada poderá ser exonerado das consequências previstas no art. 44, §2º, da LCS. Por sua vez, havendo evidente conduta dolosa, a falta da seguradora perderia importância diante do comportamento malicioso do proponente, sujeitando-o aos efeitos da perda da garantia securitária prevista no art. art. 44, §1º da LCS.
Compete à seguradora demonstrar e comprovar a existência da falsidade na declaração do segurado e que esta influiu concretamente em sua decisão de taxar o prêmio de forma inadequada ou de aceitar o risco34. É esta quem está na melhor posição para tal prova e, em
34 No sentido do texto: LOWRY, John; RAWLINGS, Philip. Insurance Law: Doctrines
-100- Índice
muitos casos, é a única capaz. A seguradora deve demonstrar que uma determinada circunstância que não foi declarada ou que foi feito de maneira falsa, era conhecida pelo segurado ou que ele podia conhecê-la mediante uma conduta diligente e, finalmente, que a circunstância influiu nas condições de contratação ou na própria aceitação da seguradora em cobrir o risco.
Para tanto, poderá a seguradora usar todos “os meios de provas certas e conclusivas, seja, ainda, por meio de provas indiciárias”35. Demonstrados estes pressupostos, restará configurado o descumprimento do dever de declaração de risco, sendo possível aplicar as sanções correlatas.
3. Conclusões
Mesmo com a evolução da tecnologia, o aumento da disponibilidade e o uso de big data para fins de conhecimento e enfrentamento dos diversos riscos que podem recair sobre determinados interesses, segurado e segurador ainda convivem com a assimetria informacional como um dos principais desafios a serem superados para maior eficiência e segurança jurídica dos pactos securitários. Por isto, a LCS trata com especial detalhamento os deveres informacionais das partes, seja em fase pré-contratual, seja durante a execução do contrato.
A LCS trouxe uma importante evolução no regramento do dever de declaração do risco, absorvendo exitosas experiências estrangeiras, compatíveis com a prática nacional e de fácil adaptação pelo mercado nacional. Assim, por exemplo, quando passa a tratar em Lei Federal o questionário de seguros como meio efetivo para a transmissão ao segurador das informações particulares do risco proposto pelo segurado, afastando-se do modelo de declaração espontânea. Tanto o proponente, como os demais intervenientes, tem que cooperar e apresentar à and principles. Oxford and Portland: Hart Publising, 1999, p.78; STIGLITZ, Rubén S. Derecho de Seguros. Tomo I. Buenos Aires: Abedelo-Perrot, 2001, pág. 522; TARR, Anthony A. TARR, Julie-Anne, The insured’s non-disclosure in the Formation of insurance contracts: a Comparative Perspective. Oxford: International and comparative Law Quartely, vol. 50, part 3, july 2002, , p.589.
35 COCENTINO, Leonardo Montenegro. O risco na formação e execução do contrato de seguro: declaração pré-contratual, agravamento e redução de risco. São Paulo: Ed. Roncarati, 2024, p.230-231.
seguradora todas as informações conhecidas que possam influenciar na taxação ou aceitação do risco que se venha a assegurar, inclusive atuando com diligência para informar-se adequadamente, antes de comunicar com precisão tudo que a seguradora questionou.
Com vistas à que o contrato de seguros possa alcançar sua importante função social e econômica de solidarização das perdas, apenas haverá perda da garantia securitária nas hipóteses de falta dolosa do cumprimento de informações na declaração do risco (art. 44, §1º), ou nos casos em que as informações deturpadas levem a risco não assegurável (art.44, §3º). A falta culposa, por sua vez, reduzirá proporcionalmente a indenização devida, na exata proporção do prêmio sonegado.
As partes contratantes devem atuar com especial boa-fé e cooperação para diminuir, o quanto possível, a litigiosidade decorrente das trocas de informação na fase pré-contratual, que formam a base da contratação. Espera-se das seguradoras que, por elas próprias, ampliem a sofisticação do conhecimento das informações estatísticas nos ramos que atuam, assim como confeccionem questionários eficientes para conhecer os riscos particulares dos respectivos proponentes, com a praticidade e velocidade exigidas do moderno tráfego comercial. Por outro lado, os contratantes devem agir com boa fé, zelo e lealdade nas respostas apresentadas, procurando se informar antes de apresentar suas respostas. O judiciário continuará com o importante papel de orientar o mercado, especialmente se afastando de ser conivente com declarações injustificadamente omissas ou inverídicas para desestimular novas infrações.
Neste cenário, é possível predizer um relevante impulso à pacificação e maior segurança jurídica dos contratos de seguros.
Bibliografia
BERR, J. Claude. La declaration des risques en Droit Francais. In: L’Harmonisation du Droit du contrat d’Assurance Dans La C.E.E. Bruxelles: Université Catholique de Louvain, 1980.
BESSON, André. La sanction encourue, par l’assuré de bonne foi, en cas d’ irrégularité dans la déclaration du risque. In: DONATI, Antigono (org.). Studi per DONATI, Antigono. Roma, 1970, t. I.
Índice
-102-
BRUNETTI, Antonio. Derecho Marítimo Privado. Versión Española anotada por MONTELLÁ, R. Gay de. Barcelona: Editora Bosch, 1951.
CALERO, F. Sánchez. Ley de Contrato de Seguro. Pamplona: Editora Aranzadi, 1999.
CARLINI, Angélica; CARVALHAL, Glauce (org.). Lei de Seguros Interpretada. Lei 15.040/2024. Artigo por Artigo. 1. ed. São Paulo: Editora Foco, 2025.
CAVALIERI FILHO, Sergio. As declarações do proponente no seguro de vida em grupo. In: Seminário sobre contratos de Seguro, o seguro esse desconhecido. Rio de Janeiro: Centro de Debates e Estudos–Cedes. Tribunal de Alçada Cível do Estado do Rio de Janeiro, 1994.
CELADA, Domingo de la Rivas A. De. El deber de declaración exacta y sus consecuencias jurídicas. Revista Española de Seguros, n° 8. Madrid, 1976.
CHINER, Nuria Latorre. Deber de declaración del riesgo. In. MATARREDONA, J. Boquera; GRAU, J. Bataller; IGLESIA, J. Olavaria (coords.). Comentarios a la ley de contrato de seguro. Valencia: Tirant lo Blanch, 2002.
COCENTINO, Leonardo Montenegro. O risco na formação e execução do contrato de seguro: declaração pré-contratual, agravamento e redução de risco. São Paulo: Ed. Roncarati, 2024.
COMPARATO, Fábio Konder. Seguro de Crédito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968.
CORDEIRO, Antônio Menezes. Direito dos seguros. Lisboa: Almeida, 2013.
DONATI, Antigono. Il contrato di assicurazione nelle legislación dei paesi del M.E.C. Roma: Instituto di Diritto delle Assicurazioni del’Università di Roma, 1963.
FABIAN, Christoph. O dever de informar no direito civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002.
GREENE, Mark R. Riesgo y seguro (traducción Hernán Troncoso Rojas). Madrid: Editorial Mapfre, 1976.
GUARRIGUES, Joaquin. Contrato de Seguro Terrestre, 2ª. Edición. Madrid: Aguirre, 1982.
HALPERIN, Issac. Exposición crítica de la ley 17.413. Buenos Aires: Depalma, 1972.
HARTEN, Carlos. El deber de declaración del riesgo en el Contrato de Seguro. Salamanca: Ratio Legis Libréria Jurídica, 2007.
HARTEN, Carlos. O contrato de seguro visto pelo Superior Tribuna de Justiça. São Paulo: Õte, 2009.
LAMBERT-FAIVRE, Ivonne. Droit des Assurances. 8ª. Édition. Paris: Dalloz, 1992.
LOSADA, Fernando Calbacho; JIMÉNEZ, Lupicinio; RODRÍGUEZ, Urruticoechea. El deber de declaración del riesgo en ley de contrato de seguro. In. Revista de Derecho Mercantil, 1987.
LOWRY, John; RAWLINGS, Philip. Insurance Law: Doctrines and principles. Oxford and Portland: Hart Publising, 1999.
MAYAUX, Luc. L’ignorance du risque. Colloque du 11 décembre 1998 organisé à Paris par l’Association Internationale du Droit de l’Assurance-groupe Français. Revue Genérale du Droit des Assurances, n. 3, 1999.
MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo XXV. Rio de Janeiro: Borsoi, 1964.
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil, direito das obrigações. 31ª edição. Vol. 5. São Paulo: Saraiva, 2001.
MORANDI, Juan Carlos. Estudios de derecho de seguros. Buenos Aires: Pannedille, 1971.
MUÑOZ, Miguel Ruiz. Dever de declaração de risco do tomador no contrato de seguro e faculdade rescisória da seguradora. In. Revista Española de Seguros, n° 65, p. 13-46, 1991.
POÇAS, Luís. O dever de declaração inicial do risco no contrato de seguro. (Teses de Doutorado). Lisboa: Almedina, 2013.
-104- Índice
SALANDRA, Vittorio. Le dichiarazioni dell’assicurato secondo il nuovo codice. Assicurazioni, 1942, parte I.
STEINDORFF, M. E. Certains aspects de la déclaration du risque et de ses conséquences» en Droit Comparé. L’Harmonisation du Droit du contrat d’Assurance Dans La C.E.E., colloque organisé par la Licence de Droit et Economie des Assurances sous les auspices de la C.E.E, Bruxelles: Universite Catholique de Louvain, 1980.
STIGLITZ, Rubén S. Derecho de Seguros. Tomo I. Buenos Aires: Abedelo-Perrot, 2001.
TARR, Anthony A. TARR, Julie-Anne. The insured’s non-disclosure in the Formation of insurance contracts: a Comparative Perspective. Oxford: International and comparative Law Quartely, vol. 50, part 3, july 2002.
VASQUES, José. Contrato de Seguro. Coimbra: Coimbra editora, 1999.
A Formação dos Contratos de Seguro
Gustavo de Medeiros Melo1
Resumo : O ensaio examina disposições da Seção VIII, referente à formação e duração do contrato de seguro, na Lei nº 15.040/2024, de enorme importância para disciplinar a fase pré-contratual de declaração inicial do risco e a qualidade do conteúdo da proposta que antecede a celebração dos contratos.
Abstract: The essay examines provisions of Section VIII, concerning the formation and duration of the insurance contract, in Law No. 15,040/2024, of enormous importance for regulating the pre-contractual phase of initial risk declaration and the quality of the content of the proposal that precedes the conclusion of the contracts.
Palavras-chave: Contrato de seguro – proposta – declaração inicial do risco – aceitação de proposta - garantia impossível – riscos não seguráveis –interpretação contratual.
Keywords: Insurance contract – proposal – initial declaration of risk –acceptance of proposal – impossible guarantee – non-insurable risks – contractual interpretation.
Sumário: 1. Introdução; 2. As propostas de seguro; 3. A forma e o conteúdo da proposta; 4. Os regimes de aceitação da proposta; 5. Riscos não seguráveis: garantia impossível e riscos não subscritos; 6. Critérios de interpretação das patologias contratuais; 7. Conclusões; 8. Referências Bibliográficas.
1. Introdução
O tema ligado à formação dos contratos de seguro está inserido na Seção VIII do Capítulo I das Disposições Gerais da Lei nº 15.040/2024, a nova Lei de Seguros (LS). O assunto é da mais alta relevância, porque prepara o nascimento dos contratos com o objetivo de garantir a qua-
1 Mestre e doutor em Direito Processual Civil (PUC-SP), membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), do Centro de Estudos Avançados de Processo (CEAPRO), do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil (IBERC) e da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo (ANNEP). Sócio de Chalfin, Goldberg & Vainboim Advogados (SP).
-106- Índice
lidade do seu conteúdo formado pelas informações que dão base aos vínculos estabelecidos entre segurado, seguradora e seus intervenientes.
A seção é extensa – do artigo 41 ao 53 – a exigir um recorte seletivo dos pontos mais importantes, como as propostas de seguro, os regimes de sua aceitação pelos dois lados da relação, os riscos não seguráveis e os critérios de interpretação das patologias do contrato.
Com isso, pretende-se atravessar esse temário expondo a nova disciplina e identificando suas conexões internas e externas, mas sem esquecer a visão crítica voltada a construir pontes de unidade dentro do sistema.
2. As Propostas de Seguro
O primeiro dispositivo que abre o assunto diz o seguinte: “A proposta de seguro poderá ser feita diretamente, pelo potencial segurado ou estipulante ou pela seguradora, ou por intermédio de seus representantes” (LS, art. 41). Nesse ponto, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 29/2017 era mais claro e direto ao assinalar que “A proposta de seguro pode ser efetuada pelo segurado, pelo estipulante ou pela seguradora” (art. 44).
A proposta é o veículo de comunicação que pode vincular o proponente e conformar o conteúdo material do contrato de seguro que se pretende celebrar.2 No mercado, pode ser apresentada tanto pelo segurado como pela seguradora ou seus respectivos representantes. A diferença entre uma e outra é o conteúdo da comunicação. O candidato a segurado oferece o seu risco e interesse a serem garantidos com base no conjunto de informações colhidas pela seguradora. Esta, por sua vez, quando formula sua proposta, oferece ao destinatário as condições contratuais da garantia e seu respectivo preço.
A situação mais comum é a proposta feita pelo segurado. Na prática, ele solicita ao corretor de seguros uma cotação junto ao 2 O vínculo é o elemento mais importante que deveria estar expresso no dispositivo, lembrava o Prof. Antônio Junqueira de Azevedo a propósito do Projeto de Lei nº 3.555/2004: “A verdadeira disposição normativa de comportamento não é essa previsão de que a proposta pode ser de um, pode ser de outro etc. – e sim a de que a proposta vincula.” (AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Formação e duração. Interpretação e prova do contrato. IV Fórum de Direito do Seguro José Sollero Filho. São Paulo: IBDS, 2006, p. 561).
mercado segurador. Essa solicitação ainda não é uma proposta. São tratativas iniciadas para obter informações básicas sobre o produto, embora seja um material relevante a integrar o futuro contrato (LS, art. 43, § único).
Para a seguradora atender ao pedido de cotação, a lei exige o preenchimento do questionário de avaliação do risco a ser apresentado sob sua responsabilidade. Em contrapartida, o candidato a segurado ou seu estipulante deve fornecer as informações necessárias à aceitação da proposta e à fixação da taxa para cálculo do prêmio (LS, art. 44).3
A nova lei instituiu o regime da declaração provocada do risco a cargo da seguradora, também conhecido como questionário fechado, no lugar do modelo de questionário aberto ou declaração espontânea a cargo do tomador, que era o sistema do Código Civil brasileiro (CC, art. 766).4 No modelo fechado, a seguradora precisa exercer um papel ativo de selecionar e pedir as informações que ela considera relevantes a serem prestadas no questionário, alertando para as consequências que o descumprimento desse dever de informação pode gerar na relação securitária (LS, art. 46).5
3 Comentando esse dispositivo com referências de direito comparado: MUÑOZ PAREDES, José María. Comentários sobre o projeto de lei de contrato de seguro do Brasil, sob a perspectiva espanhola. VII Fórum de Direito do Seguro José Sollero Filho. São Paulo: Roncarati, 2018, p. 60-61.
4 O modelo aberto está no art. 24 do Regime Jurídico do Contrato de Seguro de Portugal, objeto do Dec.-lei nº 72/2008. Nesse sentido: SILVA, João Calvão da. Semelhanças e diferenças do regime jurídico do contrato de seguro no Brasil e em Portugal. I Congresso Internacional de Direito do Seguro. São Paulo: Roncarati, 2015, p. 38; POÇAS, Luís. O dever de descrição exata e completa do risco a segurar. Problemas e Soluções de Direito dos Seguros. Coimbra: Almedina, 2019, p. 23.
5 O modelo fechado está na síntese de um dos maiores tratadistas da matéria: “Na extremidade oposta do referido eixo situam-se os sistemas de dever de resposta (ou de questionário fechado). Com origem no início do séc. XX, estes sistemas baseiam-se no pressuposto de que é o segurador quem possui os conhecimentos técnicos que lhe permitem definir que matérias consideradas relevantes para a apreciação do risco. Neste quadro, o papel ativo no processo de declaração do risco incide sobre o segurador, a quem cabe o ônus, quer da construção do questionário a que ficará circunscrito o dever de declaração do risco, quer da análise das respostas do proponente. Este, por seu turno, assume um papel em grande parte passivo, limitando-se a responder de forma completa e exata ao que lhe é perguntado. Neste quadro, os
-108- Índice
Nas respostas ao questionário, o candidato e os intervenientes devem informar tudo quanto souberem ou deveriam saber de relevante a respeito do interesse e do risco a serem garantidos, de acordo com as regras ordinárias de conhecimento, (art. 45). Os intervenientes, corretores e estipulantes, que atuarem em nome do segurado, submetidos igualmente ao princípio da boa-fé têm o compromisso de agir com lealdade na prestação de informações completas e verídicas sobre todas as questões envolvendo a formação e execução do contrato (art. 37).6 Esse conteúdo deve refletir o real estado do risco no momento de sua prestação ao segurador.7
Mas o que são regras ordinárias de conhecimento? São informações da experiência que levam a acreditar que a pessoa tem condições e até obrigação de conhecer os riscos que a envolvem. 8 O dever de informação sobre o quanto souber ou deveria saber corresponde ao nível de exigência projetada sobre o tomador, condicionada pelas circunstâncias de sua atividade e padrões normais de cuidado e diligência. 9 Quanto mais ele souber, mais ele deve informar à companhia de seguros. Quanto mais ele tiver obrigação e condições de
factos a declarar são limitados ao questionário. Trata-se de um sistema que, na dicotomia seguradora / tomador do seguro, tende a proteger mais este último” (POÇAS, Luís. O dever de descrição exata e completa do risco a segurar. Problemas e Soluções de Direito dos Seguros. Coimbra: Almedina, 2019, p. 33-34).
6 Inclusive na fase pós-contratual, como propõe o Enunciado 25 do CJF: “O art. 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação pelo julgador do princípio da boa-fé nas fases pré-contratual e pós-contratual”.
7 WILLCOX, Victor. Declaração inicial do risco no seguro de responsabilidade civil: comportamento exigível do segurado (ou tomador) em face de riscos de latência prolongada. In: PRADO, Camila Affonso et alii (Coord.). Seguros e Responsabilidade Civil. São Paulo: Foco, 2024, p. 222.
8 MIRAGEM, Bruno; PETERSEN, Luiza. Direito dos Seguros. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 211 e 213.
9 Nesse sentido: COCENTINO, Leonardo Montenegro. O risco na formação e execução do contrato de seguro: declaração pré-contratual, agravamento e redução de risco. São Paulo: Roncarati, 2024, p. 208; JUNQUEIRA, Thiago. Comentários ao artigo 766 do Código Civil. In: GOLDBERG, Ilan & JUNQUEIRA, Thiago (Coord.). Direito dos Seguros: comentários ao Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 253.
saber , mais ele deve estar bem-informado para municiá-la de todas as informações necessárias à avaliação do risco. 10
Em síntese, a responsabilidade do tomador do seguro é proporcional à sua capacidade e obrigação de conhecer os riscos de sua atividade pessoal, profissional ou empresarial.11
As sanções previstas para o descumprimento de tais deveres variam de acordo com a natureza do comportamento (LS, art. 44, §§ 1º e 2º). Se houver comprovação de dolo, o segurado pode perder a garantia, sem prejuízo da dívida de prêmio vencido e da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora. Se o descumprimento for culposo, a garantia será reduzida proporcionalmente à diferença entre o prêmio pago e aquele que seria devido caso tivessem sido devidamente prestadas as informações na fase pré-contratual.
Observe-se que a lei não condiciona as penalidades à existência de nexo causal entre o descumprimento do dever de declaração completa/ exata e o sinistro, como se exige normalmente na disciplina do agravamento de risco (LS, art. 16).
Por outro lado, a experiência mostrará uma tensão latente nesse regime. O dever de saber está vinculado ao questionário? A resposta é sim, pois é a conclusão inferida do art. 45 no sentido de que o tomador
10 Essa avaliação ganha mais nitidez no direito societário que conforma os programas de seguro D&O: “o ordenamento jurídico brasileiro efetivamente dispõe a respeito de um dever saber e, como se viu, não apenas um saber que, na arena do direito societário, poderia representar uma espécie de salvo-conduto mágico capaz de livrar os administradores de suas responsabilidades” (GOLDBERG, Ilan. O contrato de seguro D&O. 2ª ed., São Paulo: RT, 2022, p. 251).
11 A literatura do seguro D&O observa a densidade dos deveres de diligência para o administrador de sociedades empresárias, o homem experiente de negócios (“business man”), diferente do homem-médio, segundo precisa observação de Ilan Goldberg: “Ao administrador exige-se consideravelmente mais do que o padrão de diligência característico ao bonus pater familiae. O chamado ‘homem-médio’, de formação e conhecimento medianos, não tem vez. Conhecimento profundo, a ser adquirido nas boas escolas de administração, economia, engenharia de produção, aliado à rica experiência prática, são ingredientes essenciais, sem os quais agir de maneira diligente torna-se bastante arriscado, para não dizer temerário. O bonus pater familiae foi substituído pelo businessman – no vernáculo, o homem experiente de negócios” (O contrato de seguro D&O. 2ª ed., São Paulo: RT, 2022, p. 223-224).
-110- Índice
deve informar tudo de relevante que souber ou deveria saber a respeito do que lhe for perguntado no questionário de avaliação da seguradora. 12-13 Sensatez e razoabilidade serão necessárias para equilibrar essa tensão.
3. A Forma e o Conteúdo da Proposta
A proposta do segurado não precisa ser por escrito (LS, art. 43). Se antigamente era possível adquirir um bilhete de seguro por solicitação verbal do interessado,14 hoje em dia existe contratação por meios remotos, onde ferramentas de comunicação digital, reconhecimento facial e transmissão viva-voz podem ser utilizadas para manifestação de vontade apta a gerar vínculos no comércio eletrônico.15
A proposta feita pela seguradora não poderá ser condicional e deverá conter, em suporte duradouro, mantido à disposição dos interessados, todos os requisitos necessários para a contratação, o conteúdo integral do contrato e o prazo máximo para sua aceitação (LS, art. 42). Suporte duradouro, segundo a lei, é qualquer meio idôneo, durável e
12 O art. 10 da Ley nº 50/80 exonera o tomador desse dever de informar o que não lhe foi perguntado, ainda que relevante: “Quedará exonerado de tal deber si el asegurador no le somete cuestionario o cuando, aun sometiéndoselo, se trate de circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo y que no estén comprendidas en él”.
13 Com rica exposição do panorama doutrinário espanhol: HARTEN, Carlos. El deber de declaración del riesgo en el contrato de seguro: exposición y crítica del modelo brasileño y estudio del derecho comparado. Salamanca: Ratio Legis, 2007, p. 87-88.
14 Decreto-Lei nº 73/66, art. 10. “É autorizada a contratação de seguros por simples emissão de bilhete de seguro, mediante solicitação verbal do interessado”. Comentava-se esse artigo afirmando que a celeridade e a informalidade nas contratações eram uma praxe em constante desenvolvimento, sinais de sua tendência pela consensualidade: TZIRULNIK, Ernesto & PIZA, Paulo Luiz de Toledo. Notas sobre a natureza jurídica e efeitos da apólice de seguro no Direito brasileiro atual. Revista dos Tribunais, vol. 687, janeiro, 1993, p. 16.
15 A Resolução CNSP nº 408/2021 regulamenta a utilização de meios remotos nas operações de seguro, definidos como “aqueles que permitam a troca de e/ou o acesso a informações e/ou todo tipo de transferência de dados por meio de redes de comunicação envolvendo o uso de tecnologias tais como rede mundial de computadores, telefonia, televisão a cabo ou digital, sistemas de comunicação por satélite, entre outras” (art. 2º, V).
legível, capaz de ser admitido como meio de prova. Em outros termos, qualquer comunicação escrita, física ou eletrônica, que contenha o conteúdo integral do futuro contrato.
A contrapartida para essa hipótese de proposta enviada pela seguradora é impedir que ela possa invocar omissões depois de fechado o negócio (LS, art. 42, § 2º). Não lhe será lícito aplicar cláusula prejudicial ao segurado não informada anteriormente. Com isso, o legislador procurou corrigir o fenômeno da cláusula-surpresa, 16 sobretudo as restritivas de direitos, que costumam aparecer no calhamaço das condições gerais da apólice enviada posteriormente,17 sem que tenham sido informadas na proposta que antecedeu a contratação.18
O art. 42 dialoga com o art. 48, pois o proponente deve ter ciência prévia sobre o conteúdo do contrato, sendo obrigatórios o suporte duradouro e a língua portuguesa. Fala-se também que as cláusulas restritivas aos interesses do segurado, seja em relação a direitos, coberturas, critério de apuração de prejuízo e alocação de riscos, serão redigidas de forma clara, compreensível e em destaque, sob pena de nulidade.
São nulas as cláusulas redigidas em idioma estrangeiro ou as que se limitem a fazer referência a regras de uso internacional (LS, art. 48, § 2º). Aqui, uma ponderação. Não se está proibindo a adoção de regras, coberturas, usos e costumes internacionais no contrato de seguro, mas apenas invalidando a mera referência genérica desprovida de conteúdo e transparência.19 Essa vedação, no entanto, tende a
16 A cláusula-surpresa é tema amplamente observado na doutrina portuguesa: MOITINHO DE ALMEIDA, J. C. Contrato de Seguro: Estudos. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 85.
17 MIRAGEM, Bruno. Os direitos do segurado e os deveres do segurador no direito brasileiro atual e no projeto de lei do contrato de seguro (PLC 29/2017): exame crítico. VII Fórum de Direito do Seguro José Sollero Filho. São Paulo: Roncarati, 2018, p. 236.
18 STJ, 4ª Turma, REsp nº 485.760-RJ, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 17.06.2003; TJSP, 31ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 108841569.2019.8.26.0100, Des. Paulo Ayrosa, j. 07.07.2020.
19 MIRAGEM, Bruno. Os direitos do segurado e os deveres do segurador no direito brasileiro atual e no projeto de lei do contrato de seguro (PLC 29/2017): exame crítico.
-112- Índice
ser mais flexível nos seguros empresariais de grandes riscos (CC, art. 421-A; Resolução CNSP nº 407/2021).20
4. Os Regimes de Aceitação da Proposta
Como visto, além de existir uma diferença de conteúdo entre as propostas do segurado e da seguradora, o regime de aceitação também não é o mesmo.
A proposta feita pela seguradora terá o prazo máximo de aceitação que ela assinalar e depende de “manifestação expressa de vontade” ou “ato inequívoco” do destinatário – leia-se: segurado, estipulante ou corretor (LS, art. 42, § 3º). Por outro lado, a proposta do candidato a segurado, ou mesmo do segurado interessado em renovar o contrato, segue o regime tradicional de aceitação tácita. 21 A seguradora tem até 25 dias para analisar a proposta. Se não houver recusa no prazo, a proposta considera-se aceita (LS, art. 49).22
A LS trabalha com o silêncio, a falta de retorno anunciado ou de recusa, mas alcança também o comportamento concludente do segurador que demonstra de forma inequívoca a existência do seguro. Na prática, sua conduta permite inferir que houve declaração positiva de vontade (aceitação tácita).23 Em caráter exemplificativo, são os atos de recebi-
VII Fórum de Direito do Seguro José Sollero Filho. São Paulo: Roncarati, 2018, p. 237.
20 Basta lembrar da conhecida cláusula LEG – “London Engineering Group” e suas variações LEG 1, LEG 2 e LEG 3, comumente utilizada nas apólices de riscos de engenharia.
21 BERNARDES, Guilherme; FICHTNER, Priscila. Comentários ao artigo 759 do Código Civil. In: GOLDBERG, Ilan & JUNQUEIRA, Thiago (Coord.). Direito dos Seguros: comentários ao Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 156.
22 Precedente paradigma no trato da aceitação tácita e da consensualidade como prática de mercado: STJ, 4ª Turma, REsp nº 1.306.367-SP, Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.03.2014.
23 PINTO, Paulo Mota. Formação do contrato. In: TZIRULNIK, Ernesto et alii (Org.). Direito do Seguro. II Congresso Internacional de Direito do Seguro. São Paulo:
mento de prêmio (sem ressalvas) ou sua cobrança. O sistema regulatório também reconhece a emissão da apólice ou certificado individual como demonstração de que o contrato existe e já está sendo executado.24
Se houver dúvida nessa fase de avaliação do risco, a seguradora pode solicitar esclarecimentos adicionais ou exames periciais (LS, art. 49, § 2º). Aqui há um detalhe: a lei fala que o prazo para a recusa terá “novo início” a partir do atendimento da solicitação ou entrega do exame. Que significado tem essa locução?
A nosso ver, iniciar novamente é diferente de continuar, retomar ou prosseguir. Reiniciar significa recomeçar do zero sua contagem. Assim, aparentemente, o texto leva a crer que adotou o efeito interruptivo do prazo, diferentemente do suspensivo, que apenas o congela, prosseguindo de onde parou.25
Por fim, é de suma importância o dispositivo afirmando que, em qualquer hipótese, para a validade da recusa, a seguradora deverá comunicar sua justificativa ao proponente (LS, art. 49, § 3º). No entanto, o segurador não pode recusar a proposta baseado em políticas técnicas e comerciais que caracterizem discriminação social ou sejam prejudiciais à livre iniciativa empresarial (LS, art. 51).
A situação é de difícil controle, a não ser pela transparência da motivação. Logo, não basta uma justificativa qualquer.26 A recusa da pro-
Contracorrente, 2022, p. 737.
24 A Circular SUSEP nº 642/2021, a par de possibilitar praxe antiga baseada na aceitação tácita, prevê a emissão e o envio da apólice ou certificado individual como comportamento concludente do segurador (art. 4º, §§ 1º e 2º).
25 Diferença clássica entre interrupção e suspensão de prazo. O verbo recomeçar, por exemplo, disciplina o regime de interrupção da prescrição: “A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper” (CC, art. 202, § único). O requerimento de limitação do litisconsórcio multitudinário “interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar” (CPC, art. 113, § 2º).
26 POLIDO, Walter A. Contrato de seguro e a atividade seguradora no Brasil: direito do consumidor. São Paulo: Roncarati, 2015, p. 126.
-114- Índice
posta precisa ser transparente e acompanhada das razões técnicas que embasaram o resultado negativo.27
5. Riscos não Seguráveis: Garantia Impossível e Riscos não Subscritos
A nova lei de seguros apresenta um dispositivo curioso: “Se, diante dos fatos não revelados, a garantia for tecnicamente impossível, ou se tais fatos corresponderem a um tipo de interesse ou risco que não seja normalmente subscrito pela seguradora, o contrato será extinto, sem prejuízo da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora” (LS, art. 44, § 3º).
Primeiro, o legislador está preocupado com os fatos não revelados pelo tomador, a compreender omissões e inexatidões no documento enviado à seguradora, sem fazer diferença entre casos de dolo e culpa.28 Segundo, são duas as hipóteses. A garantia pode ser tecnicamente impossível ou os fatos podem corresponder a um tipo de interesse ou risco que a seguradora não costuma subscrever. Em ambas, o contrato será extinto, ficando à conta do segurado as despesas incorridas pela seguradora.
Mas o que significa garantia tecnicamente “impossível”? Na nossa visão, a LS está tratando dos riscos não seguráveis. 29 Façamos uma digressão.
27 A disposição não é estranha ao sistema regulatório, como consta da Circular SUSEP nº 642/2021: “Em qualquer hipótese, a sociedade seguradora deverá comunicar formalmente ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta, com a devida justificativa da recusa” (art. 4º, § 4º).
28 JUNQUEIRA, Thiago. Dever de informação pré-contratual do tomador do seguro à luz da Lei do Contrato de Seguro – Parte 1. Disponível em www.editoraroncarati.com.br. Acesso em 07.08.2025.
29 O sociólogo alemão Ulrich Beck ensina que a incerteza humana tem três categorias: as ameaças, os riscos e as incertezas fabricadas. A ameaça são os desastres naturais que antigamente se atribuía à natureza e à divindade. Os riscos são incertezas calculáveis que podem ser determinadas com uma precisão atuarial, projeção probabilística amparada pelo seguro e outras ferramentas de tecnologia. Já as incertezas fabricadas são produzidas pela própria sociedade dita pós-moderna, rompem com o passado, com os riscos vividos, com as rotinas institucionalizadas, e são incalculáveis, incontroláveis e inasseguráveis. (BECK, Ulrich. Sociedade de risco: Rumo a uma outra modernidade. 3ª reimpressão, São Paulo: Editora 34, 2019, p. 362-363).
Os riscos podem ser classificados em ordinários e extraordinários. Os ordinários são os que apresentam comportamento estatístico regular. Mesmo quando aferidos de modo individual e aleatório, são constantes e previsíveis do ponto de vista atuarial. Já os extraordinários não têm essa regularidade, são incontroláveis e imprevisíveis, normalmente identificados com os eventos catastróficos e os que costumam ser excluídos das coberturas de seguro justamente por falta de previsibilidade.30 Por isso – assinala Pedro Alvim - “as apólices contêm geralmente uma cláusula de cobertura ampla dos riscos de determinada espécie, seguida de outra onde se faz a exclusão de todos os riscos extraordinários e de outros que injunções de ordem técnica ou comercial desaconselharam sua cobertura no mesmo plano”.31
Duas situações representam essa situação de não segurabilidade: os impedimentos normativos e as políticas restritivas de subscrição.
Os riscos podem não ser seguráveis por conta de sua pré-exclusão imposta pela lei e pelos órgãos reguladores do mercado. Não existe cobertura para o ato doloso de natureza civil ou criminal, dizia o Código Civil (CC, art. 762).32 A LS dispõe que são nulas as garantias contra risco de ato doloso do segurado, do beneficiário ou de representante de um ou de outro (LS, art. 10, § único, II).33 O seguro não pode ser contratado no exterior, para garantir riscos no Brasil, fora das situações estritamente admitidas na Lei Complementar nº 126/2007 (art. 20).
30 ALVIM, Pedro. O Contrato de Seguro. 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 253.
31 ALVIM, Pedro. O Contrato de Seguro. 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 254.
32 O velho Código Comercial até hoje proíbe o seguro de coisa contrabandeada. Na linguagem da época, é o seguro sobre coisas cujo comércio não seja lícito pelas leis do Império, e sobre os navios nacionais ou estrangeiros que nesse comércio se empregarem (art. 686).
33 Em Portugal, o regime jurídico do contrato de seguro prevê um rol de seguros proibidos, referindo-se aos riscos que não podem ser segurados, como a responsabilidade criminal, raptos, sequestros e outros crimes contra a liberdade pessoal, posse ou transporte de substância entorpecente, risco de morte de criança com menos de 14 anos ou de pessoas incapazes (Dec.-lei nº 72/2008, art. 13). Cf. MENEZES CORDEIRO, António. Direito dos Seguros. Coimbra: Almedina: 2013, p. 464.
-116- Índice
Além disso, nos últimos tempos, sobretudo após a abertura do mercado de resseguro à concorrência internacional, começou a surgir um movimento de retração dos seguradores em determinados setores da atividade industrial mais sensíveis a riscos catastróficos. Os segmentos da indústria têxtil, madeireira, papel e celulose, envolvendo produtos inflamáveis, começaram a ter dificuldade de colocação ou renovação de seus programas de seguro. Esse comportamento, ainda hoje presente, ficou conhecido como fenômeno dos riscos declináveis, ou seja, os riscos rejeitados ou inelegíveis, 34 que não encontram apetite do mercado segurador, a não ser, quando muito, mediante prêmios e franquias bem mais pesados.35
Assim, quando a LS fala de garantia tecnicamente impossível, pode-se entender como os riscos não seguráveis por impedimentos legais e regulatórios. Quando menciona os riscos normalmente não subscritos pela seguradora, são os riscos ligados a produtos que não estão no seu portifólio ou os que, mesmo estando, ela não tem apetite de subscrever na situação concreta (riscos declináveis). Ambos os casos dão causa à extinção do contrato de seguro.
6. Critérios de Interpretação das Patologias Contratuais
Figura curiosa está embutida no § 3º do art. 48 da LS, que diz o seguinte:
“ O contrato celebrado sem atender ao previsto no caput deste artigo, naquilo que não contrariar a proposta, será regido pelas condições contratuais previstas nos modelos que vierem a ser tempestivamente depositados pela seguradora no órgão fiscalizador de seguros, para o ramo e a modalidade de garantia constantes da proposta, prevalecendo, quando mencionado na proposta o número do pro -
34 BRAGA, Francisco de Assis. Contrato de Seguro: a Técnica do Risco ao Sinistro. São Paulo: EMTS, 2004, p. 61.
35 POLIDO, Walter A. Contrato de seguro e a atividade seguradora no Brasil: direito do consumidor. São Paulo: Roncarati, 2015, p. 126; TZIRULNIK, Ernesto. Seguro de riscos de engenharia: instrumento do desenvolvimento. São Paulo: Roncarati, 2015, p. 191.
cesso administrativo, o clausulado correspondente cuja vigência abranja a época da contratação do seguro, ou o mais favorável ao segurado, caso haja diversos clausulados depositados para o mesmo ramo e modalidade de seguro e não exista menção específica a nenhum deles na proposta ”.
Como se vê, são remédios a serem aplicados em situações de patologia contratual por falta de informação adequada na proposta. Longo e confuso, esse dispositivo requer uma leitura mais cuidadosa. À primeira vista, poderia dar a impressão de que, a pretexto de disciplinar a necessidade de informação prévia ao segurado, o legislador está exigindo que a seguradora “ deposite ” as condições contratuais do produto na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
Mas não é disso que se trata. A lei não impôs obrigação de depósito à companhia seguradora, mas apenas previu uma eventualidade para fins de interpretação do contrato.36 Na hipótese de terem sido depositadas as condições contratuais, a divergência será dissolvida pelo método comparativo entre os documentos divergentes. Se a cláusula restritiva da apólice não tiver sido informada antes da contratação, prevalece a disposição constante das condições depositadas, desde que identificável o número do processo administrativo, correspondente à época de vigência do seguro contratado.
Assim, o enunciado está pressupondo que as condições foram depositadas perante o órgão regulador. Entretanto, as condições contratuais podem não ter sido depositadas, seja porque a seguradora não cumpriu a exigência regulatória então vigente, seja porque ela não precisava mesmo depositar, tampouco registrar, como acontece hoje nos seguros de grandes riscos. 37
36 A doutrina sempre frisou essa função da proposta como elemento de interpretação do contrato de seguro: BERNARDES, Guilherme; FICHTNER, Priscila. Comentários ao artigo 759 do Código Civil. In: GOLDBERG, Ilan & JUNQUEIRA, Thiago (Coord.). Direito dos Seguros: comentários ao Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 151.
37 Resolução CNSP nº 407/2021, Art. 7º. As condições contratuais e as notas técnicas atuariais relativas aos contratos de seguros de danos para cobertura de grandes
Índice
-118-
Nesse contexto, se não tiver ocorrido nem uma coisa nem outra? Ou seja, se não houver informação prévia na proposta e não existir nada depositado na SUSEP, qual será o critério a ser aplicado? A resposta implícita da lei é no sentido de prevalecer a cláusula da apólice, embora isso não impeça o controle de sua eventual abusividade, segundo as regras de interpretação do negócio jurídico submetido ao Código de Defesa do Consumidor ou ao Código Civil, conforme o caso.
Por outro lado, a questão se complica um pouco mais: o clausulado depositado pode ser menos favorável ao segurado. Assim, se não houve informação adequada antes da contratação e o clausulado depositado for ainda mais desfavorável, qual prevalece: a cláusula da apólice ou a cláusula depositada?
A rigor, a lei não traçou a regra de interpretação mais favorável ao segurado (“interpretatio contra proferentem”) nessa primeira parte do § 3º do art. 48 da LS. O remédio previsto é o preenchimento da lacuna pela prevalência do clausulado depositado, independentemente de ser melhor ou pior.
Entretanto, a literalidade do enunciado não conversa com o sistema da lei, que tem uma seção própria “Da Interpretação do Contrato”, assinalando que as dúvidas, contradições, obscuridades ou equivocidades dos documentos pré-contratuais e instrumentos contratuais serão resolvidas no sentido mais favorável ao segurado, ao beneficiário e ao terceiro prejudicado (LS, art. 57). O § 3º do art. 48 também precisa dialogar com o § 2º do art. 9º, deslocado em outro setor do mesmo diploma (Seção do Risco): “Se houver divergência entre a garantia delimitada no contrato e a prevista no modelo de contrato ou nas notas técnicas e atuariais apresentados ao órgão fiscalizador competente, prevalecerá o texto mais favorável ao segurado”.
Enfim, apesar da redundância de enunciados dizendo praticamente a mesma coisa, são radiações da boa-fé objetiva como fonte
riscos não estão sujeitas ao registro eletrônico de produtos junto à Susep previamente à sua comercialização, devendo, nos termos da regulamentação específica, ser mantidas sob guarda da sociedade seguradora.
de deveres anexos e regra de interpretação do negócio jurídico (CC, art. 422 e 113). 38
O critério de desempate baseado no documento mais favorável está na parte final do § 3º do art. 48 da LS: o mais favorável ao segurado, caso haja diversos clausulados depositados para o mesmo ramo e modalidade de seguro e não exista menção específica a nenhum deles na proposta .
Essa hipótese – contradição entre os clausulados depositados –atrai diretamente a técnica de interpretação contra quem redigiu a disposição ambígua, duvidosa ou contraditória. Mas existem ainda condições. A interpretação será a mais favorável ao segurado caso a cláusula não tenha sido informada pela proposta e não haja menção específica ao número de registro do clausulado depositado no órgão regulador. Se houver referência ao registro, seu clausulado respectivo haverá de prevalecer mesmo que não seja o mais favorável entre as versões depositadas .
Como dissemos, o dispositivo é longo e confuso. Sua praia natural são os seguros massificados 39 e mesmo assim a linguagem está defasada com os avanços do sistema regulatório, onde não se
38 SANSEVERINO, Paulo de Tarso. Teoria do interesse e interpretação do contrato de seguro. I Congresso Internacional de Direito do Seguro. São Paulo: Roncarati, 2015, p. 67.
39 Comentando essa regra no PL nº 3.555/2004, cf. Antônio Herman Benjamin : “Ou seja, emergindo dúvidas ou contradições na aplicação direta da lei diante de um caso concreto, a interpretação deve ser a mais favorável ao vulnerável. Isso é importante para a tutela daquele que não tem condições técnicas, informativas, econômicas e, em nosso país, sociais de se bem defender, sobretudo num mercado específico, caso do mercado de consumo de seguro. Na própria interpretação mais favorável do contrato não se deve esquecer que o direito posto pelo próprio legislador e o direito específico posto, na maioria das vezes, por cláusulas predispostas, eventualmente até com a chancela do Poder Público, pode enfrentar os mesmos problemas, gerar as mesmas enfermidades, as mesmas patologias, devendo ser resolvidas em proveito da parte vulnerável. A regra de interpretação, nesses termos, vai resultar também num incentivo para que a parte forte, ao influir na regulação da matéria e ao dar conteúdo ao contrato, estabeleça uma boa disciplina, pois do contrário a interpretação lhe será contrária de qualquer modo” (BENJAMIN, Antônio Herman. Equilíbrio contratual e proteção do consumidor no Projeto de Lei nº 3.555/04. IV Fórum de Direito do Seguro José Sollero Filho . São Paulo: IBDS, 2006, p. 452).
-120- Índice
fala mais de “depósito”, mas sim de Registro Eletrônico de Produtos (REP). 40
Os contratos empresariais de grandes riscos, por sua vez, tendem a seguir outros caminhos em torno de suas cláusulas negociadas,41 a depender da capacidade de conhecimento e interferência de que seja dotado o segurado hipersuficiente no caso concreto, sujeito ao regime do art. 421-A do Código Civil.42
7. Conclusões
A Seção VIII da LS tem uma importância enorme na fase de preparação dos contratos de seguro. Para além da experiência regulatória, a nova lei exige um compromisso mais firme e objetivo da seguradora na formulação do questionário de avaliação de risco e na montagem da proposta que precisa espelhar o conteúdo integral do futuro contrato.
A LS instituiu o regime da declaração provocada do risco a cargo da seguradora, que deverá selecionar e pedir as informações que ela
40 Movimento iniciado com a Circular SUSEP nº 657/2022, hoje substituída pela Circular SUSEP nº 708/2024, que dispõe sobre o registro, a suspensão, o cancelamento e o indeferimento de planos de seguro, de previdência complementar aberta, de capitalização e de microsseguro. A velha exigência de “aprovação” de coberturas especiais pela SUSEP (Dec.-Lei nº 73/66, art. 36) caiu em desuso e foi revogada pela Lei Complementar nº 213/2025 (art. 12).
41 É a leitura de Paulo de Tarso Sanseverino: “É claro que, no seguro de grandes riscos, há uma margem de negociação bastante maior, de modo a poder se enquadrar na modalidade de contrato paritário. Consequentemente, as próprias regras de interpretação serão diferentes” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso. Teoria do interesse e interpretação do contrato de seguro. I Congresso Internacional de Direito do Seguro. São Paulo: Roncarati, 2015, p. 65).
42 MELO, Gustavo de Medeiros. A Resolução CNSP 407 dos seguros de grandes riscos. In: GOLDBERG, Ilan & JUNQUEIRA, Thiago (Coord.). Direito dos Seguros em Movimento. Indaiatuba: Foco, 2024, p. 169; MIRAGEM, Bruno. Seguro de grandes riscos: disciplina jurídica no direito brasileiro atual. In: TZIRULNIK, Ernesto et alii (Org.). Direito do Seguro. II Congresso Internacional de Direito do Seguro. São Paulo: Roncarati, 2022, p. 907; MAYAUX, Luc. O seguro para os grandes riscos: direito francês e europeu. In: TZIRULNIK, Ernesto et alii (Org.). Direito do Seguro. II Congresso Internacional de Direito do Seguro. São Paulo: Contracorrente, 2022, p. 876.
considera relevantes a serem prestadas no questionário, alertando para as consequências que o descumprimento desse dever de informação pode gerar.
O tomador, por sua vez, deve informar tudo de relevante que souber ou deveria saber a respeito do que lhe for perguntado no questionário de avaliação da seguradora.
O § 2º do art. 49 da LS leva a crer que o pedido de informações complementares interrompe o prazo de 25 dias previsto para avaliação do risco, reiniciando sua contagem. Por outro lado, o segurador não pode recusar a proposta baseado em políticas técnicas e comerciais que caracterizem discriminação social ou sejam prejudiciais à livre iniciativa empresarial. Para controlar essa diretriz, a recusa da proposta precisa ser transparente e acompanhada das razões técnicas que embasaram o resultado negativo.
A garantia tecnicamente impossível compreende os riscos não seguráveis por impedimentos legais e regulatórios. Já os riscos normalmente não subscritos pela seguradora são os riscos ligados a produtos que não estão no seu portifólio ou os que, mesmo estando, ela não tem apetite de subscrever na situação concreta (riscos declináveis).
Por fim, o § 3º do art. 48 da LS requer cautela, um verdadeiro nó a ser desatado pelo Poder Judiciário. A lei não impôs obrigação de depósito à companhia seguradora, mas apenas previu critérios de interpretação para as hipóteses de divergência entre a apólice e as condições contratuais eventualmente depositadas perante o órgão regulador, ou entre as próprias versões depositadas.
Bibliografia
ALVIM, Pedro. O Contrato de Seguro. 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2001.
AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Formação e duração. Interpretação e prova do contrato. IV Fórum de Direito do Seguro José Sollero Filho. São Paulo: IBDS, 2006.
BECK, Ulrich. Sociedade de risco: Rumo a uma outra modernidade. 3ª reimpressão, São Paulo: Editora 34, 2019.
-122- Índice
BENJAMIN, Antônio Herman. Equilíbrio contratual e proteção do consumidor no Projeto de Lei nº 3.555/04. IV Fórum de Direito do Seguro José Sollero Filho. São Paulo: IBDS, 2006.
BERNARDES, Guilherme; FICHTNER, Priscila. Comentários ao artigo 759 do Código Civil. In: GOLDBERG, Ilan & JUNQUEIRA, Thiago (Coord.). Direito dos Seguros: comentários ao Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2023.
BRAGA, Francisco de Assis. Contrato de Seguro: a Técnica do Risco ao Sinistro. São Paulo: EMTS, 2004.
COCENTINO, Leonardo Montenegro. O risco na formação e execução do contrato de seguro: declaração pré-contratual, agravamento e redução de risco. São Paulo: Roncarati, 2024.
GOLDBERG, Ilan. O contrato de seguro D&O. 2ª ed., São Paulo: RT, 2022.
HARTEN, Carlos. El deber de declaración del riesgo en el contrato de seguro: exposición y crítica del modelo brasileño y estudio del derecho comparado. Salamanca: Ratio Legis, 2007.
JUNQUEIRA, Thiago. Comentários ao artigo 766 do Código Civil. In: GOLDBERG, Ilan & JUNQUEIRA, Thiago (Coord.). Direito dos Seguros: comentários ao Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2023.
JUNQUEIRA, Thiago. Dever de informação pré-contratual do tomador do seguro à luz da Lei do Contrato de Seguro – Parte 1. Disponível em www.editoraroncarati.com.br. Acesso em 07.08.2025.
MAYAUX, Luc. O seguro para os grandes riscos: direito francês e europeu. In: TZIRULNIK, Ernesto et alii (Org.). Direito do Seguro. II Congresso Internacional de Direito do Seguro. São Paulo: Contracorrente, 2022.
MELO, Gustavo de Medeiros. A Resolução CNSP 407 dos seguros de grandes riscos. In: GOLDBERG, Ilan & JUNQUEIRA, Thiago (Coord.). Direito dos Seguros em Movimento. Indaiatuba: Foco, 2024.
MENEZES CORDEIRO, António. Direito dos Seguros. Coimbra: Almedina: 2013.
MIRAGEM, Bruno; PETERSEN, Luiza. Direito dos Seguros. Rio de Janeiro: Forense, 2022.
MIRAGEM, Bruno. Os direitos do segurado e os deveres do segurador no direito brasileiro atual e no projeto de lei do contrato de seguro (PLC 29/2017): exame crítico. VII Fórum de Direito do Seguro José Sollero Filho. São Paulo: Roncarati, 2018.
MIRAGEM, Bruno. Seguro de grandes riscos: disciplina jurídica no direito brasileiro atual. In: TZIRULNIK, Ernesto et alii (Org.). Direito do Seguro. II Congresso Internacional de Direito do Seguro. São Paulo: Roncarati, 2022.
MOITINHO DE ALMEIDA, J. C. Contrato de Seguro: Estudos. Coimbra: Coimbra, 2009.
MUÑOZ PAREDES, José María. Comentários sobre o projeto de lei de contrato de seguro do brasil, sob a perspectiva espanhola. VII Fórum de Direito do Seguro José Sollero Filho. São Paulo: Roncarati, 2018.
PINTO, Paulo Mota. Formação do contrato. In: TZIRULNIK, Ernesto et alii (Org.). Direito do Seguro. II Congresso Internacional de Direito do Seguro. São Paulo: Contracorrente, 2022.
POÇAS, Luís. O dever de descrição exata e completa do risco a segurar. Problemas e Soluções de Direito dos Seguros. Coimbra: Almedina, 2019.
POLIDO, Walter A. Contrato de seguro e a atividade seguradora no Brasil: direito do consumidor. São Paulo: Roncarati, 2015.
SANSEVERINO, Paulo de Tarso. Teoria do interesse e interpretação do contrato de seguro. I Congresso Internacional de Direito do Seguro. São Paulo: Roncarati, 2015.
SILVA, João Calvão da. Semelhanças e diferenças do regime jurídico do contrato de seguro no Brasil e em Portugal. I Congresso Internacional de Direito do Seguro. São Paulo: Roncarati, 2015.
-124- Índice
TZIRULNIK, Ernesto & PIZA, Paulo Luiz de Toledo. Notas sobre a natureza jurídica e efeitos da apólice de seguro no Direito brasileiro atual. Revista dos Tribunais, vol. 687, janeiro, 1993.
TZIRULNIK, Ernesto. Seguro de riscos de engenharia: instrumento do desenvolvimento. São Paulo: Roncarati, 2015.
WILLCOX, Victor. Declaração inicial do risco no seguro de responsabilidade civil: comportamento exigível do segurado (ou tomador) em face de riscos de latência prolongada. In: PRADO, Camila Affonso et alii (Coord.). Seguros e Responsabilidade Civil. São Paulo: Foco, 2024.
O Futuro do Contrato de Seguro para Grandes Riscos no Brasil
Ilan Goldberg1*
“Quando o Direito ignora a realidade, a realidade se vinga ignorando o Direito.”
(George Ripert)
Resumo: após vinte anos de tramitação no Congresso Nacional e amplíssimas discussões nas duas casas legislativas, a Lei nº. 15.040/2024 foi sancionada, o que equipara o Brasil a diversos países europeus e sul-americanos que já dispunham de suas leis específicas de seguros. Lamentavelmente, a nova lei brasileira não distinguiu os contratos de seguros massificados e os de grandes riscos, aplicando o seu regime protetivo a todos os segurados independentemente de sua qualificação jurídica – hiper ou hipossuficiente, apartando-se do tratamento empregado pelas leis de seguros europeias e sul-americanas que lhe serviram como fonte de inspiração. O artigo examina, exemplificativamente, alguns dispositivos inaplicáveis aos seguros para grandes riscos e, apresenta algumas soluções diante do contexto jurídico criado pela Lei nº. 15.040/2024.
Summary: After twenty years of proceedings in the National Congress and extensive debates in both legislative houses, Law No. 15,040/2024 was enacted, placing Brazil on par with several European and South American countries that already had their own specific insurance laws. Unfortunately, the new Brazilian law does not distinguish between mass-market insurance contracts and large-risk insurance contracts, applying its protective framework to all policyholders regardless of their legal qualification — whether they are in a stronger or weaker bargaining position — thus diverging from the approach taken by the European and South American insurance laws that served as its source of inspiration. This article examines, by way of example, some provisions that are inapplicable to large-risk insurance and presents possible solutions in light of the legal framework established by Law No. 15,040/2024.
1* Ilan Goldberg é advogado e parecerista, atualmente cursa estágio-pós doutoral em Direito Comercial na USP. É doutor em Direito Civil pela UERJ. Professor da FGV Direito Rio. Sócio de Chalfin, Goldberg & Vainboim Adv. E-mail ilan@ cgvadvogados.com.br
-126-
Palavras-chave: Seguros para grandes riscos, seguros massificados, insegurança jurídica, direito comparado.
Keywords: Insurance for large risks, mass insurance, legal uncertainty, comparative law.
Sumário: 1. Introdução. 2. O tratamento empregado por leis de seguros estrangeiras aos seguros massificados vis à vis os seguros para grandes riscos.
3. A Lei nº. 15.040/2024 e seu regime protetivo. a) O art. 9º., § 2º; b) Art. 81; c) Art. 86; d) Art. 87. 4. A Resolução CNSP nº. 407/2021 – Seguros de Danos para Cobertura de Grandes Riscos. 5. Soluções. 6. Conclusões. Fontes bibliográficas.
1. Introdução
O princípio da isonomia ensina um mandamento fundamental: é preciso tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na exata medida em que se desigualem, sob pena de incorrer em grave injustiça.2
Assim é o disposto no art. 5º., caput, da Constituição Federal de 5/10/1988, cujos efeitos se espraiaram pelo ordenamento jurídico brasileiro em diversos diplomas legais publicados com a finalidade de oferecer proteção aos vulneráveis:
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilida-
2 “Aristóteles afirmou que a igualdade só se mostra possível diante de uma sociedade que embora diversa como a natureza também é, trate cada desigual com desigualdade com o intuito de construir entre eles a equiparação, ou seja, gradativamente pôr fim à linha tênue que liga a desigualdade a certas circunstâncias. O conceito dado por Aristóteles perpetuou-se no tempo, partiu da Grécia, chegou a Roma, passou pelo Cristianismo, foi parte importante nos debates que deram origem à Revolução Francesa, bem como aos Direitos Humanos. Em 1934 chegou ao Brasil oficialmente na Constituição daquele ano, perpetuou-se inclusive durante a Ditadura Militar e chegou à Constituição Cidadã de 1988. Assim, estabeleceu-se diferenciações no tratamento de desiguais para permitir que todos os cidadãos e cidadãs brasileiros possam tornarem-se iguais, cumprindo o princípio da liberdade.” (MAÇALAI, Gabriel. STRÜCKER, Bianca. O princípio da igualdade aristotélico e os seus debates atuais na sociedade brasileira. In Anais Do Congresso Brasileiro De Processo Coletivo E Cidadania. Disponível em https://revistas.unaerp.br/cbpcc/article/view/1258, visitado em 10/8/2025).
de do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes [...]”3
E.g., o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069/1990), o Estatuto do Idoso (Lei nº. 10.741/2003), o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº. 13.146/2015) e, possivelmente, a legislação mais paradigmática seja o Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078/1990, celebrada entre nós como uma das leis consumeristas mais avançadas do mundo.
Ao examinar a exposição de motivos dessas leis, verifica-se um traço em comum, qual seja, a necessidade de que, inspirado pelo referido princípio constitucional da isonomia, potencializado pela dignidade da pessoa humana - CF/ 1988, art. 1º. inc. III – o ordenamento proteja a parte vulnerável da relação jurídica em questão, reequilibrando-a.4
Uma criança ou um adolescente, uma pessoa portadora de deficiência, um idoso e um consumidor, não se apresentam em condições de simetria, tampouco de paridade negocial com o alter.5 E o desequilíbrio,
3 “A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade [...] Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com desigualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real.” (BARBOSA, Rui. Oração aos moços. 3 ed. Rio de janeiro: Organização Simoes, 1949, p. 31).
4 C.R. 1988. “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa humana;”
5 É importante não confundir o que se deve entender por paridade e por simetria. Embora a Lei nº. 13.874/2019 aglutine esses dois predicados de maneira uniforme aos contratos empresariais, há características que os distinguem. Enquanto a relação contratual assimétrica é marcada pelo efeito do aprisionamento, na medida em que a parte vulnerável fica sem alternativa para negociar, a relação não paritária significa dizer que não há oportunidades prévias de negociação. A explicação de Carlos Pianovski Ruzyk é precisa: “3. Contratos simétricos. Se a paridade contratual deriva da existência da oportunidade de prévias negociações, por não ter sido adotada a técnica de contratação por adesão, a simetria, diversamente, demanda exame da relação concreta entre os contratantes. A simetria a que se referem o direito vigente e o anteprojeto de reforma do CC não consiste em perfeita igualdade entre os contratantes, nem sob o ponto de vista econômico, nem sob a ótica informacional.
-128- Índice
in concreto, é tratado por mecanismos legalmente assegurados que têm a finalidade de reequilibrar essas relações, propiciando justiça – numa aplicação pragmática do princípio da isonomia ou da igualdade.
Sob pena de incorrer em grave injustiça, a promulgação dessas leis protetivas obedeceu ao princípio constitucional da isonomia, preenchendo a lacuna deixada por décadas de um patrimonialismo egoísta, próprio da época em que prevaleceu.6 O Estado, potencializado pelo Assimetrias informacionais são inerentes a qualquer contrato. Um dos contratantes, por exemplo, sempre terá mais informações sobre sua própria atividade do que o outro. Não basta, em regra, a assimetria informacional para afastar a presunção legal de que os contratos civis e empresariais são simétricos. Da mesma forma, disparidades econômicas entre os contratantes são frequentes, e não bastam, em si mesmas, para afastar a presunção legal de simetria. É que, por assimétricos, são compreendidos os contratos em que, conforme Rosenvald e Braga Netto, houver “dependência econômica de uma das partes”. Ou seja: a disparidade deve ser de tal ordem que seja gerado o que os autores denominam de “efeito de aprisionamento” de um contratante frente ao outro.” (RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. Contratos paritários e simétricos no anteprojeto de reforma do Código Civil. Disponível em https://cnbsp.org. br/2024/11/12/artigo-contratos-paritarios-e-simetricos-no-anteprojeto-de-reforma-do-codigo-civil-por-carlos-eduardo-pianovski-ruzyk/, visitado em 21/4/2025).
6 A comparação que se faz entre o Código Civil de 1916, fortemente influenciado pelo Code francês, de viés individualista e patrimonialista, e o de 2002, influenciado pelo BGB, ilustram essa modificação valorativa/principiológica de que as mencionadas leis protetivas são exemplos marcantes. Numa perspectiva histórica, veja-se a lição de Gustavo Tepedino: “Nas últimas décadas, o direito civil assistiu ao deslocamento de seus princípios fundantes do Código Civil para a Constituição, em difusa experiência contemporânea, da Europa Continental à América Latina. Tal realidade, vista por muitos com certo desdém, na tentativa de reduzi-la a fenômeno de técnica legislativa — ou mesmo à mera atecnia —, revela processo de profunda transformação social, em que a autonomia privada passa a ser remodelada por valores não patrimoniais, de cunho existencial, inseridos na própria noção de ordem pública. Propriedade, empresa, família, relações contratuais tornam-se institutos funcionalizados à realização da dignidade da pessoa humana, fundamento da República, para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, objetivo central da Constituição brasileira de 1988. Isto significa que o indivíduo, elemento subjetivo basilar e neutro do direito civil codificado, deu lugar, no panorama das relações de direito privado, à pessoa humana, para cuja promoção se volta a ordem jurídica como um todo. A verdade é que as conquistas seculares do direito público, que produziram sucessivas gerações de direitos e garantias fundamentais do cidadão perante o Estado, tornar-se-iam inoperantes, para as transformações sociais pretendidas, não fosse a incidência da norma constitucional nas relações privadas.” (TEPEDINO, Gustavo. A função social nas relações patrimoniais. In Direito Civil. Org. Carlos Edison do Rego Monteiro Filho. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2015, p. 253).
Constituinte de 1988, realmente precisava oferecer uma resposta à sociedade brasileira, positivando leis que pudessem inserir e respeitar os vulneráveis no seio social.
No âmbito das relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor teve finalidade similar. Numa sociedade marcada, à época, por tratamentos sobretudo injustos aos consumidores que, pelas vias ordinárias, não conseguiam resolver os seus múltiplos problemas com vendedores, fornecedores, fabricantes, indústrias etc., seja em razão dos custos do litígio, das dificuldades de produzir provas, de ingressar em Juízo etc., a Lei nº. 8.078/1990 foi revolucionária na exata medida em que trouxe um instrumental capaz de reequilibrar aquelas relações seriamente prejudicadas muitas vezes por abuso dos participantes da cadeia produtiva.
Nesta breve introdução, deseja-se sublinhar que a aplicação desses diplomas protetivos está condicionada à existência de vulnerabilidade na relação jurídica em foco. Tomando os exemplos referidos, não há que se falar na incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente a um adulto; da mesma maneira, não se pode aplicar o Estatuto do Idoso àquele que esteja na meia idade; ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência àquele que não a tenha. Trata-se de uma constatação óbvia, que, como dito, é um corolário do princípio da isonomia.
Essa mesma lógica binária se aplica ao Código de Defesa do Consumidor, aplicável, segundo iterativa Doutrina, àquelas relações jurídicas marcadas pela presença do consumidor hipossuficiente, seja técnica, econômica ou financeiramente falando, e relativa à falta de conhecimento mínimo sobre o que se deseja contratar.
Claudia Lima Marques, a propósito de desvios de finalidade quanto à aplicação da Lei nº. 8.078/1990, afirmou:
“Nos primeiros 10 anos do CDC, grande número de empresas tentou ver reconhecido no Judiciário seu status de ‘consumidoras’ -destinatárias finais fáticas, pois o sistema do CDC demonstrou ser um setor de excelência e eficiência do direito civil brasileiro, em que as soluções de mérito e de justiça contratual realmente se realizam. Apoiadas por advogados atualizados, as empresas tornaram-se litigantes comuns a recorrer ao sistema do CDC para resolver seus pro-
Índice
-130-
blemas contratuais intercomerciais, deturpando, assim, o espírito protetivo do CDC e colocando em perigo a proteção do verdadeiro consumidor stricto sensu [...] Observando os princípios positivados no CDC, parece-me hoje que uma interpretação maximalista estaria realmente em desacordo com o espírito excepcional da tutela e do fim visado pelo Código [...] Não se podem transformar negócios empresariais em relações de consumo, desequilibrando a relação existente entre as partes ao se aplicar equivocadamente uma norma cujo espírito é protetivo e cujo verdadeiro animus é o de conferir especial proteção à parte mais frágil (= consumidor).”7
Com essa constatação em mente, chega-se à Lei nº. 15.040/2024, a nova lei do contrato de seguro (LCS, doravante) que teve o mérito de equiparar o Brasil a diversos países cujas leis de seguros serviram de fonte de inspiração à nossa.
Com efeito, caso se advogue pela necessidade de que existam microssistemas representados por seus diplomas legais específicos, circunstância que, na doutrina, é objeto de viva controvérsia,8 faria sentido defender a construção do microssistema securitário e, finalmente, de uma lei moderna e específica a tratar dos contratos de seguros no País.
7 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor - o novo regime das relações contratuais. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, pp. 346-347.
8 A unidade do ordenamento jurídico é defendida por Pietro Perlingieri: “O pluralismo das fontes (não somente estatais, mas comunitárias, internacionais, regionais), pressupõe a harmonização delas e um delicado esforço de coordenamento por parte do intérprete, com o intuito de garantir o respeito pela hierarquia dos valores e a unidade do sistema. [...] Em um ordenamento complexo como o vigente, caracterizado pela indiscutível supremacia das normas constitucionais, estas não podem deixar de ter uma posição central. De tal centralidade deve-se partir para a individuação dos princípios e dos valores sobre os quais construir o sistema. A centralidade não é algo diverso da supremacia”. (PERLINGIERI, Pietro. Direito civil na legalidade constitucional. Trad. Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 201-217). Em sentido oposto, o defensor dos microssistemas é IRTI, Natalino. L’età della decoficazione. 4ª ed. Milão: Giuffrè, 1999.
Considerando os notáveis avanços tecnológicos dos últimos anos, realmente não mais fazia sentido para o mercado segurador continuar a ser disciplinado pelo Decreto-Lei nº. 73/1966, próprio de uma época que, há tempos, não condiz com a realidade contemporânea.
Registrado o elogio ao esforço legislativo com vistas à publicação da LCS, nota-se que, em variados aspectos, ela foi inspirada por leis europeias e sul-americanas, todas próprias de sistemas jurídicos continentais, assim como o Brasil.
Especificamente quanto à distinção dos seguros para grandes riscos e os seguros massificados, é curioso observar que a lei brasileira resolveu traçar o seu próprio caminho, apartando-se de tudo que se observa funcionar há décadas na Europa e na América Latina.
Embora a LCS admita a existência de riscos de natureza mais complexa, o que se verifica, por exemplo, nos arts. 60 § 2º9, 86 § 5º10, 87 § 5º11, o regime protetivo nela consagrado aplica-se, indistintamente, aos seguros massificados e aos seguros para grandes riscos, circunstância que requer um exame cauteloso por parte do intérprete.
9 O art. 60 § 2º, da LCS, trouxe o inédito regime de aceitação tácita para os contratos de resseguro. O § 2º admite que, diante de riscos de natureza mais complexa, o prazo de 20 dias à aceitação tácita poderá ser aumentado pelo órgão regulador. “Art. 60. Pelo contrato de resseguro, a resseguradora, mediante o pagamento do prêmio equivalente, garante o interesse da seguradora contra os riscos próprios de sua atividade, decorrentes da celebração e da execução de contratos de seguro. [...] § 2º Em caso de comprovada necessidade técnica, a autoridade fiscalizadora poderá aumentar o prazo de aceitação pelo silêncio da resseguradora estabelecido no § 1º deste artigo.”
10 O art. 86 da LCS trata do prazo fixado para que a seguradora se manifeste a respeito da existência ou não de cobertura ao segurado, sob pena de decair do direito de fazê-lo, o que também se afigura inédito em comparação as leis estrangeiras de seguros examinadas. A critério do órgão regulador, poderá ser fixado prazo superior ao de 30 dias (estabelecido no caput), caso seja identificada complexidade maior à apuração.
11 O art. 87 da LCS cuida do prazo de 30 (trinta) dias para a liquidação do sinistro, uma vez concluída a manifestação a propósito da existência de cobertura. O § 5º excepciona essa regra, permitindo que o órgão regulador fixe prazo superior de até 120 (cento e vinte) dias, caso a liquidação implique maior complexidade na apuração.
-132- Índice
2. O Tratamento Empregado por Leis de Seguros Estrangeiras aos Seguros Massificados vis a vis os Seguros para Grandes Riscos:
Na Europa, com consequências em praticamente todos os países continentais, a Diretiva 2009/138/CE, de 25/11/2009, chamada ‘Solvência II’, dá o tom, determinando a distinção entre as referidas espécies de seguros. Observam-se, assim, e.g., a introdução desse regramento nas leis de seguros da Espanha, França, Portugal e Alemanha.
Esta Diretiva, para além de estabelecer a diferença de tratamento entre as duas espécies contratuais, vai mais longe e determina a plena liberdade de escolha da lei aplicável pelas partes contratantes do seguro para grandes riscos.12
O art. 13º. n. 27, traz a definição do que qualifica um seguro para grandes riscos, fazendo-o de modo tipológico e quantitativo. A letra a) do dispositivo refere a determinados tipos de contratos de seguros que se amoldam à natureza dos grandes riscos e a letra c) menciona critério quantitativo, a ser observado no balanço contábil, movimento líquido de negócios e número de empregados. A presença de dois desses três pressupostos também elege o seguro à categoria dos grandes riscos.
Nesses termos, a diferença de tratamento referida é observada em diversos Estados-membros da Comunidade Europeia. Veja-se, assim, na Espanha, a Ley nº. 50/1980, especialmente os arts. 2º., 44 e 107, nº. 2. O art. 2º determina a aplicabilidade da lei a todos os contratos de seguros, ao passo que os artigos 44 e 107, nº. 2, excepcionam o tratamento protetivo aos contratos de seguros para grandes riscos:
12 De maneira oposta, a LCS, no art. 4º., afirma a sua onipresença para quaisquer contratos de seguros celebrados no País: “Art. 4º O contrato de seguro, em suas distintas modalidades, será regido por esta Lei. § 1º Sem prejuízo do disposto no art. 20 da Lei Complementar nº 126, de 15 de janeiro de 2007, aplica-se exclusivamente a lei brasileira: I - aos contratos de seguro celebrados por seguradora autorizada a operar no Brasil; II - quando o segurado ou o proponente tiver residência ou domicílio no País; ou III - quando os bens sobre os quais recaírem os interesses garantidos se situarem no Brasil. § 2º O disposto nesta Lei aplica-se, no que couber, aos seguros regidos por leis próprias.”. Apenas a título de esclarecimento, o art. 20 da Lei Complementar nº. 126/2007 trata da contratação de seguros no exterior.
“Artículo 2
Las distintas modalidades del contrato de seguro, en defecto de Ley que les sea aplicable, se regirán por la presente Ley, cuyos preceptos tienen carácter imperativo, a no ser que en ellos se disponga otra cosa. No obstante, se entenderán válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado.
Artículo 44 […]
No será de aplicación a los contratos de seguros por grandes riesgos, tal como se delimitan en esta Ley, el mandato contenido en el artículo 2 de la misma
Artículo 107
1. La ley española sobre el contrato de seguro será de aplicación al seguro contra daños en los siguientes casos: a) Cuando se refiera a riesgos que estén localizados en territorio español y el tomador del seguro tenga en él su residencia habitual, si se trata de persona física, o su domicilio social o sede de gestión administrativa y dirección de los negocios, si se trata de persona jurídica. b) Cuando el contrato se concluya en cumplimiento de una obligación de asegurarse impuesta por la ley española.
2. En los contratos de seguro por grandes riesgos las partes tendrán libre elección de la ley aplicable.” (Grifou-se).
Em uma análise comparativa da LCS com a Ley 50/1980, enquanto o art. 4º da LCS determina a sua incidência obrigatória a quaisquer contratos de seguros celebrados no Brasil, assemelhando-se ao art. 2º da Ley espanhola, logo depois o art. 44, expressamente, a afasta dos contratos de seguros para grandes riscos e, mais adiante, o art. 107, nº. 2, vai ainda mais longe para consagrar a plena autonomia privada dos contratantes de seguros para grandes riscos quanto à escolha da lei que reputem aplicável à solução de suas controvérsias.
Colocando a solução espanhola em perspectiva, suponha-se que uma grande empresa espanhola, conhecedora de seus riscos e de suas
Índice
-134-
alternativas, resolva firmar contrato de seguro com a seguradora X. O legislador espanhol entendeu que o grande segurado e a seguradora X têm maturidade suficiente para exercer a escolha da lei aplicável. Se quiserem o regime protetivo da Ley 50/1980, poderão escolhê-lo.
Trata-se de uma opção, de exercício do livre arbítrio entre partes hipersuficientes e de direito inegavelmente disponível/patrimonial.
Em Portugal, o Decreto Lei nº. 72/2008, em seus artigos 12º e 13º, estabelece os regimes de imperatividade absoluta e relativa, flexibilizando-os quando os contratos em questão forem para grandes riscos. Observem-se, assim, os numerais 2 desses dois dispositivos:
“Artigo 12.º
Imperatividade absoluta
[...]
2 - Nos seguros de grandes riscos admite-se convenção em sentido diverso relativamente às disposições constantes dos artigos 59.º e 61.º
Artigo 13.º
Imperatividade relativa
[...]
2 - Nos seguros de grandes riscos não são imperativas as disposições referidas no número anterior.” (Grifou-se).
A essa altura, cumpre abrir um breve parêntese para trazer a lição de J. C. Moitinho de Almeida, quando examinou a versão primitiva do PLC nº. 29 – à época tramitava na Câmara dos Deputados o PL nº. 3555/2004 que, tempos mais tarde, culminaria com a promulgação da Lei nº. 15.040/2024. A propósito da inexistência de distinção entre os seguros para grandes riscos e os massificados, assim afirmou o festejado professor português:
“IV – Grandes riscos
23. Exclusão de disposições imperativas
O Projecto contempla inúmeras disposições imperativas que se não justificam no caso de seguros de grandes riscos. A exemplo, entre outras, das leis portuguesas (artigos 12º., nº. 2, e 13º, nº. 2), espanhola (artigos 2º e 44º), e alemã (§ 210º, da VVG) afigura-se de se estabelecer a distinção e de permitir a livre contratação de tais seguros.”13
Fecha-se o parêntese e caminha-se à França, cujo Code des Assurances também determina tratamento distinto para seguros massificados e seguros para grandes riscos. O art. L-111-6 conceitua os seguros para grandes riscos e o art. L.181-1, numeral 5, dispõe que cabe às partes a escolha da lei aplicável quando o contrato de fundo for do ‘grupo grandes riscos’.14
Ainda na Europa, a lei de seguros alemã, de 2008, em seu artigo 210, reproduz de maneira idêntica os termos da Diretiva 2009/138, também definindo tratamento diferente para os seguros de grandes riscos e os seguros massificados.15
13 MOITINHO DE ALMEIDA, J. C. Contrato de seguro. Estudos. In Algumas observações sobre o Projecto de Lei brasileiro nº. 3.555, de 2004. Lisboa: Coimbra ed., 2009. p. 266.
14 « Article L111-6 Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 1 Sont regardés comme grands risques : 1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes : a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ; b) Les marchandises transportées ; c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ; d) Les installations d›énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d›Etat ; 2° Ceux qui concernent l›incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l›importance dépasse certains seuils, dans des conditions définies par décret en Conseil d›Etat. Article L181-1 […] 5° Pour les grands risques tels qu›ils sont définis à l›article L. 111-6, les parties ont le libre choix de la loi applicable au contrat. » (Grifou-se). Disponível em https:// www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/legiOrKali?id=LEGITEXT000006073984. pdf&size=2,2%20Mo&pathToFile=/LEGI/TEXT/00/00/06/07/39/84/LEGITEXT000006073984/LEGITEXT000006073984.pdf&title=Code%20des%20assurances. Acesso em 10/8/2025.
15 Disponível em: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vvg/englisch_vvg.
-136- Índice
Prosseguindo, caso se pense que os ordenamentos jurídicos europeus não deveriam influenciar o legislador brasileiro ao argumento de que no velho mundo há menos assimetria de informação entre segurados e seguradoras, então passe-se ao exame dos ordenamentos sul-americanos.
Na Argentina, a Ley nº. 17.418/1967, em seu art. 158, estabelece regime que se assemelha ao português, ao referir-se a algumas normas inderrogáveis, outras derrogáveis, o que se amolda à necessidade de maior flexibilidade aos seguros para grandes riscos.16
“Obligatoriedad de las normas
Art. 158. Además de las normas que por su letra o naturaleza son total o parcialmente inmodificables, no se podrán variar por acuerdo de partes los artículos 5, 8, 9, 34 y 38 y sólo se podrán modificar en favor del asegurado los artículos 6, 7, 12, 15, 18 (segundo párrafo), 19, 29, 36, 37, 46, 49, 51, 52, 82, 108, 110, 114, 116, 130, 132, 135 y 140.
Cuando las disposiciones de las pólizas se aparten de las normas legales derogables, no podrán formar parte de las condiciones generales. No se incluyen los supuestos en que la ley prevé la derogación por pacto en contrario.” (Grifou-se).
O Chile apresenta regime ainda mais liberal. A Ley nº. 20.667/2013, em seu art. 542. § 2º, estabelece plena liberdade à contratação dos seguros para grandes riscos. Em outras palavras, a lei chilena é imperativa para todos os contratos de seguros, mas, quando os contratantes
html#p0858. Acesso em 10/8/20205.
16 “Este art. 158 de la Ley de Seguros conforma una suerte de ‘mínimo de orden público’, cuyo loable objetivo es la adecuada protección de los derechos de los asegurados dentro de un marco de razonabilidad jurídica, equidad y buena fe. Para cumplir con tal objetivo el artículo en cuestión establece que determinadas normas de la Ley de Seguros son inmodificables, otras son modificables pero solamente a favor del asegurado y las restantes en principio serían libremente modificables dentro del principio de la autonomía de la voluntad.” (LOPEZ SAAVERDA, Domingo M. Ley de seguros 17.418 comentada y anotada. Buenos Aires: La Ley, 2009. p. 275).
forem pessoas jurídicas e o prêmio da ordem de 7.000 dólares estadunidense, o diploma legal converte-se em dispositivo.17
Finalizando o exame do direito estrangeiro latino-americano, a Colômbia, por intermédio da Ley nº. 35, de 1993, excepcionou aos seguros para grandes riscos o tratamento protetivo previsto na Ley nº. 45, de 1990;18 e no Peru, a Ley nº. 29.946/2012, art. 3º., determina que quando as partes negociarem o clausulado, a lei tornar-se-á dispositiva.19
Concluindo, os ordenamentos jurídicos europeus e sul-americanos consultados preveem tratamento legal distinto para seguros de grandes riscos e seguros massificados, a revelar que a escolha do legislador brasileiro foi mesmo singular.
3. A Lei nº. 15.040/2024 e seu Regime Protetivo:
Em termos gerais, a LCS possui um nítido viés protetivo dos interesses dos segurados, circunstância que, e.g., salta aos olhos quando se examina o disposto no art. 128:
“Art. 128. A autoridade fiscalizadora poderá expedir atos normativos que não contrariem esta Lei, atuando para a proteção dos interesses dos segurados e de seus beneficiários.”
17 Disponível em: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1050848. Acesso em 10/8/2025.
18 ORDÓÑEZ, Andrés E. Ordóñez. JARAMILLO, Carlos Ignacio. BARRERA, Carlos Darío. Aniversario del Código de Comercio: pasado, presente y futuro de la regulación del contrato de seguro en el Código de Comercio Colombiano de 1.971. Disponível em https://www.emercatoria.edu.co/PAGINAS/VOLUMEN11/HTML1/139. html. Acesso em 10/8/2025.
19 “Artículo III. El contrato de seguro se celebra por adhesión, excepto en las cláusulas que se hayan negociado entre las partes y que difieran sustancialmente con las preredactadas.”. Disponível em https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/ Repexpvirt?OpenForm&Db=201100028&View. Acesso em 10/8/2025.
-138- Índice
A considerar que segurados, beneficiários, seguradoras, resseguradoras, retrocessionários, corretores de seguros, associações de proteção patrimonial mutualista, cooperativas,20 entre outros, são participantes do mercado de seguros, o legislador elegeu apenas um participante do mercado, qual seja, a “proteção dos interesses dos segurados e seus beneficiários”, o que requer reflexão. Uma lei, abstratamente considerada, deveria atender aos interesses de todos os participantes do mercado, e não apenas de uma determinada classe ou categoria.
No que interessa à falta de distinção entre os seguros para grandes riscos e os seguros massificados, deseja-se chamar a atenção do intérprete para quatro dispositivos constantes na LCS, quais sejam, o art. 9º., § 2º, o art. 81, o art. 86 e o art. 87. Esta escolha dos dispositivos é apenas exemplificativa, não exaustiva.
a. O Art. 9º., § 2º:
O art. 9º, § 2º., apresenta o seguinte enunciado normativo:
“Art. 9º O contrato cobre os riscos relativos à espécie de seguro contratada.
[...]
§ 2º Se houver divergência entre a garantia delimitada no contrato e a prevista no modelo de contrato ou nas notas técnicas e atuariais apresentados ao órgão fiscalizador competente, prevalecerá o texto mais favorável ao segurado.”
Em primeiro lugar, convém fazer um registro no sentido de que havia uma expectativa firme de que a LCS, justamente por se tratar de uma lei nova, impulsionaria a inovação em matéria de criação de novos produtos securitários, com a finalidade de aumentar a sua penetração na sociedade.
20 As associações de proteção patrimonial mutualista e as cooperativas foram incorporadas ao mercado de seguros privados pela Lei Complementar nº. 213/2025.
Ideias antigas como a apresentação e depósito prévios perante o órgão fiscalizador deveriam ter sido abandonadas, sobretudo num contexto em que os avanços tecnológicos são massivos e que a velocidade do cotidiano se impõe de maneira intensa.
Observando especificamente o disposto no § 2º - nota-se que a LCS rememora a rigidez de outrora, em que a SUSEP determinava clausulados-padrão para praticamente todos os contratos de seguros, o que eliminava substancialmente a concorrência entre as seguradoras participantes do mercado. A concorrência somente tocava no quesito preço, deixando-se de lado o que era mais importante – a diferença qualitativa entre os seguros ofertados ao público.
Nessa esteira progressista, a Resolução CNSP nº. 407/2021 representou uma novidade formidável, na medida em que, expressamente, dispensou de registro/apresentação os chamados seguros de danos para grandes riscos perante o órgão regulador. A norma contida no art. 7º apenas determinava que cabia às seguradoras arquivar os documentos comprobatórios da contratação do seguro, viabilizando que houvesse criatividade e inovação por parte das seguradoras.21
A LCS no art. 9º, § 2º, aplica-se, como se comentou, tanto aos seguros massificados, quanto aos seguros para grandes riscos. Ressalvada a crítica relacionada ao duro golpe no poder de criação que deixará de ser exercido pelas seguradoras, é preciso aprofundá-la agora observando as diferenças entre os seguros massificados e os seguros para grandes riscos.
Nos seguros massificados, de fato, parece não haver diferenças significativas nos seguros disponibilizados pelo mercado. As seguradoras, usualmente, acabarão por disponibilizar seguros similares, com variações qualitativas muitas vezes imperceptíveis, o que decorre, so-
21 Res. CNSP 407/2021. “Art. 7º As condições contratuais e as notas técnicas atuariais relativas aos contratos de seguros de danos para cobertura de grandes riscos não estão sujeitas ao registro eletrônico de produtos junto à Susep previamente à sua comercialização, devendo, nos termos da regulamentação específica, ser mantidas sob guarda da sociedade seguradora. Parágrafo único. Deverão ainda ser arquivados pela sociedade seguradora os documentos que comprovam a contratação do seguro, os relacionados à política de subscrição e aqueles que comprovem o cumprimento das disposições contidas nas alíneas “b” e “c” do inciso II, art. 2º, desta Resolução.”
Índice
-140-
bretudo, de uma necessidade econômica. Como, considerando uma demanda de milhares ou milhões de contratos, idealizar clausulados individualmente? Isto seria utópico, de maneira que, em se tratando de seguros massificados, a norma contida no art. 9º, § 2º, tem a sua razão de ser.
Observando, porém, os seguros para grandes riscos, em que grandes segurados são assessorados pelos melhores corretores de seguros do mercado, além de escritórios de advocacia especializados e risk managers, a norma ora comentada mostra-se retrógrada e desnecessária.
Ora, se, in concreto, houver problema com o conteúdo do contrato – e.g. ambíguo, duvidoso, omisso – haverá livre acesso ao Judiciário para este segurado. Num contexto contratual marcado por relações interempresariais, não há lógica em aplicar uma norma que é, claramente, intervencionista e de viés consumerista.
Caberá ao intérprete, portanto, exercer a hermenêutica em torno da aplicação da referida norma com cautela, separando as relações massificadas (de consumo) daquelas interempresariais, sob pena de incorrer em grave injustiça.
b. Art. 81:
A norma contida no art. 81 dispõe:
“Art. 81. Em caso de dúvida sobre critérios e fórmulas destinados à apuração do valor da dívida da seguradora, serão adotados aqueles que forem mais favoráveis ao segurado ou ao beneficiário, vedado o enriquecimento sem causa.”
Convém reiterar os comentários relativos ao princípio da isonomia, objeto da introdução. Em relações jurídicas caracterizadas pela vulnerabilidade de um dos contratantes, a norma contida no art. 81 se justifica exatamente para fins de reequilibrar aquilo que a disparidade técnica, econômica e jurídica entre as partes, ocasionou.
Isto corresponderia, reiterando a expressão comumente utilizada, a um tratamento desigual aos desiguais, na exata medida de sua desigualdade.
Por outro ângulo, se se estivesse diante de relação empresarial, qualificada por paridade e simetria dos contratantes, entende-se que não caberia ao legislador interferir numa relação particular desta de maneira.
Em conformidade com o disposto no art. 421-A do Código Civil, com fundamento na Lei 13.874/2019, a interferência estatal nessas relações deverá ser mínima:
“Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:
I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;
II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada;
III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.”
Se a LCS tivesse seguido o caminho trilhado pelos ordenamentos jurídicos europeus e sul-americanos examinados, esse dispositivo, com efeito, deveria ser apartado do regime pertinente aos contratos de seguros para grandes riscos.
c. Art. 86:
Na vigência do Código Civil de 2002, a seguradora que não concluísse a regulação do sinistro tempestivamente pagaria juros de mora, correção monetária, e, se estivesse em juízo, também pagaria honorários advocatícios, além de multas de ordem processual.
Em relações obrigacionais as mais diversas, o devedor inadimplente realmente deve pagar juros adicionados às perdas e danos causados ao credor, o que corresponde à regra instituída pelo art. 389 do Código Civil:
“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
-142- Índice
Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”
Deseja-se sublinhar, nesse sentido, que o devedor impontual não perde o direito de se defender em juízo, de articular as razões pelas quais incorreu em mora, aspecto que, sobretudo, decorre da garantia constitucional da ampla defesa (CR/1988, art. 5º., inc. LV22).
A LCS, no art. 86, criou um regime que implica em eliminar da seguradora – a hipótese é de decadência – o direito de manifestar a recusa a um determinado pedido de cobertura. Eis o dispositivo:
“Art. 86. A seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para manifestar-se sobre a cobertura, sob pena de decair do direito de recusá-la, contado da data de apresentação da reclamação ou do aviso de sinistro pelo interessado, acompanhados de todos os elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura.
Caso, em 30 dias, a seguradora não se manifeste sobre a cobertura, decairá do direito de recusar a cobertura. Além disto, deverá arcar com juros de mora, correção monetária, multa de 2% sobre o valor da soma segurada devida (LCS, art. 8823).
22 CR/1988. “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”
23 LCS. “Art. 88. A mora da seguradora fará incidir multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, corrigido monetariamente, sem prejuízo dos juros legais e da responsabilidade por perdas e danos desde a data em que a indenização ou o capital segurado deveriam ter sido pagos, conforme disposto nos arts. 86 e 87 desta Lei.”
-143- Índice
Especificamente quanto aos seguros mais complexos – a LCS não emprega a nomenclatura seguros para grandes riscos – o § 5º apresenta uma possibilidade de dilação do prazo de 30 dias para até 120 dias, a critério do órgão regulador.
“Art. 86. [...]§ 5º A autoridade fiscalizadora poderá fixar prazo superior ao disposto no caput deste artigo para tipos de seguro em que a verificação da existência de cobertura implique maior complexidade na apuração, respeitado o limite máximo de 120 (cento e vinte) dias.”
A regra definida pelo art. 86 estabeleceu o prazo de 30 dias à manifestação da seguradora a respeito da existência (ou não) de cobertura. A exceção, de que trata o § 5º, ficou a critério do órgão regulador, por meio de atos normativos que ainda não foram publicados.
A incidência do art. 86 à generalidade dos contratos de seguros é, por si só, questionável, lembrando que o regime de decadência criado pela LCS não encontra eco na maioria dos ordenamentos europeus e sul-americanos verificados.
E é questionável porque não se pode punir o devedor cerceando-lhe o direito de se defender a respeito dos elementos objetivos que o levaram a concluir pela recusa no caso concreto.
Hipoteticamente, imagine-se que uma seguradora tenha levado 35 dias para concluir a regulação do sinistro. Por uma inobservância temporal de apenas 5 dias, terá que pagar; não poderá nem mesmo se defender em juízo, o que se afigura desproporcional.
Refletindo sob a ótica das sanções, aquelas previstas no art. 389 do Código Civil são suficientes à generalidade das relações obrigacionais mantidas em nosso ordenamento. Ora, por quê, apenas nos contratos de seguros, seria plausível uma sanção adicional que, vale enfatizar, prejudicará a toda a mutualidade contratante de seguros?
Essas críticas, como dito, valem para todos os contratos de seguros. Nada obstante, em se tratando de seguros para grandes riscos, a crítica ganha um contorno ainda mais contundente. De maneira isenta, não há como conceber os trabalhos de regulação de sinistros verdadeiramente complexos em até 120 dias. Este prazo não é realista.
-144- Índice
Com pragmatismo, quanto tempo foi necessário à conclusão dos trabalhos de investigação para os desastres ambientais de Brumadinho e Mariana? Ou para o naufrágio de plataformas e/ou navios de exploração de petróleo? Não faltariam exemplos reveladores de que o prazo de até 120 dias, frise-se, a critério do órgão regulador, não é realista.
É interessante notar que embora o legislador não tenha usado a nomenclatura própria dos seguros para grandes riscos, criou uma exceção atento à necessidade de que esses seguros existem.
Logo no início deste artigo, recorreu-se a um singelo ensinamento de George Ripert, aqui, novamente reproduzido: “Quando o Direito ignora a realidade, a realidade se vinga ignorando o Direito.”
De nada adianta deixar de apresentar um tratamento legal distinto para os seguros para grandes riscos quando a realidade é que o impõe. Os próprios participantes do mercado, do alto de suas autonomias privadas, continuarão a desejar um tratamento maduro e coerente com as suas necessidades. A norma contida no art. 86 não se justifica para os massificados, tampouco para os grandes riscos.
d. Art. 87:
O legislador optou por tratar a regulação e a liquidação de sinistros em dois artigos distintos. Chegando agora à liquidação do sinistro, o art. 87, caput, estabeleceu o prazo de 30 dias para que a seguradora efetue o pagamento da soma segurada:
“Art. 87. Reconhecida a cobertura, a seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para pagar a indenização ou o capital estipulado.
Seguindo a mesma sistemática do art. 86, o art. 87 novamente não empregou a nomenclatura seguros para grandes riscos, mas, sem embargo, reconheceu a existência de seguros nos quais a liquidação dos valores a pagar poderá afigurar-se complexa:
“§ 5º A autoridade fiscalizadora poderá fixar prazo superior ao disposto no caput deste artigo para tipos de seguro em que a liquidação dos valores devidos implique maior complexidade na apuração, respeitado o limite máximo de 120 (cento e vinte) dias.”
A norma estabeleceu que, a critério do órgão regulador, o prazo de 30 dias (caput) poderá ser estendido para até 120 dias. Sinistros verdadeiramente complexos muitas vezes dependem de perícias que são conduzidas por experts nomeados por ambas as partes, vistorias, inspeções, todo um trabalho de campo longo e complexo, o que também pode ser seriamente prejudicado em virtude de fatores externos que inviabilizam o trabalho in loco.
O prazo de até 120 dias, a critério do órgão regulador, não é coerente com sinistros complexos, a revelar, novamente, a necessidade de que essa norma seja cuidadosamente avaliada pelo intérprete, sob pena de incorrer em grave injustiça – rectius – violação ao princípio da isonomia.
4. A Resolução CNSP nº. 407/2021 – Seguros de Danos para Cobertura de Grandes Riscos.
Por ocasião de sua promulgação em 2021, a Resolução CNSP nº. 407 preencheu uma lacuna importante na quadra dos seguros empresariais.
Essencialmente, esta Resolução teve a finalidade de apartar os contratos de seguros em duas grandes categorias, quais sejam, massificados e grandes riscos, outorgando à segunda um regime mais flexível, dotando as partes contratantes de uma maior autonomia privada e, assim, menor intervenção por parte do Estado-regulador, alinhando-se ao disposto na Lei 13.874/2019.
Pode-se dizer que essa iniciativa correspondia a um anseio do mercado segurador que, para os seguros de grandes riscos, não poderia continuar a sofrer as amarras do Decreto-Lei nº. 73/1966, designadamente aquela retrógrada exigência de aprovação prévia de quaisquer contratos que se desejasse introduzir no Brasil.24
24 Em perspectiva histórica, antes da Resolução CNSP 407/2021 o tratamento infralegal para os seguros de grandes riscos correspondia aos chamados ‘seguros singulares’, objeto da Circular SUSEP 381/2009. Esta norma foi revogada pela Circular SUSEP nº. 458, de 19.12.2012: “Art. 1º. Extinguir a modalidade de seguros singulares. Art. 2º As sociedades seguradoras deverão, obrigatoriamente, disponibilizar produtos não padronizados para atender necessidades específicas de seus segurados, mediante disposições previstas em coberturas adicionais e/ou condições particula-
-146- Índice
Pouco tempos depois da publicação da Resolução CNSP 401/2021, em 08/02/2022 o Partido dos Trabalhadores propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a referida norma, questionando-a em sua integralidade. Formulou pedido de tutela liminar, até a presente data não apreciado pelo Ministro Relator, Gilmar Mendes.
Questões jurídicas caras à estruturação dos seguros para grandes riscos no Brasil foram agitadas nesta ação direta de inconstitucionalidade, valendo destacar, entre outras, as seguintes:
(i) Quais seriam os limites da competência do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) para exercer a regulação infralegal?
(ii) O estabelecimento de uma disciplina normativa à novel categoria dos seguros para grandes riscos – seria contrária ao princípio da reserva legal, segundo o qual a competência para legislar sobre seguros seria exclusivamente da União? (CR, art. 22, incs. I e VII)
(iii) A presunção de paridade negocial entre grandes segurados e seguradoras, prevista nesta Resolução, seria contrária ao disposto nos artigos 421 a 424 do Código Civil?
A propositura da ação direta de inconstitucionalidade, por si só, não paralisou o mercado dos seguros para grandes riscos no País, mas, não há como negar, gerou alguma insegurança jurídica aos seus participantes, afinal, o deferimento da liminar requerida pelo autor da demanda poderia gerar consequências aos contratos até então concluídos sob a égide da Resolução do CNSP.
Seja como for, a liminar, consoante afirmado, ainda não foi examinada, ou seja, o ambiente jurídico continua rigorosamente o mesmo, não havendo quaisquer efeitos jurídicos decorrentes da deflagração da ação. res, de contratação facultativa, nos termos da legislação vigente. Art. 3º As apólices vigentes de seguros singulares, atualmente em vigor, não poderão ser renovadas. Parágrafo único. Caso haja interesse na continuidade da comercialização do seguro originalmente emitido como seguro singular, a sociedade seguradora deverá emitir nova apólice observando o disposto no artigo 2º desta Circular.”
Com a entrada em vigor da LCS em dezembro próximo, qual será o destino da Resolução CNSP 407? Considerando o disposto no referido art. 128 da LCS, no sentido de que o órgão regulador não poderá baixar normas contrárias à lei, haveria uma colisão entre a Resolução e a LCS?
O que fazer com os seguros para grandes riscos no País?
5. Soluções.
Com as limitações editorais deste ensaio, deseja-se lançar algumas luzes sobre essa instigante indagação.25 Em termos de soluções, a primeira que, por certo, seria a mais “fácil”, corresponderia à não “reinvenção da roda”. Se em todos os ordenamentos jurídicos que espelharam o legislador brasileiro para tantos aspectos da LCS há uma fronteira entre os seguros para grandes riscos e os seguros massificados, seria coerente se, também para essa temática, o nosso legislador tivesse escolhido esse mesmo caminho.
Espanha, Portugal, França, Alemanha, Argentina e Chile, cada qual à sua maneira, encontraram técnicas legislativas que viabilizaram o tratamento legal distinto para os seguros massificados e para os seguros para grandes riscos. Uma opção interessante seria, e.g., excepcionar a aplicação da LCS aos artigos referidos neste artigo, o que, por certo, requereria a tramitação de projeto de lei nessa direção.
Infelizmente, considerando que a opção foi outra, no sentido de tratar a todos os seguros rigorosamente da mesma maneira, isto é, o seguro do telefone celular deve ser tratado exatamente da mesma maneira que o seguro para as plataformas de petróleo, resta refletir sobre outras soluções.
Considerando o abandono da primeira pelo legislador, a segunda solução decorre de uma interessante interpretação para o art. 128 da LCS, que, por sua relevância, convém reproduzi-lo novamente:
“Art. 128. A autoridade fiscalizadora poderá expedir atos normativos que não contrariem esta Lei,
25 O futuro dos seguros para grandes riscos corresponde, precisamente, ao tema que corresponde à pesquisa que, em 2025 e 2026, encontra-se em desenvolvimento no programa de pós-doutoramento em Direito Comercial na Faculdade de Direito da USP, sob supervisão do professor doutor Marcelo Vieira von Adamek.
-148- Índice
atuando para a proteção dos interesses dos segurados e de seus beneficiários.” (Grifou-se).
Em comentários a esse dispositivo, designadamente à expressão realçada – ‘proteção dos interesses dos segurados’ – Péricles Gonçalves Filho enxerga nela um espectro de atuação abrangente, a compreender os interesses de segurados tanto nos massificados, quanto nos grandes riscos. Veja-se:
“Mas o que significa proteger os interesses dos segurados e seus beneficiários? E qual é a extensão da noção de proteção dos interesses dos segurados e de seus beneficiários? Embora seja plenamente justificável a atuação da autoridade fiscalizadora para proteger os interesses dos segurados e de seus beneficiários, torna-se necessário delimitar o sentido e o alcance da expressão “proteção” contida na norma, especialmente considerando as nuances do direito da regulação contemporâneo, conforme destacado pela doutrina especializada. [...]
Bem compreendidos tais aspectos, é possível ir além para analisar o que significa a expressão “proteção” a nível operacional. Identifica-se, aqui, uma dupla significação: em uma primeira dimensão, a proteção dos segurados e de seus beneficiários significa que a autoridade fiscalizadora, na delimitação do problema regulatório que a norma pretende solucionar, precisa identificar e descrever como aqueles fatores previstos implicitamente no art. 128 da LCS desequilibram, no dado cenário específico, a relação securitária contratual em desfavor dos segurados e de seus beneficiários.
Dito de outro modo, para que a proteção prevista no art. 128 da LCS se torne passível de concretização, a autoridade fiscalizadora deve realizar uma incursão no mundo dos fatos e promover a análise contextualizada da norma, identificando e delimitando o problema regulatório, com a expressa indicação de suas causas e extensão.
Em uma segunda dimensão, a proteção do segurado e de seus beneficiários significa que a autorida-
de fiscalizadora, após efetuar a análise contextualizada dos fatores causadores do desequilíbrio da relação contratual securitária, deve endereçar uma norma adequada (apta a atingir finalidade almejada), necessária (que represente o menor sacrifício possível aos direitos envolvidos) e proporcional em sentido estrito (ponderação entre o significado da intervenção estatal e a finalidade almejada).”26
Noutras palavras, o que o administrativista ensina é que segurados compradores de seguros para grandes riscos e segurados compradores de seguros massificados são todos segurados, merecedores da tutela entregue pelo art. 128 da LCS.
Essa constatação implica na conclusão de que a Resolução CNSP 407/2021 não é contrária à LCS, e que com ela, talvez observando algumas adaptações, poderá conviver em harmonia.
Os seguros para grandes riscos sempre existiram e continuarão a ter função relevante na economia do País. Não há desenvolvimento sem seguro, e tudo que toca na construção de infraestrutura requer a contratação de seguro, instrumento que é, sem dúvida, a ponta de lança para o desenvolvimento das atividades econômicas as mais variadas.
A terceira solução pensada para a problemática criada pela LCS é a mais drástica, na medida em que se refere à discussão de sua constitucionalidade. Colocando essa questão em perspectiva, se a Constituição Federal de 1988 albergou a livre iniciativa e a liberdade de concorrência como fundamentos (art. 1º, IV e art. 170 e seguintes), o desenvolvimento de seguros para grandes riscos encontra-se inserido nessa importante agenda do País.
Voltando ao início das reflexões apresentadas neste ensaio, especialmente à importância do princípio da isonomia, não é possível, sem feri-lo, oferecer tratamento idêntico a contratos que são, sob diversos aspectos, claramente diferentes.
26 GONÇALVES FILHO, Péricles. Comentários ao art. 128 da Lei nº. 15.040/2024. In GOLDBERG, Ilan. CARLINI, Angelica. MELO, Gustavo de Medeiros. JUNQUEIRA, Thiago. Comentários à Lei nº. 15040/2024. No prelo.
-150- Índice
Paula Forgioni já chamou a atenção, diversas vezes, à importância de que a lógica dos contratos de consumo não corresponde à lógica dos contratos empresariais:
“Definição dos contratos empresariais. A exclusão dos contratos com consumidores. Fixadas essas premissas, conclui-se que os contratos com consumidores (ou “B2C”, na terminologia estadunidense) não mais integram o direito comercial. [...] a confusão entre os contornos do direito comercial e do direito do consumidor pode comprometer a percepção dos fundamentos do primeiro. As matérias possuem lógicas diversas, de forma que a aplicação do Código do Consumidor deve ficar restrita às relações de consumo, ou seja, àquelas em que as partes não se colocam e não agem como empresa. De outra parte, se o vínculo estabelece-se em torno ou em decorrência da atividade empresarial de ambas as partes, premidas pela busca do lucro, não se deve subsumi-lo à lógica consumerista, sob pena de comprometimento do bom fluxo de relações econômicas.” 27
Concluindo, o tratamento isonômico aos seguros massificados e aos seguros para grandes riscos choca-se com o princípio da isonomia e, sob uma perspectiva finalística, cria problemas para o desenvolvimento dos seguros para grandes riscos no País. Perde o mercado segurador e perdem os grandes segurados.
6. Conclusões
Deseja-se fixar as seguintes premissas nesse breve ensaio:
O princípio da isonomia ensina que deve haver tratamento desigual aos desiguais;
Leis de seguros na Europa e na América Latina que serviram de inspiração à LCS distinguem os seguros massificados dos seguros para grandes riscos;
27 FORGIONI, Paula A. Teoria geral dos contratos empresariais. São Paulo: RT, 2009. p. 29-34.
A LCS seguiu um caminho próprio e único, equiparando-os em todos os seus aspectos;
A interpretação da expressão “proteção dos interesses dos segurados”, extraída do art. 128 da LCS, deve tutelar os interesses de todos os segurados, tanto nos massificados quanto nos grandes riscos, a revelar que não há incompatibilidade absoluta da LCS com a Resolução CNSP 407/2021;
Enxerga-se inconstitucionalidade da LCS ao equiparar os seguros massificados aos seguros para grandes riscos, considerando o disposto nos arts. 1º., inc. IV, arts. 170 e seguintes e, especificamente, o art. 5º., caput, da Constituição Federal de 1988.
Bibliografia
BARBOSA, Rui. Oração aos moços. 3 ed. Rio de janeiro: Organização Simoes, 1949.
FORGIONI, Paula A. Teoria geral dos contratos empresariais. São Paulo: RT, 2009. p. 29-34.
GONÇALVES FILHO, Péricles. Comentários ao art. 128 da Lei nº. 15.040/2024. In GOLDBERG, Ilan. CARLINI, Angelica. MELO, Gustavo de Medeiros. JUNQUEIRA, Thiago. Comentários à Lei nº. 15040/2024. No prelo.
IRTI, Natalino. L’età della decoficazione. 4ª ed. Milão: Giuffrè, 1999.
LOPEZ SAAVERDA, Domingo M. Ley de seguros 17.418 comentada y anotada. Buenos Aires: La Ley, 2009.
MAÇALAI, Gabriel. STRÜCKER, Bianca. O princípio da igualdade aristotélico e os seus debates atuais na sociedade brasileira. In Anais Do Congresso Brasileiro De Processo Coletivo E Cidadania. Disponível em https://revistas.unaerp.br/cbpcc/article/view/1258, visitado em 10/8/2025.
MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do con-
-152- Índice
sumidor - o novo regime das relações contratuais. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, pp. 346-347.
MOITINHO DE ALMEIDA, J. C. Contrato de seguro. Estudos. In Algumas observações sobre o Projecto de Lei brasileiro nº. 3.555, de 2004. Lisboa: Coimbra ed., 2009.
ORDÓÑEZ, Andrés E. Ordóñez. JARAMILLO, Carlos Ignacio. BARRERA, Carlos Darío. Aniversario del Código de Comercio: pasado, presente y futuro de la regulación del contrato de seguro en el Código de Comercio Colombiano de 1.971. Disponível em https://www.emercatoria.edu.co/PAGINAS/VOLUMEN11/HTML1/139.html. Acesso em 10/8/2025.
PERLINGIERI, Pietro. Direito civil na legalidade constitucional. Trad. Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. Contratos paritários e simétricos no anteprojeto de reforma do Código Civil. Disponível em https:// cnbsp.org.br/2024/11/12/artigo-contratos-paritarios-e-simetricos-no-anteprojeto-de-reforma-do-codigo-civil-por-carlos-eduardo-pianovski-ruzyk/, visitado em 21/4/2025.
TEPEDINO, Gustavo. A função social nas relações patrimoniais. In Direito Civil. Org. Carlos Edison do Rego Monteiro Filho. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2015, p. 253)
A Importância da Distinção entre Seguros de Grandes Riscos dos Massificados na Regulação de Sinistro de Seguro Garantia a Partir da Lei 15.040 de 2024
Jader Barbosa Moreira Filho1
Gustavo
Amado León2
Resumo: O objetivo deste trabalho é demonstrar que a ausência de diferenciação entre seguros de grandes riscos e seguros massificados na Lei 15.040/2024 tende a prejudicar a regulação de sinistros de seguro garantia. Tendo em vista que a referida lei se propôs a regulamentar o contrato de seguro de maneira completa e precisa, a falta de distinção entre essas duas categorias de seguros evidencia, de imediato, uma falha na nova legislação, que as trata como se fossem iguais. Por consequência, todas as repercussões decorrentes da execução dos contratos de seguro são impactadas, inclusive, a regulação de sinistros. Desse modo, o primeiro capítulo do trabalho visa a distinguir os seguros de grandes riscos e os seguros massificados. O segundo demonstra que a Lei 15.040/2024 apesar de apresentar categorias econômicas dos seguros, não os distingue entre grandes riscos e massificados. O terceiro aponta que o seguro garantia se enquadra como seguro de grandes riscos. O quarto capítulo, por fim, apresenta os prejuízos da omissão legislativa na regulação de sinistros de seguro garantia.
Abstract: The objective of this article is to demonstrate that the absence of differentiation between large-risk insurance and small-business insurance in Law 15.040/2024 which tends to negatively impact the claim adjustment related to surety bonds. Considering that the aforementioned law aimed to comprehensively and precisely regulate insurance contracts, the lack of distinction between these two categories insurances immediately highlights a flaw in the new legis-
1 Advogado Associado no Chalfin Goldberg Vainboim Advogados Associados e Pesquisador integrante do Laboratório de Bioética e Direito, vinculado à Universidade Federal de Lavras.
2 Mestre e Doutorando em Direito Internacional na Puc-SP. Professor Universitário. Pós-Graduado na ENS em Gestão Jurídica de Seguros e Resseguros. LLC em Direito Empresarial no Insper. Especialista em Governança. Compliance e Riscos na Fundação Dom Cabral. Atualmente é Superintendente de Sinistros na Fator Seguradora. Diretor da AIDA. Palestrante e autor de livros sobre seguros e resseguros, tendo a última publicação “Seguro no Brasil e os resseguradores internacionais” pela Editora Roncarati.
-154- Índice
lation, which treats them as if they were the same. Consequently, all outcomes resulting from the execution of insurance contracts are affected, including claim adjustment. Thus, the first chapter of the paper aims to distinguish between large-risk insurance and small-business insurance. The second chapter demonstrates that Law 15.040/2024, despite presenting economic categories of insurance, does not differentiate between large-risk and small-business insurance. The third chapter highlights that surety bonds is qualified as large-risk insurance. Finally, the fourth chapter outlines the negative impacts resulting from this legislative omission on the claim adjustment in surety bonds.
Palavras-chave: Seguro garantia. Grandes riscos. Lei 15.040/2024. Regulação de sinistros.
Keywords: Surety bonds. Large risks. Law 15.040/2024. Claim adjustment.
Sumário: Introdução; 1. Seguro de grandes riscos e seguros massificados: distinção fundamental; 2. A ausência de diferenciação entre contratos de seguro de grandes riscos e massificados na Lei 15.040/2024; 3. O seguro garantia para grandes riscos; 4. A regulação de sinistros de seguro garantia e a Lei 15.040/2024; Conclusão. Referências Bibliográficas
1. Introdução
A publicação da Lei 15.040 em 10 de dezembro de 2024 (“Lei 15.040/2024”), que dispõe sobre normas gerais de seguro privado, representa um importante marco normativo não somente para direito securitário brasileiro, mas para todo o mercado. Contudo, o legislador, ao optar por uma abordagem uniformizadora, deixou de contemplar distinções fundamentais entre diferentes categorias contratuais, como os seguros de grandes riscos e os seguros massificados. Essa omissão legislativa pode ter efeitos significativos na interpretação e aplicação da norma, especialmente na prática da regulação de sinistros.
Diante desse contexto, este trabalho visa a demonstrar que a ausência dessa segregação pode causar efeitos negativos na regulação de sinistros no âmbito do seguro garantia, ramo securitário comumente enquadrado entre os seguros de grandes riscos pelos altos valores de prêmio e pela alta complexidade demandada em sua operação, que envolve toda a cadeia de produção securitária, desde corretores especializados, até uma regulação e liquidação com participação de peritos e eventuais auditorias.
No primeiro capítulo, analisa-se a distinção técnico-jurídica, econômica e normativa entre seguros de grandes riscos e demais seguros
de danos, dentre eles os seguros massificados. Com base na Resolução CNSP nº 407/2021, são apresentadas características específicas dos seguros de grandes riscos, como a possibilidade de negociação paritária entre as partes e a complexidade dos contratos envolvidos. Desse modo, contrasta com o perfil dos contratos massificados, que, por envolverem partes hipossuficientes, exigem maior intervenção normativa e aplicação de regras protetivas, notadamente do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990).
O segundo capítulo demonstra que a Lei 15.040/2024, deixou de considerar adequadamente as particularidades dos seguros grandes riscos. Enfatiza-se que, embora a lei apresente distinções baseadas em critérios econômicos, como o valor da importância segurada, falha ao não reconhecer a autonomia e a complexidade dos seguros de grandes riscos, aplicando-lhes regras concebidas para seguros massificados.
No terceiro capítulo, o trabalho é direcionado à análise do seguro garantia, de forma a abordar suas principais características e seu enquadramento nos seguros de grandes riscos. Destaca-se a liberdade contratual conferida às partes, a sofisticação técnica dos envolvidos e o papel desse ramo no financiamento e execução de grandes projetos, como obras de infraestrutura. Nessa perspectiva, evidencia-se que a regulação de sinistros em contratos dessa natureza requer uma abordagem normativa diferenciada, que leve em conta sua especificidade.
Por fim, no quarto capítulo, analisa-se o processo de regulação de sinistros no seguro garantia à luz das novas disposições da Lei 15.040/2024, com destaque para os prazos rígidos impostos pela norma. Demonstra-se que tais limitações podem prejudicar a adequada análise técnica dos sinistros, especialmente nos contratos mais complexos, gerando insegurança jurídica e aumentando a litigiosidade no setor. Assim, conclui-se que a falta de uma regulação específica para seguros de grandes riscos, como o seguro garantia, compromete a finalidade central da nova lei: proteger adequadamente os interesses dos segurados e promover o desenvolvimento sustentável do setor de seguros.
2. Seguro de Grandes Riscos e Seguros Massificados: Distinção Fundamental
O contrato de seguro atualmente possui normatização geral no Código Civil de 2002 (art. 757 a 802), quando o segurado figura como consumidor, o Código de Defesa do Consumidor também se aplica, além das
Índice
-156-
regras específicas em leis especiais. Ainda, destaca-se a significativa ingerência estatal nessa espécie de contrato, que ocorre, principalmente, por meio da elaboração de normas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP).
A despeito das diversas fontes normativas relativas aos contratos de seguro, a diferenciação entre seguros de grandes riscos e seguros massificados não foi abordada de maneira explícita em nenhuma delas. Todavia, a Resolução CNSP nº 407/2021 dispôs sobre os princípios e características gerais para elaboração e comercialização de contratos de seguros de danos para cobertura de grandes riscos.
A resolução é reflexo da busca por levar a prática do setor para a regulamentação, algo fundamental para a operacionalização das seguradoras e dos segurados brasileiros que clamavam por mais liberdade contratual nos seguros de grandes riscos há alguns anos. Isso já é visto em outras jurisdições mais avançadas como na Alemanha, na sua Lei do Contrato de Seguro (VVG - Versicherungsvertragsgesetz); na França, no Code des Assurances; na Itália, no Codice delle Assicurazioni Private; e na Espanha, na Ley 50/1980 de Contrato de Seguro. Reino Unido, Canadá e Suíça tratam de riscos ou seguros comerciais complexos, mas que se diferenciam dos demais, com a adoção de regras mais simplificadas e relações equilibradas entre as partes contratuais.
Nesse sentido, o art. 2º da Resolução CNSP nº 407/2021 apresenta as características para enquadramento nessa categoria de seguros, a qual se diferencia pelos ramos que abrange, pelo fator econômico que envolve a garantia contratada, bem como pelo próprio tomador do seguro.
Art. 2º Entendem-se como contratos de seguros de danos para cobertura de grandes riscos aqueles que apresentem as seguintes características:
I - estejam compreendidos nos ramos ou grupos de ramos de riscos de petróleo, riscos nomeados e operacionais – RNO, global de bancos, aeronáuticos, marítimos e nucleares, além de, na hipótese de o segurado ser pessoa jurídica, crédito interno e crédito à exportação; ou
II - demais ramos, desde que sejam contratados mediante pactuação expressa por pessoas jurídicas, in-
cluindo tomadores, que apresentem, no momento da contratação e da renovação, pelo menos, uma das seguintes características:
a) limite máximo de garantia (LMG) superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);
b) ativo total superior a R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais), no exercício imediatamente anterior; ou
c) faturamento bruto anual superior a R$ 57.000.000,00 (cinquenta e sete milhões de reais), no exercício imediatamente anterior.
§ 1º Também poderão ser considerados seguros de danos para cobertura de grandes riscos, na forma prevista no inciso II deste artigo, aqueles seguros que tenham sido contratados, por meio de uma apólice individual, por mais de um tomador ou segurado, desde que, ao menos um dos tomadores ou segurados apresentem, pelo menos uma das características constantes das alíneas «b» ou «c» deste inciso.
§ 2º No caso do seguro garantia, o contrato também poderá ser classificado como de grandes riscos se o tomador ou segurado pertencer a um grupo econômico que atenda as disposições contidas nas alíneas “b” e “c” deste inciso, devendo constar na apólice expressa menção ao vínculo existente, de forma clara e objetiva.
§ 3º A hipótese prevista no parágrafo anterior aplica-se apenas ao tomador ou segurado que possua personalidade jurídica própria e integre grupo econômico sob controle ou direção administrativa comum ou ainda sob o mesmo controle acionário.
Verifica-se, assim, que, nos contratos de seguro de grandes riscos, há uma relação de partes hipersuficientes em que os tomadores se encontram equilibrados com a seguradora no que diz respeito à capacidade técnica, econômica e jurídica, conforme preceitua a doutrina:
Consequentemente, abrem-se duas vias de tratamento legal, quais sejam: a primeira, vertida aos seguros classificados como de grandes riscos; e a segunda, dirigida aos seguros chamados massificados. Os primeiros trazem relação entre partes hipersuficientes dotadas de plenas capacidades técnica, econômica e jurídica, para que, com clareza, saibam o que estão contratando; os segundos, por outro lado, ilustram relações marcadas pela hipossuficiência dos aderentes, a justificar, assim, o tratamento protetivo.3
Essa paridade entre as partes acarreta a possibilidade, nos contratos de seguro de grandes riscos, de as partes pactuarem livremente as condições contratuais, desde que atendidos princípios básicos previstos no art. 4º da Resolução CNSP nº 407/2021.
Art. 4º Os contratos de seguro de danos para cobertura de grandes riscos serão regidos por condições contratuais livremente pactuadas entre segurados e tomadores, ou seus representantes legais, e a sociedade seguradora, devendo observar, no mínimo, os seguintes princípios e valores básicos:
I -liberdade negocial ampla;
II - boa fé;
III -transparência e objetividade nas informações;
IV -tratamento paritário entre as partes contratantes;
V - estímulo às soluções alternativas de controvérsias; e
VI -intervenção estatal subsidiária e excepcional na formatação dos produtos.
Nesse sentido, devido a essas características, há um regime mais flexível de fiscalização do produto pela Susep, de modo que sua co-
3 GOLDBERG, Ilan; BERNARDES, Guilherme. Os seguros para grandes riscos, os seguros massificados e o princípio da isonomia – parte 1. In: GOLDBERG Ilan; JUNQUEIRA, Thiago. Direito dos Seguros em Movimento. Indaiatuba: Foco, 2024. p.157-161. p. 157.
mercialização não é condicionada a registro prévio4. Em termos práticos, tendo em vista que são contratos paritários, os seguros de grandes riscos atraem a aplicação do Código Civil de 2002, especialmente dos artigos 421, 421-A e 4225.
Principalmente em razão desses aspectos, os contratos de seguro de grandes riscos se diferenciam dos demais contratos de seguros de danos e, sobretudo dos seguros massificados. Inicialmente, se os de grandes riscos são celebrados por partes hipersuficientes, os massificados são compostos por uma das partes hipossuficiente, marcada pela vulnerabilidade e ausência de capacidade técnica, jurídica e econômica que se equivalha à seguradora. São contratos típicos de adesão e por todos esses fatores atraem, por consequência, um tratamento protetivo ao tomador e ao segurado6.
Diferentemente dos grandes riscos, os seguros massificados não possuem uma definição normativa, mas grande parte do arcabouço jurídico-normativo prevê regras destinadas a essa categoria de seguros. Isso se verifica, por exemplo, a partir do art. 3º, §2º, Código de Defesa
4 MELO, Gustavo de Medeiros. A Resolução CNSP 407 dos seguros de grandes riscos. In: GOLDBERG Ilan; JUNQUEIRA, Thiago. Direito dos Seguros em Movimento. Indaiatuba: Foco, 2024. p. 169-173.
5 Art. 421 do CC/02: A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
6 GOLDBERG, Ilan; BERNARDES, Guilherme. Os seguros para grandes riscos, os seguros massificados e o princípio da isonomia – parte 1. In: GOLDBERG Ilan; JUNQUEIRA, Thiago. Direito dos Seguros em Movimento. Indaiatuba: Foco, 2024. p.157-161. p. 157.
-160- Índice
do Consumidor7, que permite o reconhecimento das relações jurídicas securitárias como de consumo:
Ilustrando-se o ora exposto, compradores de seguro automóvel, residencial e vida – i.e., consumidores – encontrarão na conjugação do Código Civil com o Código de Defesa do Consumidor um norte à solução de seus problemas, o que inclusive, conforme já salientado, decorre da previsão expressa contida no art. 3º, §2º, da lei protetiva.8
Ou seja, com isso, os contratos de seguro massificados devem ser elaborados, executados e interpretados sob a ótica, principalmente, do CDC, a fim de que a parte vulnerável da relação tenha a devida proteção diante da seguradora.
Ademais, os seguros massificados, necessariamente, enquadram-se como contratos de adesão9, os quais possuem uma técnica específica de elaboração prévia, em que as cláusulas e condições são previamente redigidas pela seguradora sem que possa haver alteração significativa pelo segurado ou tomador do seguro. Os seguros de grandes riscos apesar de, em geral, serem entendidos por muitos como contratos de adesão, apresentam a possibilidade de se discutir as cláusulas contratuais entre as partes.
É dess a forma que se deve compreender que os contratos de seguro de grandes riscos possuem partes que se igualam em condi -
7 Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
8 GOLDBERG, Ilan; BERNARDES, Guilherme. Os seguros para grandes riscos, os seguros massificados e o princípio da isonomia – parte 1. In: GOLDBERG Ilan; JUNQUEIRA, Thiago. Direito dos Seguros em Movimento. Indaiatuba: Foco, 2024. p.157-161. p. 158.
9 Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.
ções e apresentam relações mais complexas, especialmente no que t ange ao objeto segurado e alcance de cobertura. Os contratos de seguro massificados, por sua vez, possuem uma parte vulnerável, que merece maior proteção estatal, de modo a atrair a aplicação de normas capazes de garantir maior segurança do segurado.
3. A Ausência de Diferenciação entre Contratos de Seguro de Grandes Riscos e Massificados na Lei nº. 15.040/2024
A Lei 15.040/2024 entrará em vigor em 11 de dezembro de 202510. Nos termos da justificativa do projeto de lei que deu origem ao referido diploma normativo, o objetivo do legislador seria a elaboração de uma legislação completa e precisa, que fosse capaz de alcançar a devida proteção ao segurado e a promoção da atividade seguradora.
Considerando que a lei ainda não entrou em vigor, não é possível realizar nenhuma análise quanto à eficácia do objetivo proposto na justificativa da criação do diploma normativo. Entretanto, é válido salientar que o texto publicado no final de 2024 deixou de contemplar aspectos importantes do direito securitário dentre os quais destaca-se, para fins deste trabalho, a ausência de segregação entre os contratos de seguro de grandes riscos e massificados.
Isso se confirma tendo em vista que os art. 86 e 87, §§4º, da Lei 15.040/2024, únicos dispositivos que categorizam os contratos de seguro em termos econômicos, dispõem:
10 Qualquer discussão de eficácia ou validade da lei não resta prosperar dado que sua aplicação antes desse período comprometeria princípios essenciais como a segurança jurídica, a previsibilidade e a estabilidade das relações contratuais reguladas pela nova legislação. Embora publicada em 10 de dezembro de 2024, a lei estabeleceu expressamente um período de vacatio legis de 1 ano para permitir a adaptação dos agentes econômicos e do setor segurador às novas regras. Qualquer tentativa de aplicação imediata violaria não só a lógica temporal da própria norma como também criaria um cenário de incerteza, prejudicando significativamente as expectativas legítimas dos envolvidos, especialmente considerando o impacto relevante nas relações de seguro e na regulação de sinistros decorrentes dessa legislação. (BARTOLO, Luiza; WILLCOX, Victor. Eficácia temporal da lei 15.040/24: Limites à sua aplicação imediata aos contratos de seguro em vigor. Migalhas, 2025. Disponível em: https:// www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/424612/eficacia-temporal-da-lei-15-040-24 Acesso em 05.07.25.)
-162- Índice
Art. 86. A seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para manifestar-se sobre a cobertura, sob pena de decair do direito de recusá-la, contado da data de apresentação da reclamação ou do aviso de sinistro pelo interessado, acompanhados de todos os elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura.
[...]
§ 4º O prazo estabelecido no caput deste artigo somente pode ser suspenso 1 (uma) vez nos sinistros relacionados a seguros de veículos automotores e em todos os demais seguros em que a importância segurada não exceda o correspondente a 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente.
Art. 87. Reconhecida a cobertura, a seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para pagar a indenização ou o capital estipulado.
[...]
§ 4º O prazo estabelecido no caput deste artigo somente pode ser suspenso 1 (uma) vez nos sinistros relacionados a seguros de veículos automotores e seguros de vida e integridade física, assim como em todos os demais seguros em que a importância segurada não exceda o correspondente a 500 (quinhentas) vezes o salário-mínimo vigente.
Assim, a nova lei apresenta tratamento diferenciado para os seguros cujas importâncias seguradas excedem 500 vezes o salário-mínimo vigente, os quais poderão ter prazos mais extensos no âmbito da regulação e liquidação de sinistros. No entanto, para além dessa diferenciação econômica que produz efeitos somente na regulação de sinistros, a lei perdeu a oportunidade de efetivamente diferenciar categorias dos contratos de seguro.
Nesse contexto, verifica-se que os enunciados normativos da Lei 15.040/2024 são destinados e mais apropriados para regular relações securitárias massificadas nas quais se verifica a hipossuficiência do se-
gurado, em detrimento daquelas atreladas aos grandes riscos. A título de exemplo, o art. 57 da Lei 15.040/2024 prevê que quaisquer contradições ou dúvidas no âmbito do contrato de seguro deverão ser interpretadas em sentido mais favorável ao segurado, ao beneficiário ou ao terceiro prejudicado 11 .
Portanto, essa disposição, assim como grande parte da referida lei, ignora a capacidade do segurado ou do tomador, em seguros de grandes riscos, de ter sua própria área técnica de seguros bem qualificada para paritariamente discutir aspectos de coberturas, clausulado e necessidades dos seus próprios riscos, além de contar com grandes e capacitados assessores como os escritórios de advocacia e intermediários como os corretores de seguros para auxiliar em todos os momentos da contratação e execução do contrato de seguro:
Grandes compradores de seguros possuem, em seu staff, os chamados risk managers, profissionais especializados em análise e gestão de risco; além disso, contam com assessoria de corretores de seguros especializados, e, ainda, muitas vezes, de escritórios de advocacia dos mais gabaritados.12
4. O Seguro Garantia para Grandes Riscos
O seguro garantia tem como finalidade garantir uma relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer natureza, contra o risco de inadimplemento das obrigações garantidas pelo tomador13.
Ademais, o art. 34, parágrafo único, da Circular Susep nº 662/2022, dispõe que são facultadas a adoção das disposições presentes na referi-
11 Art. 57. Se da interpretação de quaisquer documentos elaborados pela seguradora, tais como peças publicitárias, impressos, instrumentos contratuais ou pré-contratuais, resultarem dúvidas, contradições, obscuridades ou equivocidades, elas serão resolvidas no sentido mais favorável ao segurado, ao beneficiário ou ao terceiro prejudicado.
12 GOLDBERG, Ilan; BERNARDES, Guilherme. Os seguros para grandes riscos, os seguros massificados e o princípio da isonomia – parte 1. In: GOLDBERG Ilan; JUNQUEIRA, Thiago. Direito dos Seguros em Movimento. Indaiatuba: Foco, 2024. p.157-161. p. 158.
13 Conforme definição presente no art. 3º, da Circular Susep nº 662/2022.
-164- Índice
da circular aos contratos de seguro garantia para cobertura de grandes riscos, emitidos no âmbito da Resolução CNSP nº 407/2021.
Desse modo, as partes, em um contrato de seguro garantia, podem pactuar livremente as cláusulas e condições contratuais, desde que atendidos os princípios da liberdade negocial ampla, boa-fé, transparência e objetividade nas informações, tratamento paritário entre as partes, estímulo às soluções alternativas de controvérsias e intervenção estatal subsidiária.
Na sua essência, o seguro garantia tradicional, o conhecido “performance bond”, é destinado ao mercado de infraestrutura, no qual há vultuosidade financeira e alta complexidade técnica, com a participação de empresas especializadas, sofisticadas e experientes, em que, muitas vezes, a capacidade técnica e financeira dos envolvidos na relação garantida é superior à da sociedade seguradora.
Nessa conjuntura, em grande medida, o seguro garantia visa a garantir grandes obras de infraestrutura com a presença de tomadores e segurados de grandes portes, os quais se enquadram nos requisitos do art. 2º da Resolução CNSP nº 407/2021. Logo, o seguro garantia se apresenta também como um contrato de seguro de grandes riscos.
5. A Regulação de Sinistros de Seguro Garantia e a Lei nº 15.040/2024
A regulação do sinistro de seguro garantia se inicia com a comunicação de sinistro à seguradora, por meio do qual esta é comunicada sobre a existência efetiva de um inadimplemento e/ou irregularidade no que diz respeito ao objeto do seguro seguindo todas as regras da apólice. A partir desse momento, inicia-se o processo de regulação de sinistro, com a análise do enquadramento da ocorrência e de seus efeitos, em um processo administrativo, com o intuito de avaliar se o evento comunicado possui cobertura e, caso positivo, dá-se prosseguimento para mensurar financeiramente os prejuízos sofridos pelo segurado14.
Vale ressaltar, a circunstância em que ainda não ocorreu um efetivo inadimplemento ou irregularidade no objeto do seguro, entretanto, verifica-se uma expectativa de sinistro, caso em que não há sequer
14 POLETTO, Gladimir Adriani. O seguro-garantia: eficiência e proteção para o desenvolvimento. São Paulo: Roncarati, 2021. p. 222.
qualquer prazo de regulação de sinistro iniciado. A seguradora é apenas avisada de um fato gerador que potencialmente poderá ocorrer e, aí então, ensejar uma comunicação de sinistro.
A comunicação de sinistro deve ser acompanhada de uma série de documentos, previstos no clausulado da apólice, tais como, contrato, termos aditivos, processos administrativos, cronogramas, boletins de medição, comprovantes de pagamento, planilhas com valores retidos, eventual proposta para contratação de empresa substituta, dentre outros. A quantidade e a espécie da documentação que deve ser solicitada às partes variam de acordo com os termos da apólice e a complexidade da regulação.
Em um primeiro momento, a seguradora, ao receber a comunicação de sinistro do segurado, deve cientificar o tomador sobre o início do processo de regulação de sinistro, bem como solicitar a participação da parte para prestar esclarecimentos sobre o evento que ocasionou o sinistro. Ainda nessa primeira fase, faz-se necessário analisar os aspectos formais da apólice, relacionados ao período de vigência, valor da garantia, e contratação de coberturas adicionais:
Nessa primeira fase, a reclamação de sinistros é analisada e confrontada com os aspectos formais da apólice, principalmente, em relação ao período de vigência. No seguro-garantia, como reiterado previamente, há um controle do segurado sobre os serviços do tomador, o que impõe ao segurado o dever de vigilância sobre o inadimplemento, ou seja, não é possível admitir reclamações posteriores ao período de vigência da apólice, pois, caso contrário, estaria se beneficiando a moral hazard do segurado. 15
Superada a fase inicial, a seguradora deve buscar informações a respeito do inadimplemento relatado pelo segurado. Assim, deve-se verificar se o descumprimento, de fato, existiu. Em caso positivo, antes de avaliar as consequências das irregularidades, faz-se necessário verificar se o tomador foi o principal responsável pelo inadim-
15 POLETTO, Gladimir Adriani. O seguro-garantia: eficiência e proteção para o desenvolvimento. São Paulo: Roncarati, 2021. p. 225.
-166- Índice
plemento. Nesses casos de grandes riscos, a verificação do inadimplemento, em regra, envolve a análise de centenas de documentos apresentados pelos segurados e tomadores, os quais costumam exigir confirmações entre as partes.
Após a análise do inadimplemento e seus responsáveis, há que se apurar os prejuízos efetivamente sofridos pelo segurado, sejam eles decorrentes de multas aplicadas em procedimentos administrativos e/ou ocasionados pelo sobrecusto na contratação de empresa substituta. A apuração dos prejuízos pode se dar tanto no momento da regulação de sinistros quanto na liquidação.
Diante dessa síntese, não exaustiva, a respeito do processo de regulação de sinistro, resta ainda, analisar o impacto da alteração apresentada no art. 86, §3º, da Lei 15.040/2024 quanto à limitação de suspensão, por até duas vezes, do prazo legal para a seguradora se manifestar sobre a cobertura da comunicação de sinistro.
O seguro garantia demanda análise e comparação de um grande volume de documentos, os quais demandam alta capacidade técnica para compreensão. Nos seguros garantia de grandes riscos, essa complexidade apresenta-se ainda maior. Considerando que tanto o tomador quanto o segurado se valem de corretores de seguros especializados, assessores jurídicos, reguladores de sinistros e peritos técnicos, para acompanhar o processo de regulação, as controvérsias sobre cada um dos aspectos a serem analisados durante o processo, questões formais, inadimplementos, apuração de prejuízos, estão sempre presentes e tornam-se ainda mais desafiadoras.
Nesse contexto, em cenário tão complexo, o prazo máximo de 30 dias para a conclusão de uma regulação de sinistro de seguro garantia de grandes riscos é mostra-se bastante exíguo e até mesmo arriscado a ter um cumprimento impossível. O que a princípio, poderia-se até afirmar, beneficiaria o segurado ante a celeridade trazida pela lei ao processo, pode surtir um efeito inverso para o segurado e perverso para a seguradora que, contando com um prazo tão exíguo tenha que concluir a regulação sem todas as ferramentas em mãos, de modo a vir a prejudicar a decisão final.
Ainda, se, com um prazo razoável, boas decisões das seguradoras já são contestadas judicialmente, com os prazos mais apertados e maiores chances de equívocos, a tendência é que haja um cenário de judicialização ainda maior:
E apesar do aparente protecionismo da lei, o que se pode gerar, nesse cenário, é uma maior insegurança jurídica às partes. Relembra-se, sobre isso, que o contrato de seguro deve ser pautado não só na boa-fé, mas na observância estrita de todos os seus deveres anexos e colaterais de conduta. Do contrário, a agilidade proposta pela lei pode vir a se perder em milhares de ações.16
Portanto, diante desse contexto, verifica-se que a Lei 15.040/2024, desde o momento em que não distinguiu seguros de grandes riscos dos seguros massificados, perdeu a oportunidade de criar um regime específico para regulação de sinistros de seguros de grandes riscos. Regime este fundamental para a solidez da prática do setor e operacionalização dos seguros de grandes riscos, vitais para a economia nacional, o financiamento e o avanço nas obras de infraestrutura, do setor elétrico, na prevenção e indenizações de desastres climáticos que ora se agravam. Tais seguros continuarão existindo e crescendo, ainda que sem um regime próprio, porém sem conceituação na lei, muito mais vulnerável a litígios e presença no acervo do judiciário.
6. Conclusão
A distinção entre seguros de grandes riscos e seguros massificados é fundamental para a adequada compreensão e aplicação das normas securitárias. De um lado, os seguros massificados envolvem uma parte hipossuficiente que demanda maior proteção regulatória e legal. De outro, os seguros de grandes riscos são firmados entre partes hipersuficientes, com maior capacidade técnica, econômica e jurídica, o que justifica um tratamento mais flexível, pautado na liberdade contratual e na intervenção estatal subsidiária.
Apesar disso, a recém-publicada Lei nº 15.040/2024, que pretendeu estabelecer um marco legal moderno e abrangente para os contratos de seguro privado, não promoveu a necessária diferenciação entre essas duas categorias contratuais. Ao adotar uma abordagem normativa uniforme, com disposições mais apropriadas às relações de consumo típicas dos seguros massificados, a nova lei deixou de contemplar as peculiaridades dos
16 ZUKAUSKAS, Juliana; ALGODOAL, Tatiana. Regulação de sinistros de grandes riscos trará mais insegurança ao setor?. Consultor Jurídico, 2025. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2025-jun-04/regulacao-de-sinistros-de-grandes-riscos-trara-mais-inseguranca-ao-setor/. Acesso em 10.06.25.
-168- Índice
seguros de grandes riscos. Dentre estas, destacamos a pactuação contratual, a paridade entre as partes e a complexidade da regulação de sinistros.
Tal omissão revela-se especialmente problemática no contexto do seguro garantia, modalidade frequentemente enquadrada como seguro de grandes riscos. Isso porque limita o prazo de suspensão para análise de cobertura a duas oportunidades, mesmo em sinistros de alta complexidade técnica e documental. Nesse contexto, a nova lei impõe um risco concreto à qualidade da regulação de sinistros e à segurança jurídica das decisões das seguradoras, podendo fomentar maior judicialização do setor.
Por tudo isso, a Lei nº 15.040/2024, embora represente avanço para o setor securitário brasileiro, carece de aperfeiçoamento no que se refere ao tratamento dos seguros de grandes riscos, que, espera-se poderá sofrer ajustes na esfera administrativa por parte do regulador, criando normas infrajurídicas para corrigir o vácuo presente. A ausência de um regime jurídico próprio para essas relações complexas e a possível aplicação de normas de seguros massificados a seguros de grandes riscos tendem a comprometer a efetividade da regulação, da liberdade contratual e da estabilidade da relação seguradora-segurado com reflexos, inclusive, no crescimento nacional que tem no seguro de grandes riscos um grande aliado.
Bibliografia
BARTOLO, Luiza; WILLCOX, Victor. Eficácia temporal da lei 15.040/24: Limites à sua aplicação imediata aos contratos de seguro em vigor. Migalhas, 2025. Disponível em: https://www.migalhas. com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/424612/eficacia-temporal-da-lei-15-040-24 Acesso em 05.07.25.
GOLDBERG, Ilan; BERNARDES, Guilherme. Os seguros para grandes riscos, os seguros massificados e o princípio da isonomia –parte 1. In: GOLDBERG Ilan; JUNQUEIRA, Thiago. Direito dos Seguros em Movimento. Indaiatuba: Foco, 2024. p.157-161.
MELO, Gustavo de Medeiros. A Resolução CNSP 407 dos seguros de grandes riscos. In: GOLDBERG Ilan; JUNQUEIRA, Thiago. Direito dos Seguros em Movimento. Indaiatuba: Foco, 2024. p. 169-173.
POLETTO, Gladimir Adriani. O seguro-garantia: eficiência e proteção para o desenvolvimento. São Paulo: Roncarati, 2021.
ZUKAUSKAS, Juliana; ALGODOAL, Tatiana. Regulação de sinistros de grandes riscos trará mais insegurança ao setor?. Consultor Jurídico, 2025. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2025-jun-04/regulacao-de-sinistros-de-grandes-riscos-trara-mais-inseguranca-ao-setor/. Acesso em 10.06.25.
WAISBERG, Ivo; SACRAMONE, Marcelo. Contratos Empresariais. Rio de Janeiro: Saraiva, 2025.
Convergência Jurídica: O Direito Digital na Lei de Seguros - Lei 15.040/2024 e no Projeto de Lei nº 4/2025 - Reforma do
Código Civil
Landulfo de Oliveira Ferreira Júnior1
Resumo: O artigo analisa a interconexão entre o Projeto de Lei nº 4/2025, que propõe a reforma do Código Civil Brasileiro, e a Lei nº 15.040/2024, a Lei de Seguros. O texto destaca que o Código Civil de 2002 não oferece mais respostas adequadas para as complexas relações jurídicas do contrato de seguro na era digital, e a proposta de reforma busca preencher essas lacunas. Ainda que seja um projeto de lei, seu conteúdo se correlaciona diretamente com a Lei nº 15.040/2024. A nova Lei de Seguros, por sua vez, revogou os artigos do Código Civil referentes ao contrato de seguro, criando um microssistema próprio. No entanto, a proposta de reforma do Código Civil atuará de forma complementar, fornecendo os princípios gerais do Direito Digital e Contratual que se aplicarão subsidiariamente ao microssistema da Lei de Seguros. Essa sinergia é vista na modernização de práticas como a contratação eletrônica e a análise de riscos baseada em IA, essenciais para novos produtos, como seguros cibernéticos e paramétricos. Ambos os diplomas legais buscam reforçar a transparência e a segurança jurídica em um ambiente cada vez mais tecnológico.
Abstract: This article analyzes the interconnection between Bill No. 4/2025, which proposes reform of the Brazilian Civil Code, and Law No. 15.040/2024, the Insurance Law. The text highlights that the 2002 Civil Code no longer offers adequate answers to the complex legal relationships of insurance contracts in the digital age, and the proposed reform seeks to fill these gaps. Although it is still a bill, its content directly correlates with Law No. 15.040/2024. The new Insurance Law, in turn, repealed the articles of the Civil Code related to insurance contracts, creating its own microsystem. However, the proposed reform of the Civil Code will act in a complementary manner, providing the general principles of Digital and Contract Law that will apply subsidiarily to the Insurance Law microsystem. This synergy is seen in the modernization of practices such as electronic contracting and AI-based risk analysis, essential for new products such as cyber and parametric insurance. Both legal diplomas seek to reinforce transparency and legal certainty in an increasingly technological environment.
1 Advogado, especializado em direito civil, contratos, seguros e previdência complementar e direito empresarial. Mestre em Direito Empresarial, Professor na PUCMINAS, Professor da ENS – Escola de Negócios e Seguros.
Palavras-chave: Reforma do Código Civil, Projeto de Lei nº 4/2025, Lei de Seguros, Lei nº 15.040/2024, Descodificação do Contrato de Seguro. Direito Digital.
Keywords: Civil Code Reform, Bill of Law No. 4/2025, Insurance Law, Law No. 15,040/2024, Insurance Contract Decoding. Digital Law.
SUMÁRIO: 1. Introdução, 2. Principais Aspectos da Proposta Relacionados ao Direito Digital, 3. A descodificação do contrato de seguro do Código Civil, 4. Intersecções e pontos de contato, 5. Desafios regulatórios e segurança jurídica, 6. Novos produtos e modelos de negócio, 7. Prova digital
1. Introdução
A proposta de reforma do Código Civil Brasileiro (Projeto de Lei n.º 4/2025), especialmente no que tange ao Direito Digital, representa um marco significativo na atualização da legislação civil pátria frente aos desafios da sociedade contemporânea que já se encontra envolta em um ambiente de constante evolução tecnológica e digital. Essa modernização busca incorporar novos paradigmas e conceitos que surgiram com a exponencial evolução tecnológica.
Nos dizeres da Professora Laura Porto, “Hoje, a tecnologia representa a nova fronteira de evolução, gerando impactos em praticamente todas as esferas da vida, incluindo o Direito. Nesse cenário, surge a necessidade de adequar os ordenamentos jurídicos para garantir a regulação e a proteção dos direitos em um ambiente cada vez mais conectado e globalizado.”2
De todo o conteúdo, amplamente debatido nas audiências públicas realizadas no âmbito da Comissão de Juristas responsável pela revisão e atualização do Código Civil, percebe-se que o Código Civil de 2002, embora contando com pouco mais de duas décadas de vigência e aplicação, já não conseguia mais dar respostas às questões decorrentes das cada vez mais complexas relações jurídicas no ambiente digital. Temas como contratos inteligentes, prova digital, responsabilidade civil por danos causados por algoritmos, personalidade jurídica no ambiente virtual e patrimônio digital destacaram-se como lacunas a serem preench idas.
2 A Reforma do Código Civil – Artigos sofre a atualização da Lei 10.406/2002. PACHECO, Rodrigo.https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/685736/ Reforma_codigo_civil_1ed.pdf. Acesso em 16.07.2025
-172- Índice
Os debates revelaram a tensão entre a necessidade de inovação e a preservação da segurança jurídica, bem como a busca por um equilíbrio entre a liberdade individual e a intervenção estatal. Nesse sentido, as contribuições e análises levadas à discussão pela Comissão de Juristas sobre o tema, foram reiteradamente em defesa da necessidade de o Direito Civil acompanhar as transformações tecnológicas, não de forma reativa, mas proativa, estabelecendo marcos regulatórios que garantam segurança jurídica e proteção aos indivíduos
2. Principais Aspectos da Proposta Relacionados ao Direito Digital
A proposta de reforma, consubstanciada no Projeto de Lei nº 4/2025, traz nos artigos 2.027-A e seguintes, múltiplos aspectos do Direito Digital, dentre os quais se pode destacar:
Negócios Jurídicos Eletrônicos
e Prova Digital
Um dos pontos mais sensíveis e mais debatido nas audiências públicas foi o tratamento dos negócios jurídicos eletrônicos. A proposta buscou pacificar o entendimento sobre a validade e a eficácia dos contratos celebrados por meios digitais, superando as incertezas que ainda persistem, incluindo-se questões como a validação de assinaturas eletrônicas, o reconhecimento da vontade manifestada digitalmente e a presunção de veracidade de documentos eletrônicos, quando observadas certas formalidades. A prova digital também ganha destaque, com a previsão de critérios para sua admissibilidade e valoração, reconhecendo as especificidades de dados gerados e armazenados em formato eletrônico.
Responsabilidade Civil no Ambiente Digital
O tema da responsabilidade civil por danos causados por sistemas automatizados e inteligência artificial (IA) consistiu em um dos tópicos mais complexos e controversos, tendo as audiências públicas revelado a diversidade de opiniões sobre a atribuição de responsabilidade em cenários onde a decisão é tomada por algoritmos. A proposta busca estabelecer critérios para a responsabilização de desenvol-
vedores, fornecedores e usuários, dependendo do grau de autonomia e controle sobre a tecnologia. Mostra-se de todo necessário equilibrar a inovação tecnológica com a proteção das eventuais vítimas, defendendo a aplicação de teorias de responsabilidade que considerem a vulnerabilidade do usuário e o potencial lesivo de certas tecnologias.
Direitos da Personalidade na Esfera Digital
O Projeto de Lei propõe a inclusão de disposições que reforçam os direitos da personalidade no ambiente digital, como o direito ao esquecimento, a proteção da imagem e da voz no contexto digital, e a tutela da privacidade e dos dados pessoais, em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Patrimônio Digital e Sucessões
O reconhecimento do patrimônio digital e sua transmissibilidade em caso de morte é outra inovação relevante. O Projeto de Lei 4/2025 aborda e regula a possibilidade de bens digitais, como criptoativos, contas em redes sociais e outros ativos intangíveis, serem objeto de herança, o que trará debates sobre a natureza jurídica desses bens e os limites da autonomia da vontade.
Em um ambiente em que se avizinham profundas mudanças no Direito Civil Brasileiro pela proposta de reforma do Código Civil (PL 4/2025); veio-nos ao final de 2024 a Lei nº 15.040/2024 (Lei de Seguros), com vigência prevista para 11 de dezembro do corrente ano. Há que se ressaltar que, quanto ao Código Civil, tem-se ainda um projeto de lei, em que seu conteúdo possui fortes ligações e correlações com a Lei 15.040/2024, especialmente no que se refere à modernização do direito privado brasileiro e à incorporação da realidade digital, ponto este objeto do presente estudo. A principal conexão reside no fato de que a nova Lei de Seguros revoga expressamente os artigos do Código Civil de 2002 que tratam do contrato de seguro, criando um microssistema próprio e com maior detalhamento das relações jurídicas dele decorrente.
-174- Índice
3. A Descodificação do Contrato de Seguro do Código Civil
Atualmente, os artigos 757 a 802 do Código Civil de 2002 regem o tema, mas com a entrada em vigor da nova lei, esses dispositivos serão revogados, e toda a disciplina do contrato de seguro será transferida para um diploma legal específico.
O Código Civil de 2002 dedica os artigos 757 a 802 ao contrato de seguro. A proposta de reforma do Código Civil, elaborada pela Comissão de Juristas, que contou com a expertise da Professora Dra. Angélica Carlini, no Capítulo dedicado ao Contrato de Seguro, tinha como um dos objetivos atualizar e aprimorar esses dispositivos.
No entanto, com a sanção da Lei nº 15.040/2024 em 9 de dezembro de 2024, que entrará em vigor em dezembro de 2025, o cenário mudou drasticamente. A nova Lei de Seguros revoga expressamente os artigos 757 a 802 do Código Civil de 2002.
Isso significa que o contrato de seguro deixa de ser regulado pelo Código Civil para se tornar um microssistema próprio, com uma legislação específica e detalhada. Assim, a proposta de reforma do Código Civil não terá mais um capítulo substancial e autônomo sobre o contrato de seguro, pois essa matéria terá sido deslocada para a Lei 15.040/2024.
Impende, todavia, esclarecer, mesmo que sucintamente, que as discussões nas Audiências Públicas realizadas no âmbito da Comissão de Juristas, visavam:
Modernização da Linguagem e Conceitos: Atualizar a terminologia e os conceitos do seguro, adequando-os à realidade do mercado e à jurisprudência consolidada.
Harmonização com Normas Específicas: Trazer para o Código Civil, de forma mais explícita, a interação com leis como o Código de Defesa do Consumidor e a LGPD, reconhecendo a natureza das relações securitárias e em atenção ao princípio do diálogo das fontes.
Maior Equilíbrio Contratual: Buscar um balanço entre a autonomia da vontade das partes e a
proteç ão do segurado, especialmente em contratos de adesão.
Flexibilização para Grandes Riscos: A possibilidade de diferenciar a regulação dos “seguros de grandes riscos”, negociados entre partes mais paritárias, dos “seguros massificados”, de adesão, seguindo tendências internacionais e a Lei da Liberdade Econômica.
Reconhecimento da Digitalização: Embora não fosse o foco exclusivo, a proposta já considerava a necessidade de o direito do seguro se adaptar aos meios eletrônicos de contratação e comunicação.
Portanto, os principais aspectos de atualização relativos ao contrato de seguro na proposta de reforma do Código Civil devem ser entendidos sob a ótica de que o Código Civil passará a não mais disciplinar o contrato de seguro, delegando essa função à nova lei.
Todavia, aprovada a proposta de reforma do Código Civil, este diploma legal terá como papel principal fornecer os princípios gerais do Direito Digital e Contratual que se aplicarão subsidiariamente ao microssistema da Lei 15.040/2024, garantindo a coesão do ordenamento jurídico frente às inovações tecnológicas. Isso cria uma correlação direta entre o que se propõe alterar no Código Civil, ao lidar com a reformulação de diversos institutos do direito privado. Necessariamente precisaremos ter em conta as alterações para aplicação das bases do direito contratual ao contrato de seguro, sendo certo que muito se influenciará o ambiente jurídico no qual a Lei 15.040/2024 operará. Neste ponto merece destacar que a Lei 15.040/2024 teve origem legislativa ainda em 2004, sendo inolvidável que a sociedade àquela época não detinha ou convivia com tantas inovações tecnológicas e digitais que transformaram práticas contratuais também no âmbito dos contratos de seguro, o que precisará ser objeto de detida atenção dos operadores do direito de modo a evitar um descompasso temporal entre os dois diplomas legais.
4. Intersecções e Pontos de Contato
Neste sentido, trazemos em breves comentários pontos de ligação mais relevantes entre a Lei de Seguros 15.040/2024 e proposta de reforma do Código Civil.
Autonomia Privada e Contratos:
O texto do PL 4/2025 busca reforçar a autonomia privada e a liberdade contratual, ao mesmo tempo em que aprimora mecanismos de proteção para as partes mais vulneráveis. Por sua vez, a Lei 15.040/2024, exige maior transparência e equilíbrio nas relações entre seguradoras e segurados, estabelecendo regras mais claras sobre dever de informação, cláusulas contratuais, prazos para aceitação ou recusa de propostas e cumprimento do contrato, seja com o pagamento de indenizações ou de capitais segurados.
Direito Digital e Meios Eletrônicos:
Como antes dito, a proposta de reforma do Código Civil dedica um capítulo específico ao Direito Digital e embora a Lei de Seguros (Lei 15.040/2024) não tenha um capítulo específico de “direito digital aplicável ao contrato de seguro” como a proposta de reforma do Código Civil, ela é inerentemente impactada pelas práticas tecnológicas e digitais. É o que já ocorre, por exemplo, na contratação de seguros online, na comunicação digital de sinistros ou na análise de riscos com base em dados coletados digitalmente. As regras gerais sobre validade de documentos eletrônicos e responsabilidade por falhas em sistemas, que a proposta de reforma do Código Civil pretende pacificar, terão reflexos diretos na forma como as seguradoras operam e se relacionam com seus clientes no ambiente digital, mesmo que a Lei de Seguros não as reitere detalhadamente.
Responsabilidade Civil:
A proposta de reforma do Código Civil inova ao tratar da responsabilidade civil por danos causados por inteligência artificial e algoritmos. Essa discussão é de grande relevo para o setor de seguros, pois abre frente para novas coberturas securitárias, novas formas de avaliação de riscos e de regulação de sinistros, por exemplo. As condições e coberturas dos seguros de responsabilidade civil, terão que ser adaptadas para cobrir incidentes envolvendo tecnologias emergentes, um tema que a Lei 15.040/2024 ainda não detalha extensivamente, mas que será moldado pelos princípios e regras gerais do Código Civil reformado.
Deveres Anexos à Boa-Fé e Informação:
Tanto a proposta de reforma do Código Civil quanto a Lei de Seguros reforçam a importância dos deveres anexos à boa-fé objetiva, como
o dever de informação e de transparência. A Lei de Seguros estabelece prazos e requisitos mais rígidos para o segurador informar o proponente sobre os termos do contrato, informações sobre o risco proposto e, ainda, a recusa de propostas, por exemplo. Esses princípios gerais de conduta, que a reforma do Código Civil busca consolidar, são essenciais para a relação securitária, que se baseia na confiança mútua e na assimetria de informações.
A Lei 15.040/2024 pode ser vista como uma especialização do direito contratual que era tratado no Código Civil, mas não nos esqueçamos, formulada no início dos anos 2.000. A proposta de reforma do Código Civil, por sua vez, complementa essa especialização ao fornecer o arcabouço teórico e prático para lidar com as novas realidades da sociedade digital e relações contratuais, que impactam transversalmente todos os ramos do direito, incluindo o securitário.
Tem-se, pois, uma expectativa de correlação, de complementaridade e sinergia: enquanto a Lei de Seguros traz a disciplina específica para o contrato securitário, a proposta de reforma do Código Civil oferece os alicerces e os princípios gerais, especialmente em relação ao direito das obrigações, direito digital e responsabilidade civil, que permearão e influenciarão a interpretação e aplicação das normas securitárias no contexto atual.
No que toca ao Direito Digital, embora a Lei de Seguros se revele como um microssistema para o contrato de seguro, a proposta de reforma do Código Civil estabelece os alicerces e princípios gerais do Direito Digital que permeiam todas as relações civis, incluindo as securitárias.
Teremos então, diversos pontos de correlação, dos quais podemos destacar:
Contratação Eletrônica e Assinaturas Digitais:
Reforma do Código Civil: A proposta de reforma busca consolidar a validade e a eficácia dos negócios jurídicos eletrônicos, reconhecendo a manifestação de vontade por meios digitais e a força probatória das assinaturas eletrônicas. Isso é fundamental para a segurança jurídica das transações online.
Lei 15.040/2024: O mercado de seguros tem avançado significativamente na digitalização de seus processos, desde a oferta e contratação de apólices até a comunicação e regulação de sinistros. A validade dos con-
-178- Índice
tratos de seguro celebrados integralmente online, a aceitação de propostas por meios digitais e a formalização de endossos e alterações contratuais dependem diretamente do reconhecimento legal desses meios. A proposta de criação de um Livro próprio para o Direito Civil Digital no Código Civil, ao regular essas questões em âmbito geral, fornece a base para que a Lei de Seguros seja aplicada de forma robusta no ambiente digital, permitindo a inovação em toda a operação e processos de venda e gestão de seguros.
Proteção de Dados Pessoais e Privacidade:
Reforma do Código Civil: A proposta de reforma do Código Civil reforça os direitos da personalidade na esfera digital, art. 2.027-I a 2.027-R, neles incluindo a proteção de dados pessoais e a privacidade, em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Ela busca integrar esses princípios ao arcabouço civil geral.
Lei 15.040/2024: O mercado de seguros lida intensamente com dados pessoais, inclusive dados sensíveis (saúde, histórico de sinistros, informações financeiras) para avaliação de riscos, precificação de prêmios e regulação de sinistros. A Lei de Seguros, embora não se refira objetivamente à LGPD, opera dentro do seu regime. A proposta de reforma do Código Civil, ao solidificar a proteção de dados como um direito civil fundamental, cria um ambiente jurídico em que as seguradoras devem inovar em suas práticas de coleta, tratamento e armazenamento de dados, garantam a conformidade e a confiança dos segurados.
Inteligência Artificial (IA) e Algoritmos:
Reforma do Código Civil: Um dos pontos mais inovadores da proposta é a tentativa de regular a responsabilidade civil por danos causados por sistemas de inteligência artificial e algoritmos. Isso inclui a discussão sobre a atribuição de responsabilidade a desenvolvedores, operadores ou à própria IA em casos de decisões autônomas.
Lei 15.040/2024: A inovação no setor de seguros passa cada vez mais pelo uso de IA e algoritmos em diversas etapas:
Análise de Risco e Subscrição: Algoritmos podem analisar grandes volumes de dados para precificar prêmios de forma mais precisa e personalizada, como, por exemplo, em seguros paramétricos.
Regulação de Sinistros: A IA pode agilizar a análise de pedidos de indenização, detectar fraudes e automatizar processos, identificação de padrões suspeitos, agilidade na análise e conclusão de regulação de sinistros.
Atendimento ao Cliente: Chatbots e assistentes virtuais baseados em IA melhoram a experiência do segurado. A correlação é que as regras de responsabilidade por IA estabelecidas na proposta de reforma do Código Civil terão impacto direto sobre como as operações em que seguradoras desenvolverão e utilizarão essas tecnologias, e como os riscos associados a elas serão cobertos pelos próprios contratos de seguro. A inovação no setor de seguros precisa e precisará considerar os limites e as responsabilidades impostas pela legislação civil geral.
No entanto, não se pode perder de vista os desafios éticos e regulatórios no uso da IA, especialmente no que tange à segurança e exposição de dados pessoais, para estar sempre em conformidade com a LGPD.
5. Desafios Regulatórios e Segurança Jurídica
É necessário criar um ambiente regulatório que fomente a inovação sem comprometer a segurança jurídica. Isso envolve adaptar a legislação à realidade digital, garantindo a validade dos contratos eletrônicos e definindo responsabilidades em cenários cada vez mais tecnológicos e complexos.
6. Novos Produtos e Modelos de Negócio (Inovação)
Reforma do Código Civil: Ao modernizar os conceitos de contratos, propriedade e responsabilidade para a era digital, o Código Civil reformado criará um ambiente mais flexível e seguro para o surgimento de novos modelos de negócios e produtos inovadores.
Lei 15.040/2024: Essa flexibilidade é essencial para o mercado de seguros. A Lei de Seguros, ao consolidar e modernizar as regras do contrato, permite que as seguradoras inovem em produtos como:
Seguros Cibernéticos: Coberturas para riscos digitais (ataques cibernéticos, vazamento e perda de
Índice
-180-
dados), que dependem da compreensão do alcance do ambiente do direito digital.
Seguros Paramétricos: Baseados em dados digitais (sensores, dados climáticos etc.), que disparam indenizações automaticamente quando certas condições são atingidas, sem a necessidade de comprovação de perdas ou regulação de sinistros mais complexas e demoradas.
Seguros “On-Demand”: Contratados e gerenciados digitalmente, com flexibilidade de cobertura e duração da exposição do risco. A proposta de reforma do Código Civil, ao reconhecer a validade e a eficácia das operações digitais e ao estabelecer um regime de responsabilidade para novas tecnologias, pavimenta o caminho para a segurança jurídica desses novos produtos e modelos de negócio no mercado de seguros.
7. Prova Digital
Na Reforma do Código Civil a proposta detalha a admissibilidade e valoração da prova digital em processos civis, reconhecendo a importância de dados eletrônicos (e-mails, mensagens, registros de sistemas) para a comprovação de fatos. Em um sinistro, a prova digital é cada vez mais comum e essencial. Registros de comunicação digital entre segurado e seguradora, dados de dispositivos conectados (IoT) em seguros de automóveis ou residenciais, ou logs de sistemas em casos de seguros cibernéticos, são exemplos. A clareza do texto proposto para atualização de reforma do Código Civil sobre a prova digital facilita a regulação de sinistros e a resolução de litígios no âmbito securitário, tornando o processo mais eficiente e baseado em evidências digitais.
Quanto à Lei nº 15.040/2024, embora não tenha um capítulo específico dedicado ao «direito digital» ou «inovação» de forma explícita, tal como a proposta de reforma do Código Civil, ela impacta diretamente esses temas ao modernizar as regras do contrato de seguro para a realidade do século XXI. Suas inovações criam um ambiente mais favorável para a digitalização e a adoção de novas tecnologias no setor.
8. Conclusão
A convergência entre o Projeto de Lei nº 4/2025, que propõe a reforma do Código Civil, e a Lei nº 15.040/2024, a Lei de Seguros, demonstra, em especial, a necessidade de modernização do direito brasileiro para se alinhar à realidade digital. Embora a Lei de Seguros “descodifique” o contrato de seguro, criando um microssistema próprio e revogando os artigos 757 a 802 do Código Civil, a reforma do Código Civil se mostra complementar.
O Código Civil reformado fornecerá os alicerces e princípios gerais do Direito Digital e Contratual, que permearão e influenciarão a interpretação e aplicação das normas securitárias. A proposta de reforma pacifica questões sobre negócios jurídicos eletrônicos, prova digital, responsabilidade civil por IA e patrimônio digital, que são de extrema relevância para o setor de seguros, o que é essencial para conferir segurança jurídica de novas práticas, como a contratação de apólices online e a análise de riscos com base em dados digitais.
Assim, a Lei de Seguros, embora não tenha um capítulo específico sobre direito digital, é inerentemente impactada por ele. A reforma do Código Civil pavimenta o caminho para a segurança jurídica de novos produtos e modelos de negócio no mercado de seguros, como os seguros cibernéticos e os seguros paramétricos. Essa relação de complementaridade e sinergia entre os dois diplomas legais garante que a inovação no setor de seguros possa se desenvolver, respeitando os limites e as responsabilidades impostas pela legislação civil geral e protegendo a segurança jurídica e a confiança dos segurados.
-182- Índice
Black Hole - A Lacuna Legal Relativa à Não Comunicação do Sinistro
Luiz Tavares Pereira Filho1
Resumo: Após muitos anos de discussão, o texto final da Lei 15.040/2024 afigura-se, razoável e contemporâneo, ao dispor minuciosamente sobre o contrato de seguro. Entretanto, restou uma lacuna, que chamei de black hole, que permite, na prática, subsistir o direito à indenização para o segurado mesmo que ele, culposamente, deixe de comunicar o sinistro à seguradora em prazo razoável. Ela deriva da retirada do texto aprovado, do dispositivo que tratava, originalmente, da decadência, e determinando que o prazo prescricional somente começará a correr após a expressa recusa da Seguradora em dar cobertura ao evento.
Abstract: After many years of discussion, the final text of Law 15.040/2024 appears reasonable and contemporary, as it sets out detailed provisions for insurance contracts. However, a gap remains, which I have called a “black hole,” which, in practice, allows the insured’s right to compensation to persist even if they, through culpability, fail to report the loss to the insurer within a reasonable timeframe. This derives from the removal from the approved text of the provision, that originally addressed the statute of limitations, and which establishes that the prescriptive period will only begin to run after the insurer expressly refuses to cover the event.
Palavras-chave: Decadência, prescrição, comunicação do sinistro.
Keywords: statute of limitation, prescriptive period, claim notice.
1. Introdução
Por meio deste sucinto artigo, pretendo demonstrar que a combinação da disposição da Lei 15.040/2024 sobre a prescrição com a 1 Luiz Tavares Pereira Filho é advogado; foi procurador concursado e Superintendente Jurídico da CVM; exerceu o cargo de Diretor do Departamento Jurídico da SUSEP, tendo sido conselheiro titular do CNSP; por muitos anos, exerceu o cargo de Diretor estatutário da Bradesco Seguros, tendo sido indicado para participar de diversos Conselhos de Administração, inclusive o do IRB e o da Seguradora Líder; mais recentemente, atuou como Diretor Jurídico da CNseg, e vice-presidente da FUNENSEG; atualmente é consultor jurídico.
nova disciplina alusiva ao aviso de sinistro deu ensejo a uma lacuna normativa relevante e prejudicial ao sistema.
Faço desde logo a ressalva de que este artigo não é de crítica à nova Lei, nem pretende apontar nela defeitos insanáveis. Na verdade, afigura-se compreensível que haja, no remexido texto da Lei 15.040/2024, algumas arestas a aparar. Com efeito, depois de 20 anos de tramitação, período durante o qual o projeto inicial passou por uma necessária e proveitosa lipoaspiração, era previsível que algo importante acabaria por se perder.
Restou mesmo uma lacuna, que apelidei de black hole, em razão da qual, na prática, subsiste o direito à indenização para o segurado mesmo que ele, culposamente, deixe de comunicar o sinistro à seguradora em prazo razoável.
É que, segundo a nova Lei, o prazo prescricional somente começará a correr após a expressa recusa da Seguradora em dar cobertura ao evento, eis que só nesse momento estará caracterizada a violação do direito do segurado.
Até aí tudo bem. Mas se ficarmos apenas com essa disposição relativa à prescrição, estaremos diante de um efeito altamente nocivo para o sistema: o sinistro ocorrido e não avisado nunca prescreverá, remanescendo em aberto, porquanto não terá sido objeto de recusa da seguradora!
Não se aponte como solução do dilema a existência do dever do segurado de avisar prontamente o sinistro. Ocorre que a disposição legal que tratava da matéria no Código Civil sofreu profunda modificação, que esvaziou, substancialmente, a sanção para aquele que, por culpa, descumpre aquele dever.
Pretendo aqui analisar esse vácuo normativo, com utilização de uma linguagem mais leve, fugindo da comumente empregada nos maçantes textos acadêmicos. Até porque esta Revista, destinada precipuamente ao setor segurador como um todo, não é para ser lida apenas por advogados.
Ademais, como na fase atribuída a Voltaire, mestre da ironia, sou claro porque sou pouco profundo. Na verdade, penso (aliás, como Voltaire) que não há oposição entre profundidade e clareza: esta ilumina aquela, para o bem da compreensão do Leitor.
-184- Índice
2. Distinção Entre Prescrição e Decadência
Rios de tinta já foram gastos seja na conceituação, seja nos efeitos da prescrição e da decadência, e ainda acerca da distinção entre uma e outra. Deveras, há um ponto comum entre a prescrição e a decadência a justificar a confusão: ambas dizem respeito à passagem do tempo em meio à inércia do titular, gerando graves efeitos em relação à sobrevivência do direito em causa, por via oblíqua (prescrição) ou diretamente (decadência). Como se dizia antigamente em latim “o Direito não socorre a quem dorme” ou, traduzido o brocardo na linguagem popular de Zeca Pagodinho, “camarão que dorme a onda leva”.
Não obstante tratar-se de tema muito batido e debatido, peço clemência aos leitores da RJS para uma brevíssima digressão sobre esses dois institutos do Direito, certamente do conhecimento geral, mas cuja rememoração poderá contribuir para o melhor entendimento das considerações adiante formuladas.
Há inúmeras contribuições doutrinárias de acatados juristas sobre as diferenças entre a prescrição e a decadência. Particularmente, aprecio a sucinta e precisa distinção formulada por Maria Helena Diniz:
“Com o propósito de estabelecer, didaticamente, a distinção entre ambos a doutrina entendeu que: A decadência não seria mais do que a extinção do direito potestativo, pela falta de exercício dentro do prazo prefixado, atingindo indiretamente a ação, enquanto a prescrição extingue a pretensão alegável em juízo por meio de uma ação, fazendo desaparecer, por via oblíqua, o direito por ela tutelado que não tinha tempo fixado para ser exercido. Logo a prescrição supõe direito já exercido pelo titular, existente em ato, mas cujo exercício sofreu obstáculo pela violação de terceiro; a decadência supõe um direito que não foi exercido pelo titular, existente apenas em potência” (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, p. 402).
Também me parece útil destacar do tema alguns aspectos mais relacionados à regulação dos dois institutos:
Outras distinções entre os dois institutos podem ser destacadas: (a) a prescrição, ao contrário da decadência,
pode ser suspensa ou interrompida, excetuando apenas a situação da incapacidade absoluta – art. 3o , CC (arts. 208 e 198, I, CC); (b) a prescrição só corre contra algumas pessoas, enquanto a decadência corre contra todos – erga omnes; (c) a decadência legal, diferentemente da prescrição, não pode ser renunciada (art. 209), a qual pode ser após sua consumação, sem prejuízo de terceiro (art. 191); (d) o prazo decadencial é fixado por lei ou por vontade unilateral ou bilateral das partes (art. 211), enquanto a prescrição somente é fixada por lei (art. 192). (Francisco Ferreira Orge Neto e Jouberto de Quadros Pessoa Cavalcanti. ‘A decadência e a prescrição no direito brasileiro’. Enciclopédia jurídica da PUC-SP).
Rogo atentarem para um aspecto particular que sublinhei na citação acima: a decadência pode ser legal ou convencional, como expressamente dispõe o art. 211 do Código Civil. Voltarei ao assunto
3. Início da Contagem do Prazo Prescricional
Mesmo na vigência das disposições sobre seguro abrigadas no Código Civil de 2002, já se notava um movimento da jurisprudência no sentido de dar nova interpretação ao art. 206, na parte referente ao início da contagem do prazo prescricional no tocante às pretensões atinentes ao seguro. Veja-se o texto legal:
“Art. 206. Prescreve: § 1º Em um ano:
II– a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:
a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;
b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão”.
Índice
-186-
Adicionalmente, estabelece o art. 206, § 3º, IX:
“Art. 206. Prescreve:
[...] § 3º Em três anos:
[...] IX– a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório”.
Em elucidativo texto, Bruno Miragem e Luiza Petersen (Prescrição no contrato de seguro. Revista de Direito do Consumidor. vol. 148. ano 32. p. 209-231. São Paulo: Ed. RT, jul./ago. 2023,) assim relatam a formação da jurisprudência do STJ:
“ Nesse sentido, por ocasião da vigência do Código Civil de 1916, firmou-se, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça da década de 1990, entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado ao pagamento da indenização securitária é a data em que este toma conhecimento do sinistro. Em consonância com esse entendimento, o STJ editou a Súmula 229: ‘O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão’. Nesses termos, o prazo prescricional, que tem início com a ciência do sinistro pelo segurado, é suspenso com o aviso do sinistro ao segurador, assim permanecendo durante todo o procedimento de regulação do sinistro, voltando a correr na data em que o segurado toma conhecimento da decisão do segurador sobre o cabimento ou não da indenização securitária.”
3.1 Evolução da Jurisprudência do STJ
Todavia, o STJ vem abandonando a referida Súmula 229, para adotar outra tese no tocante ao termo inicial do prazo de prescrição. Para essa mudança, vale-se do fundamento de que o Código Civil de 2002 alberga a teoria da actio nata, desenvolvida por Savigny, a qual preconiza que os prazos prescricionais passam a correr a partir do nascimento da pretensão.
Em abono da tese, é invocado o art. 189 do CC, segundo o qual “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição”.
Veja-se, a título de exemplo, excerto da decisão de 2022 da 3ª Turma do STJ, proferida no Resp nº 1.970.111 - MG (2021/0233899-3) relatado pela Ministra Nancy Andrighi:
“Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea “b” do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do “fato gerador da pretensão”. A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o “fato gerador da pretensão”. (Grifei).
3.2 A Prescrição na Nova Lei
Para colocar uma pá de cal nas dúvidas quanto ao termo inicial do prazo prescricional do seguro, a Lei 15.040/2024 estabelece em seu art. 126:
“Art. 126. Prescrevem:
I - em 1 (um) ano, contado da ciência do respectivo fato gerador:
a) a pretensão da seguradora para a cobrança do prêmio ou qualquer outra pretensão contra o segurado e o estipulante do seguro;
b) a pretensão dos intervenientes corretores de seguro, agentes ou representantes de seguro e estipulantes para a cobrança de suas remunerações;
c) as pretensões das cosseguradoras entre si;
Índice
-188-
d) as pretensões entre seguradoras, resseguradoras e retrocessionárias;
II - em 1 (um) ano, contado da ciência da recepção da recusa expressa e motivada da seguradora, a pretensão do segurado para exigir indenização, capital, reserva matemática, prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias e restituição de prêmio em seu favor;
III - em 3 (três) anos, contados da ciência do respectivo fato gerador, a pretensão dos beneficiários ou terceiros prejudicados para exigir da seguradora indenização, capital, reserva matemática e prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias”. (Grifei).
Como se observa do trecho acima sublinhado, o prazo prescricional de um ano conta-se da “ciência da recepção da recusa”, numa redação meio redundante. Como dizia um antigo presidente do Conselho Técnico do IRB, a expressão ali utilizada para espancar dúvidas é “cocada de coco de coqueiro da Bahia”.
4. A Falta de Aviso do Segurado
Já dizia o Barão de Itararé que “tudo seria fácil, se não fossem as di- ficuldades.” É fato, as dificuldades estão aí para atrapalhar a nossa vida. Elas se manifestaram aqui quando modificados os termos do dever legal de o segurado avisar tempestivamente o sinistro, ut infra demonstrabitur ou, sem juridiquês, como será demonstrado abaixo.
4.1 A Obrigação de Avisar o Sinistro Segundo o Código Civil
Vigora ainda o artigo 771 do Código Civil que traz (ou trazia) um certo conforto no tocante ao abandono da referida Súmula 229 do STJ:
“Art. 771 Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências”.
Curto e grosso, o enunciado da norma mitiga (ou mitigava), a interpretação pela qual o prazo da prescrição somente passa a transcorrer após a negativa da seguradora. Mas, de fato, não há (ou havia no CC
de 2002) margem ao surgimento da lacuna temporal entre a ocorrência do sinistro e o aviso: se o segurado demora demasiado a avisar o sinistro, perde o direito à indenização.
Reconheço que o referido art. 771 não oferece a proteção perfeita, pois não estabelece um prazo para que o segurado participe o sinistro ao segurador. Com efeito, a expressão “logo que o saiba” tem um conteúdo aberto quanto ao prazo considerado admissível, mas tem a vantagem de alcançar, com emprego do senso comum, os casos evidentes de negligência do segurado.
4.2 Crítica ao Art. 66 da Lei 15.040/2024
Na tentativa de regular minuciosamente os deveres do segurado ao tomar ciência do sinistro, a Lei 15.040/2024 acabou por esvaziar a sanção por descumprimento da obrigação do segurado de avisar a ocorrência do sinistro tão logo o saiba. Fê-lo ao incluir tal obrigação num mesmo balaio que outras situações (incisos I e III do art. 66, abaixo transcritos) para os quais, por envolverem descumprimento de deveres com consequências menos graves, justifica-se um tratamento mais brando.
Confira-se o inteiro teor do art. 66:
“Art. 66. Ao tomar ciência do sinistro ou da iminência de seu acontecimento, com o objetivo de evitar prejuízos à seguradora, o segurado é obrigado a:
I - tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos;
II - avisar prontamente a seguradora, por qualquer meio idôneo, e seguir suas instruções para a contenção ou o salvamento;
III - prestar todas as informações de que disponha sobre o sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela seguradora.
§ 1º O descumprimento doloso dos deveres previstos neste artigo implica a perda do direito à indenização
-190- Índice
ou ao capital pactuado, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora.
§ 2º O descumprimento culposo dos deveres previstos neste artigo implica a perda do direito à indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.
§ 3º Não se aplica o disposto nos §§ 1º e 2º, no caso dos deveres previstos nos incisos II e III do caput deste artigo, quando o interessado provar que a seguradora tomou ciência oportunamente do sinistro e das informações por outros meios.
§ 4º Incumbe também ao beneficiário, no que couber, o cumprimento das disposições deste artigo, sujeitandose às mesmas sanções.
§ 5º As providências previstas no inciso I do caput deste artigo não serão exigíveis se colocarem em perigo interesses relevantes do segurado, do beneficiário ou de terceiros, ou se implicarem sacrifício acima do razoável.” (Grifei).
No que diz respeito ao parágrafo primeiro acima, possivelmente alguém mais capaz do que este modesto escriba possa imaginar uma situação em que o segurado dolosamente deixe de informar um sinistro à seguradora. Por mais que dê “tratos à bola”, só consigo pensar na hipótese de omissão dolosa em eventual caso de fraude (sabe-se lá como seria). Mas, nessa hipótese, a difícil prova da fraude por si só já é letal para o seguro, sem necessidade de invocar-se a perda de prazo.
O que efetivamente, interessa reprovar é a negligência do segurado que deixa de informar prontamente o sinistro. Ora, nesse caso de culpa do segurado, o §2º enganosamente “castiga” o faltoso com a perda, não da indenização como diz o art. 771 do CC, mas do “valor equivalente aos danos decorrentes da omissão”, seja lá o que isso venha a abarcar. Note-se a inversão de valores e papéis: o segurado negligente permanece com direito à indenização, ao passo que à seguradora, nesse caso, competirá a ingrata tarefa de apurar e comprovar, tempos depois da ocorrência do sinistro, quais danos o atraso no aviso lhe causou...
Desse modo, conclui-se que o art. 66 não pode ser considerado, como o era o art. 771, uma mitigação da nova sistemática de contagem do prazo prescricional iniciada só após a recusa: se o segurado, por negligência, deixar de avisar o sinistro, não incide a prescrição, nem ele perderá o direito à indenização, podendo o risco nunca vir a expirar. É o indigitado buraco negro, que subsiste em detrimento da estrutura lógica da Lei e da boa gestão do seguro, tema mais bem desenvolvido a seguir.
5. Prejuízo à Gestão do Seguro
Vale reproduzir, a respeito da prescrição ânua, a lição do Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Marco Aurélio Bezerra de Mello, citado na recente obra “Lei de Seguros Interpretada”, de autoria de Glauce Carvalhal, Angelica Carlini e outros (Editora Foco, 2025, Indaiatuba-SP, pag. 175):
“Qual a razão da prescrição ânua (art. 206,1º, II, CC) em se tratando de relação jurídica entre segurador e segurado? Por que esse contrato conta com o menor prazo prescricional do direito civil? (...) pelo ponto de vista da seguradora importa o prazo curto para facilitar a gestão do seguro, diminuindo o seu custo, pois um prazo mais dilatado exigiria a manutenção de diversos processos antigos, além de facilitar fraudes e simulações, pois o prazo dilatado pode tornar difícil a defesa da seguradora. (...) o raciocínio adotado, de certa forma se harmoniza com a própria tutela do mutualismo na administração do grupo de segurados.”
A essa argumentação válida, acrescento uma razão econômica que também tem a ver com a mencionada “tutela do mutualismo na administração do grupo de segurados”. É que a sistemática regulamentar de constituição de provisão técnica só admite a sua reversão quando o risco a ela atinente estiver efetivamente expirado.
Assim é que, se deixada em aberto indefinidamente a possibilidade de os sinistros virem a ser avisados muito após a vigência do contrato, a seguradora terá que elevar significativamente o montante das reservas de sinistro de IBNR (sigla em inglês para Sinistros Ocorridos, Mas Não Avisados) para fazer face a essa nova circunstância.
-192- Índice
Essa situação inevitavelmente aumenta os custos financeiros de manutenção de uma carteira de seguros, com impactos, aqui também, na tutela do mutualismo e no valor dos prêmios cobrados. Não precisa ser atuário para concluir: quanto menor for o custo com os sinistros, menores serão os prêmios devidos pelos segurados, sendo verdadeiro também o raciocínio inverso: quanto maiores os custos maiores deverão ser os prêmios.
Aliás, vale aqui lembrar a noção de que a seguradora é, essencialmente, gestora de recursos de terceiros. De fato, no seguro, as pessoas submetidas aos mesmos riscos aportam dinheiro a uma empresa especializada para que esta, com emprego da técnica securitária, calcule o valor dos prêmios a serem cobrados, pague as indenizações devidas e administre eficientemente o fundo comum composto pelos recursos coletados.
A título de ilustração, cumpre lembrar a lição de Picard e Besson, reproduzida por Pedro Alvim no original em francês, que tentei traduzir para a nossa língua (traduttore, traditore):
“O seguro supõe essencialmente o agrupamento de pessoas que, para fazer face a um mesmo risco, suscetível de os atingir, decidem todos participar de um regramento dos sinistros; há assim um compartilhamento, uma combinação de chances felizes e infelizes, e são os prêmios vertidos por todos que permitem a administração das indenizações em proveito daqueles que são atingidos.” (Traité General des Assurrances Terrestres, Paris, 1938, tomo I, pág. 107).
Nesse contexto, é bem de ver, como pontuava jocosamente um ex-segurador, que as economias geradas por meio da correta regulação de sinistros -- o que implica o pagamento somente dos eventos contratualmente cobertos -- tais economias, repito, não irão para o “bolso do dono” da companhia, mas beneficiam sobretudo o grupo segurado sob responsabilidade da seguradora.
Em outras palavras, a eventual recusa do pagamento de reclamação de segurado, por mais impressionável que seja a narrativa do evento (de maior visibilidade no caso do seguro saúde), não constitui ato de crueldade nem de ganância, mas apenas o estrito cumprimento de um dever legal e contratual.
6. Para Eliminar o Black Hole
É certo que o texto final da Lei 15.040/2024 está concluído e temos que com ele lidar tal como se encontra. Todavia, há meios de sanar a falha aqui apontada, através de providência legislativa ou de elaboração contratual.
6.1 Retorno à Redação Original
Não se faça a injustiça de atribuir-se aos autores do projeto de lei que terminou convertido na Lei 15.04/2024 o desacerto de formular um texto avariado, pela existência da referida lacuna. Na verdade, a consulta ao texto original do PL 3.555/04 revela que dele constava um Título V, denominado “Da Prescrição e da Decadência” agora intitulado somente: “Da Prescrição”. Ou seja, a regulação da decadência infortunadamente sumiu do texto.
No curso das negociações que resultaram no texto final da Lei (e falo de cadeira porque delas participei no seu início), a normatização da decadência acabou limada. Eis o que dizia o texto original do Projeto de Lei:
“Art. 145 Decai do direito à indenização ou ao capital, o segurado que deixar de avisar o sinistro à seguradora no prazo de um ano.
Art. 146 Decai do direito à indenização ou ao capital, o beneficiário que deixar de avisar o sinistro à seguradora no prazo de três (3) anos.”
Como se observa, os autores do Projeto já haviam se dado conta de que a nova disciplina da prescrição em conjunto com a regulação modificada do aviso de sinistro carecia de um complemento para não se gerar o black hole.
Pois bem. Detectado agora o erro na supressão desses dois artigos, é mister trazê-los de volta, mediante a apresentação e aprovação de emenda aditiva ao texto legal a ser aprovada pelo Congresso.
Certamente, não virá dos autores do PL que resultou na Lei a oposição à dita emenda, que mais não representa senão o retorno à redação original por eles proposta.
-194- Índice
Essa é a solução jurídica mais eficaz e insuscetível de contestação. Reconheço, porém, que a aprovação de emenda a um texto legal tão recente é de difícil execução, demandando tempo e esforços de convencimento. Daí, o oferecimento de uma segunda sugestão.
6.2 Decadência Convencional
Como mencionado no início deste artigo, e certamente os nossos atentos Leitores não o esqueceram, o art. 211 do Código Civil dispõe que a decadência pode ser legal ou convencional.
A proposta que faço, na falta de um conserto definitivo do texto da Lei 15.040/2024, é que as Seguradoras insiram nas apólices de seguro cláusula estipulando a decadência, incidente nos prazos de um ano e três anos para o segurado e beneficiário, respectivamente, que poderiam ter mais ou menos o enunciado dos artigos 145 e 146 acima reproduzidos.
Acredito que não haverá censura a essa cláusula por parte dos órgãos de regulamentação e fiscalização do seguro, haja vista que o tema constava do projeto original e a sua inclusão solucionará um problema efetivamente existente na gestão dos seguros. De resto, a manutenção da lacuna implicará, mais cedo ou mais tarde, na elevação dos prêmios, em oneração aos consumidores do seguro.
Resta saber como o Judiciário interpretaria a cláusula, mas esse é um risco aparentemente pequeno, visto que o reconhecimento da decadência convencional estaria estribado em artigo expresso de lei. Ademais, a regra equacionaria uma questão que, uma vez não solucionada, certamente descambaria em desgastantes demandas judiciais, haja vista a controvérsia que já se coloca, no caso omissão culposa do segurado (art. 66, §2º, da Lei 15.040/2024), quanto à definição e quantificação da perda do direito à indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.
7. Conclusão
Após muitos anos de discussão, o texto final da Lei 15.040/2024 afigura-se, a meu ver, razoável e contemporâneo, ao dispor minuciosamente sobre o contrato de seguro. Com efeito, o novel diploma legal incorpora a jurisprudência recente dos Tribunais e atende suficientemente aos reclamos da segurança jurídica, inobstante padecer de inclinação um tanto exagerada em favor dos consumidores.
Sucede, porém, que ao longo das intensas e prolongadas discussões que efetivamente aperfeiçoaram o anteprojeto, perdeu-se de vista a necessidade de regular a hipótese da decadência. Esta deveria incidir quando o segurado deixa indefinidamente de avisar o sinistro, situação essa deletéria para a gestão do seguro e para a própria aplicação da nova legislação.
Espero ter apresentado aqui os lineamentos da lacuna legal existente e ter apontado soluções viáveis para tratá-la. Como dizia o saudoso cronista Stanislaw Ponte Preta, pseudônimo do escritor Sérgio Porto, “há ausências que preenchem uma lacuna”. Não é esse definitivamente o caso do buraco negro objeto deste artigo.
Os Seguros Auto no Âmbito da Lei n.º
15.040/2024
Marcelo Barreto Leal1
Resumo: O objetivo do presente trabalho é apresentar uma visão geral introdutória a respeito dos artigos incidentes aos contratos de seguro auto, constantes na Lei n.º 15.040/2024, LCS, a nova Lei dos Contratos de Seguros, e visitar os principais temas de discussão sobre os clausulados oferecidos pelos players, quando de sua execução, sob a perspectiva do novo marco legal, especialmente quanto a: cláusula perfil, embriaguez ao volante e alocação de garantias.
Abstract: The objective of this paper is to present an initial overview of the articles applicable to auto insurance contracts, as set out in Law No. 15,040/2024, the new Insurance Contracts Law, and to visit the main topics of discussion regarding the clauses offered by players, upon their execution, from the perspective of the new insurance legal framework, especially the profile clause, drunk driving and allocation of guarantees.
Palavras-chave: Contrato, Seguro, Risco, Veículos, Marco Legal.
Keywords: Contract, Insurance, Risk, Vehicles, Legal Framework.
Sumário: Introdução. 1. Cláusula Perfil e o Novo Marco Legal. 2. Embriaguez ao Volante e o Seguro Auto na Nova Lei. 3. Alocação de Garantias e a Nova Lei de Contratos de Seguros. Considerações Finais. Referências Bibliográficas.
1. Introdução:
Como constante na exposição de motivos do então projeto de lei identificado como “PL 2597/2024”, cuja versão anterior, o “PL 3555/2004”, que após aprovação no Congresso culminou na Lei n.º 15.040, de 9 de dezembro de 2024, um dos principais desideratos do novo marco legal é a proteção do cidadão, do segurado pessoa física.
1 Bacharel em Direito e Especialista em Direito, Mercado e Economia-PUCRS; Mestre em Direito da Empresa e dos Negócios-UNISINOS; Doutor em Direito Político e Econômico-U.P. MACKENZIE; Especialización en Derecho de Seguros-U.de SALAMANCA-España; Diretor Vice-Presidente de Comunicação da AIDA; Presidente do GIT Seguros Auto-CILA-AIDA. Advogado - Sócio Administrador da Torelly Bastos Advocacia.
A aprovação do novo Marco Legal de Seguros, Lei n.º 15.040, de 9 de dezembro de 2024, sinaliza uma retomada do movimento pró criação de microssistemas legais no Direito Brasileiro, especialmente, quando se percebem opções claras de distanciamento do sistema ordinário, na busca de uma especialização para o atendimento de demandas específicas do setor, outra de suas justificativas.
Ao se analisar os seguros auto sob a perspectiva da nova lei, verifica-se que ao contrário de outros contratos de seguros, os de auto não obtiveram um tratamento específico, apenas compartilhando com outros, a classificação como seguro de dano. Desse modo, os artigos constantes na Lei n.º 15.040/2024, vez ou outra, incidirão nos seguros auto, de um modo amplo, porém caracterizadamente, no que couber.
Tendo em vista o objetivo do presente trabalho, qual seja, o de enfrentar os principais temas controvertidos na execução dos contratos de seguros auto, a abordagem se dará a partir dos respectivos artigos de lei que venham influenciar o tema eleito.
Em relação à cláusula perfil, se destacam a Seção III, do Capítulo I, do NML, compreendida pelos artigos 9º a 18, que trata do elemento essencial dos contratos de seguros, o risco; a Seção VIII, do Capítulo I, compreendida pelos artigos 41 a 53, que trata da formação e da duração do contrato; e a Seção X, do Capítulo I, compreendida pelos artigos 56 a 59, que trata da interpretação do contrato. Já a embriaguez ao volante, terá como ponto de atenção também as Seções III e VIII, já citadas. Finalmente, em relação à alocação de garantias, a análise recairá sobre a Seção X, já citada, bem como da Seção I, do Capítulo II, compreendida pelos artigos 89 a 97, que trata dos seguros de danos; e Seção II, do Capítulo II, compreendida pelos artigos 98 a 107, que trata dos seguros de responsabilidade civil.
2. Cláusula Perfil e o Novo Marco Legal
A chamada “cláusula perfil”, em verdade um conjunto de disposições contratuais, fruto de respostas fornecidas pelo segurado à seguradora a partir de um questionário elaborado por esta, objetiva a delimitação do risco e, por consequência, da respectiva garantia a partir do apartamento da assimetria informacional preexistente entre as partes contratantes, especialmente, por parte do ente segurador.
-198- Índice
Uma vez delimitado o risco a partir do perfil de segurado traçado pelas respectivas respostas ao questionário, a execução do contrato deverá guardar identidade com as informações fornecidas pelo segurado à seguradora, sob o manto da boa-fé em seu caráter objetivo, eis que as garantias oferecidas e contratadas se basearam nas informações livremente prestadas pelo segurado.
Desse modo, o art. 13 da Lei n.º 15.040/20242, estabelece que o segurado não deve agravar intencionalmente e de forma relevante o risco objeto do contrato de seguro, sob pena de perder a garantia. Em seu § 1º, se define o significado do conceito de relevante, qual seja, o agravamento que conduza ao aumento significativo e continuado da probabilidade de realização do risco descrito no questionário de avaliação de risco referido no art. 44 da lei ou da severidade dos efeitos de tal realização.
Por sua vez, o art. 44 no seu caput, estabelece que o potencial segurado ou estipulante é obrigado a fornecer as informações necessárias à aceitação da proposta e à fixação da taxa para cálculo do valor do prêmio, de acordo com o questionário que lhe submeta a seguradora.3
2 Art. 13. Sob pena de perder a garantia, o segurado não deve agravar intencionalmente e de forma relevante o risco objeto do contrato de seguro.
§ 1º Será relevante o agravamento que conduza ao aumento significativo e continuado da probabilidade de realização do risco descrito no questionário de avaliação de risco referido no art. 44 desta Lei ou da severidade dos efeitos de tal realização.
§ 2º Se a seguradora, comunicada nos termos do art. 14 desta Lei, anuir com a continuidade da garantia, cobrando ou não prêmio adicional, será afastada a consequência estabelecida no caput deste artigo.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l15040.htm, acesso em 14 de julho de 2025.
3 Art. 44. O potencial segurado ou estipulante é obrigado a fornecer as informações necessárias à aceitação da proposta e à fixação da taxa para cálculo do valor do prêmio, de acordo com o questionário que lhe submeta a seguradora.
§ 1º O descumprimento doloso do dever de informar previsto no caput deste artigo importará em perda da garantia, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora.
§ 2º O descumprimento culposo do dever de informar previsto no caput deste artigo implicará a redução da garantia proporcionalmente à diferença entre o prêmio pago e o que seria devido caso prestadas as informações posteriormente reveladas.
§ 3º Se, diante dos fatos não revelados, a garantia for tecnicamente impossível, ou se tais fatos corresponderem a um tipo de interesse ou risco que não seja normalmente subscrito pela seguradora, o contrato será extinto, sem prejuízo da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora.
Aqui a grande novidade é o conceito de relevância, qual seja, o aumento significativo e continuado do risco. Em relação à primeira expressão, “significativo” parece não haver dificuldade quando de sua aplicação, posto que em uma interpretação literal, traz-se a ideia de plenitude de significado em relação ao aumento do risco originalmente garantido; contudo, a expressão “continuado”, aquilo que se prolonga sem interrupção, contínuo, ininterrupto contém séria trava à aplicação do conceito de agravamento de risco, eis que em uma primeira leitura, parece afastar o comportamento de oportunidade do segurado diante de um evento ensejador de sinistro. Aqui, a melhor interpretação que se poderia dar à expressão naturalmente equívoca, no contexto do contrato de seguro, seria o de continuidade analisada do ponto de vista endógeno, ou seja, se o evento causador de sinistro foi causado por um fator continuado durante o evento e não exógeno ao evento, em que se perquiriria a respeito do número de oportunidades em que o segurado praticou tal agravamento.
Tratando-se o contrato de seguro de espécie do tipo aleatório em que há uma desproporção entre as obrigações envolvidas (prêmio e garantia), afrouxar a interpretação ao instituto do agravamento, ensejaria a possibilidade de perfectibilização do fenômeno de moral hazard, risco moral, quando a parte contratante, no caso o segurado, tendo determinadas informações, muda seu comportamento porque sabe que a outra parte, a seguradora, arcará com as consequências de suas ações.
Os parágrafos do art. 44, estabelecem as consequências da inobservação do dever de informação, que são: no caso de descumprimento doloso do dever de informar, a perda da garantia, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora, e no caso de descumprimento culposo do dever de informar implicará a redução da garantia proporcionalmente à diferença entre o prêmio pago e o que seria devido caso prestadas as informações posteriormente reveladas. Aqui, pelas mesmas razões apontadas em relação ao agravamento de risco quanto ao elemento de continuidade do conceito de relevância, se estabelece um moral hazard.
Finalmente, se, diante dos fatos não revelados, a garantia for tecnicamente impossível, ou se tais fatos corresponderem a um tipo de interesse ou risco que não seja normalmente subscrito pela seguradora, o contrato será extinto,
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l15040.htm, acesso em 14 de julho de 2025.
Índice
-200-
sem prejuízo da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora. Aqui, torna-se pertinente o exame de tais disposições sob o prisma do princípio do mutualismo. Assim sendo, cabe à empresa angariadora de seguros prospectar segurados, cobrar e receber deles os prêmios devidos, organizar a mutualidade de acordo com as mais refinadas técnicas e determinações oficiais, de tal sorte que os azares que golpearem alguns dos segurados sejam suportados pela coletividade por ela administrada.
O segurador, por sua vez, realizará pagamentos de capitais com o fundo constituído pelos prêmios pagos pelo conjunto de segurados que compõem a mutualidade, sendo, portanto, gestor de fundos constituídos com recursos pecuniários de terceiros (segurados), o que significa dizer que lida com a economia popular, razão pela qual, universalmente, as sociedades seguradoras são submetidas a intenso controle do Estado.4
Importante destacar que não existe assunção do risco por parte do segurador. Ele não se utiliza de recursos próprios para fazer frente as indenizações, restringida sua responsabilidade e atuação à gestão de um fundo comum constituído com recursos de uma coletividade de pessoas, fundo este que garante, na hipótese de ocorrência de determinado evento adverso e danoso, uma compensação econômica limitada e particularizada no contrato de seguro.5
Benes (2020), por sua vez, enfrenta o tema risco moral, originado do termo inglês moral hazard, avaliando seus efeitos depois de realizada determinada transação, em que uma das partes, sabendo da dificuldade da outra em fiscalizar sua conduta, aproveita-se desse incentivo para, de maneira negligente ou oportunista, alterar seu comportamento, gerando desequilibro na relação jurídica estabelecida.
Importante salientar que o risco moral tem influência relevante no desempenho de um contrato, tanto assim o é que, normalmente, as partes contratantes costumam estabelecer condições de norma de
4 CAMPOY, Adilson José. Contrato de seguro de vida. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
5 SENHORA BENES, Victor. A DOENÇA PREEXISTENTE NO SEGURO DE VIDA: Uma Análise da Súmula 609 do STJ à Luz da Law & Economics. Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP. São Paulo. 2020. São Paulo. 2020.
conduta e sanções aplicáveis àquele que desviar seu comportamento, valendo-se da dificuldade do outro em fiscalizá-lo.
O objetivo é, justamente, o de gerar incentivo para que a conduta seja sempre a de boa-fé durante todo o desenrolar do negócio e o contrato se mantenha eficiente como se desejou no início. Fácil perceber que o risco moral é um grande problema para o seguro, já que, muitas vezes, o fato de o segurado possuí-lo gera nele o sentimento de que as consequências materiais de um sinistro sempre terão o respaldo do segurador, incentivando-o a alterar seu comportamento em relação ao seu zelo sobre o interesse legítimo segurável.6
Aqui, torna-se pertinente o tema das tragédias dos “bens comuns”, tão bem tratado pela ciência econômica. Para Garrett Hardin (2024), o termo simboliza uma esperada degradação do meio ambiente sempre que muitos indivíduos usam um recurso “comum”, assim classificado quando alguém não é proprietário do bem da vida, ou alguém é realmente responsável por ele, refletindo uma situação em que o conjunto de indivíduos exerce livre usufruto do bem comum e, justamente por isso, acabam por sobre utilizá-lo, levando-o à degradação, pois o exploram além do que seria socialmente desejável. Dito de outra forma, trata-se de uma situação em que os interesses individuais colocam em risco os interesses coletivos, pois quanto mais se utilizam desses bens (comuns), menos deles haverá para todos.
Tal argumento se funda no fato de que a propriedade coletiva fatalmente acabará sendo negligenciada e, por acabar descuidada, vir a ser irremediavelmente degradada, visto que todos os usuários do referido recurso tentarão, individualmente, dele extrair o máximo, vindo a prejudicar toda a coletividade que necessita do mesmo recurso. Se todos são proprietários de um bem em comum, provável será que ninguém mantenha as devidas cautelas com relação a tal propriedade.
Esse raciocínio se aplica com perfeição ao tema do mutualismo, posto que, em se tratando de bem comum, quais sejam, os valores à disposição da comunidade mutual, a calibragem dos contratos de seguros
6 SENHORA BENES, Victor. A DOENÇA PREEXISTENTE NO SEGURO DE VIDA: Uma Análise da Súmula 609 do STJ à Luz da Law & Economics. Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP. São Paulo. 2020. São Paulo. 2020
-202- Índice
precisa ser muito bem auferida, para que não se degrade, custando mais cara a reposição de recursos por meio de prêmios cada vez mais altos para participantes e entrantes, ao longo da execução da contratualidade.
Na esteira, importante a relação do princípio do mutualismo e a ideia de redes contratuais, tão bem trabalhada por Konder (2006), notadamente, ao afirmar que o fato de os contratos se encontrarem em rede significa que o adimplemento de cada um beneficia não apenas o contratante singular, mas, indiretamente, todos os integrantes do sistema, pois colabora nesta finalidade supra contratual econômica. De outro lado, o inadimplemento prejudica também a todos, na medida que gera desequilíbrio econômico no sistema. Nesse ambiente, todas as partes se utilizam de pluralidade de contratos para obter a finalidade que não se pode, ou não se deseja, obter por meio de um único contrato. A finalidade, portanto, é a distribuição de um sobrevalor que se funda na existência do sistema e que depende do seu equilíbrio para se manter. Esse equilíbrio, por sua vez, não se restringe àquela correspectividade bilateral, mas se expande para se referir a todo o sistema. Há uma reciprocidade entre o que cada um dos integrantes do sistema paga e o que o sistema pode satisfazer de acordo com a racionalidade econômica. Nas redes, o equilíbrio impõe aos membros deveres de proteção.7
Diante de tais reflexões, será fundamental que o órgão regulador se preocupe com uma modulação da aplicação dos citados artigos que se coadune com o princípio do mutualismo prevenindo falhas de mercado, qual seja, a disfuncionalidade entre a interação de agentes econômicos fornecedores de serviços e respectivos tomadores, sob pena de em não o fazendo, criar falhas de governo: disfunção entre agentes do mercado por conta de um excesso ou equívoco regulatório.
3. Embriaguez ao Volante e o Seguro Auto na Nova Lei
Atualmente, a problemática a ser ora analisada resulta da adoção pelo Superior Tribunal de Justiça de entendimentos, diametralmente opostos, em relação à embriaguez ao volante e seus efeitos para os contratos de seguros de vida (pessoas) e de veículos (dano).
7 KONDER, Carlos Nelson. Contratos Conexos: Grupos de Contratos, redes contratuais e contratos coligados. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
Com relação ao seguro de dano, a orientação da Corte tem se dado pela possibilidade de negativa de cobertura em caso de embriaguez, bem como pelo estabelecimento de uma presunção de agravamento do risco em casos tais. A partir da decisão do Leading Case sobre o tema, Recurso Especial n.º 1.485.717/SP, definiu-se que, demonstrada a embriaguez, cujo ônus probatório é da cia. seguradora, estabelece-se uma presunção relativa de que a embriaguez foi causa determinante do sinistro, comportando prova em contrário, caso o segurado demonstre que o sinistro ainda assim teria ocorrido por fatos não relacionados ao manejo do veículo em estado de ebriedade.
Vale relembrar que o estabelecimento de clausulado contendo a embriaguez como excludente de cobertura foi objeto de consulta que resultou no parecer exarado por meio da Carta Circular SUSEP/ DETEC/ GAB/ Nº 8/2007, que autorizou, excepcionalmente, a inclusão da embriaguez (desde que comprovada, a embriaguez e o nexo causal) como risco excluído em seguro de veículos. Disso não resultando, porém, a invalidade ou que não seja possível a negativa de cobertura com base no agravamento do risco, independentemente da previsão contratual.
A jurisprudência desenvolvida acerca da matéria veio confirmar a possibilidade de negativa de cobertura de seguro veículo em caso de embriaguez do segurado, sob a perspectiva do agravamento do risco. Nesse aspecto, a jurisprudência sofreu mudanças perceptíveis. Anteriormente a dezembro de 2016, os primeiros julgados estabeleciam como ônus do segurador, para fins de perda do direito à cobertura, a prova da embriaguez e do nexo causal entre o estado de ebriedade e o sinistro, ou seja, o segurador deveria provar que a embriaguez foi causa determinante do sinistro8. A partir do julgado REsp n. 1.485.717/ SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 14/12/20169, vislumbra-se uma
8 E.g.: AgRg no AREsp n. 411.567/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/11/2014, DJe de 10/11/2014; AgRg no REsp n. 1.534.564/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 3/2/2016; AgInt no AREsp n. 746.787/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 26/6/2017.
9 No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.632.921/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 8/8/2017; AgInt no REsp n. 1.711.361/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado
-204- Índice
mudança de entendimento no sentido de que, uma vez demonstrada a embriaguez (cujo ônus ainda recai ao segurador), estabelece-se uma presunção relativa de que a embriaguez deu causa ao sinistro, que poderá ser ilidida caso o segurado demonstre que o sinistro ainda assim teria ocorrido (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada entre outros).
Há defensores de que o tema poderia voltar à pauta, já que a Circular SUSEP n.º 621, de 12 de fevereiro de 2021, em seu art. 23, veda a inclusão da embriaguez no rol de riscos excluídos, sem prejuízo da perda de direito à indenização em caso de comprovado agravamento do risco, repristinando a obrigação do segurador de fazer prova do nexo causal entre agravamento e sinistro, nos termos seguintes10:
Art. 23. É vedado constar no rol de riscos excluídos do seguro eventos decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de embriaguez ou sob efeito de substâncias tóxicas.
Parágrafo único. O estado de insanidade mental, a embriaguez e o uso de substâncias tóxicas pelo segurado podem ser considerados como causas de agravamento de risco suscetível de levar à perda da cobertura, desde que a sociedade seguradora demonstre no caso concreto que tais situações tenham sido determinantes para a ocorrência do sinistro.
do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018; AgInt no AgInt no REsp n. 1.631.270/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018; REsp n. 1.749.954/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 15/3/2019; AgInt no AREsp n. 1.534.052/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020; AgInt no AREsp n. 1.625.493/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020; AgInt no AREsp n. 1.669.759/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020; AgInt no AREsp n. 1.878.082/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.
10https://www2.susep.gov.br/safe/scripts/bnweb/bnmapi.exe?router=upload/26980; acesso em 14 de julho de 2025.
Público e notório, eis que o tema é debatido com frequência em simpósios e seminários de caráter científico. Autoridades que auxiliaram na redação da norma, ou são responsáveis pela interpretação do instrumento regulatório em ambiente administrativo e interno, declaram que tal dispositivo não tem por objetivo afastar a possibilidade de redação de clausulados que excluam os riscos de embriaguez associada ao volante de cobertura em seguros de danos, notadamente, seguros auto.
O objetivo de tal redação teria sido, desenhar os parâmetros gerais dos seguros de danos como mais abrangentes, impedindo os agentes econômicos seguradores, de utilizar redações que descaracterizassem os produtos de seguros, de forma a propiciar negativa associada a sinistro que tivesse como causa a embriaguez por si só.
Ainda em relação ao seguro de dano, superando tese fixada em precedentes anteriores, o STJ estabeleceu não ser oponível ao terceiro prejudicado a causa excludente do dever de indenizar consistente na embriaguez do segurado. Inicialmente, a jurisprudência alinhou-se no sentido da validade de cláusula de exclusão de risco em razão da embriaguez do condutor do veículo segurado, cujos efeitos se estendiam aos terceiros prejudicados pelo sinistro11. O entendimento antes minoritário veio a prevalecer, numa guinada jurisprudencial, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.738.247/SC, relatado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 10/12/2018, estabelecendo-se a tese, hoje prevalente, de que:
Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco.
Sob perspectiva do agravamento de risco, todo o explicitado na seção anterior, a respeito da aplicação do art. 13 do novo marco legal c/c o art. 44 é, mutatis mutandis, aplicável à situação da embriaguez.
11 REsp n. 1.441.620/ES, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 23/10/2017.
-206- Índice
Por sua vez, cabe aqui enfatizar as funções do princípio da boa-fé, previsto no art. 56 da NMCS, que estabelece como critério de interpretação e execução, assim como o princípio da função social dos contratos, previsto no art. 125.12
Sobre a boa-fé, a esse respeito, Teresa Negreiros (1998) compartilha da tese que, no âmbito do Código Civil de 1916, não havia preceito genérico que previsse expressamente o princípio da boa-fé, especialmente o da boa-fé objetiva. As numerosas remissões expressas à boa-fé, retratadas naquele Código, salvo algumas esparsas e casuísticas exceções, importam uma apreciação subjetiva da conduta, não se confundindo com a vertente da boa-fé chamada objetiva, incidente sobre o direito obrigacional.13
A boa-fé objetiva, também denominada boa-fé lealdade, caracteriza-se como o dever de agir de acordo com determinados padrões socialmente recomendados de correção, lisura e honestidade, para não frustrar a confiança legítima da outra parte. Pode-se notar que, tanto na boa-fé subjetiva, quanto na boa-fé objetiva, existe um elemento subjetivo, representado pela confiança de alguém que acreditou em algo, mas, somente na boa-fé objetiva, há um segundo elemento, que é o dever de conduta de outrem. 14
A boa-fé objetiva qualifica uma norma de comportamento leal. Não se apresenta como princípio geral, ou como a espécie de panaceia de cunho moral, mas como modelo jurídico, na medida em que se reves-
12 Art. 56. O contrato de seguro deve ser interpretado e executado segundo a boa-fé. Art. 125. As garantias dos seguros obrigatórios terão conteúdo e valores mínimos, de modo a permitir o cumprimento de sua função social. Parágrafo único. É nulo, nos seguros obrigatórios, o negócio jurídico que direta ou indiretamente implique renúncia total ou parcial da indenização ou do capital segurado para os casos de morte ou de invalidez. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l15040.htm, acesso em 14 de julho de 2025
13 NEGREIROS, Teresa Paiva de Abreu Trigo de. Fundamentos para uma interpretação constitucional do princípio da boa-fé. Rio de Janeiro: Renovar, 1998.
14 NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais São Paulo: Saraiva, 1994.
te de variadas formas, denotando, em sua formulação, diversidade de elementos, articulados entre si, em uma unidade com sentido lógico.15
Feita a necessária distinção, cabe enfatizar que é a boa-fé objetiva que interessa ao presente trabalho, pois os contratos constituem-se em seu principal ponto de aplicação. A boa-fé contratual, especificamente, traduz-se no dever de cada parte agir de forma a não fraudar a confiança da contraparte, alcançando, como adverte Karl Larenz (1957), outros participantes da relação jurídica.16
Na visão de António Manuel Menezes Cordeiro (2007), ao analisar o princípio da boa-fé, o comportamento das pessoas deve respeitar um conjunto de deveres reconduzidos em um prisma juspositivo e uma ótica histórico-cultural. As verificações anteriores permitem detectar quais são esses deveres, nascidos na fase preliminar do negócio jurídico, mas exigíveis também em sua execução.17
As partes estão obrigadas a, na vigência do contrato que as une, informarem-se mutuamente sobre todos os aspectos atinentes ao vínculo, sobre as ocorrências que, com ele, tenham certa relação e, ainda, sobre todos os efeitos que, da execução contratual, possam advir. Quanto aos deveres acessórios de lealdade, estes obrigam as partes a, na pendência contratual, absterem-se de comportamentos que possam falsear o objetivo do negócio ou desequilibrar o jogo das prestações por elas consignado.18
Como bem assinalado por Francisco Galiza (1997), as informações, em se tratando do mercado segurador, não são perfeitamente conhecidas por todos os agentes econômicos envolvidos, ou seja, não são simétricas. Há o risco de deformação dos contratos, quando surgem alterações de comportamento do segurado após a assinatura dos
15 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
16 LARENZ, Karl. Derecho de obligaciones. 2. ed. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1957.
17 CORDEIRO, António Manuel da Costa e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 2007.
18 Ibidem.
Índice
-208-
instrumentos, pelo que o agente segurador terá extrema dificuldade em controlar perfeitamente essas mudanças, fato que só depende do segurado e de seu padrão moral. Tem-se aqui estabelecido um conceito importante, qual seja, o de perigo moral.19
Desse modo, ao se insculpir o princípio da boa-fé objetiva nos contratos de seguro, de modo a poder ser observado pelo agente econômico segurador, pelo segurado e, de igual forma, pela mutualidade, está-se a reduzir os custos de transação, eis que as informações transmitidas, presumida sua boa-fé, são a referência de avaliação do risco, baseando-se o agente econômico nessas informações para precificar o prêmio a ser adim- plido. É, portanto, o princípio da boa-fé ferramenta imprescindível para o equilíbrio da transação e a redução de custos ao segurado/consumidor, razão pela qual, sua não observância deve render penalidades contratuais.
Da mesma maneira, acrescenta o autor, as informações atinentes à cobertura precisam ser claramente disponibilizadas para que o segurado saiba as garantias que está adquirindo. A clareza, a correição e a lealdade são a via de mão dupla a ser trafegada: está-se a falar em cooperação. Os problemas surgem exatamente, quando interpretações distorcidas diminuem a relevância e a densidade que a boa-fé ocupa no seio da formação do contrato de seguro.20
Neste ponto, ressalta-se o equilíbrio que é proporcionado pelo seguro num cenário de respeito às regras do jogo, como destacado por Wendler (2019), ao afirmar que o contrato de seguro pode ser considerado economicamente eficiente quando oferece tranquilidade ao segurado de ser indenizado em caso de sinistro, evitando o prejuízo econômico. E, para a seguradora, a eficiência é identificada pelo fato de somente pagar a indenização para os riscos que foram, previamente, assumidos e nos exatos limites da apólice, observados os cálculos atuariais e obedecidas as cláusulas do contrato.21
19 GALIZA, Fernando. A economia do seguro: uma introdução. Rio de Janeiro: Funenseg, 1997.
20 GOLDBERG, Ilan. Confiança, cooperação, máxima boa-fé e o contrato de seguro. Revista Jurídica de Seguros, Rio de Janeiro, 2017.
21 WENDLER, Anne Caroline, A boa-fé objetiva nos contratos de seguro de vida: Uma análise de decisões judiciais, Centro Universitário Curitiba– Unicuritiba, Curitiba, 2019.
Para Petersen (2024), o significado atual da boa-fé no seguro deve ser compreendido a partir da percepção objetiva, como já comentado. Esta percepção, segundo a autora, resultou na própria transformação do dever de máxima boa-fé no seguro. Em um fenômeno de simbiose, este se desenvolve e passa a ser compreendido sob influxos da boa-fé objetiva. O dever de boa-fé no seguro tem seu conteúdo objetivo (normativo) potencializado, para além da declaração inicial do risco, função tradicional. Assim, sua dimensão objetiva passa a ser objeto de significativa sistematização doutrinária e intensa aplicação jurisprudencial. Trata-se de fenômeno inerente à centralidade adquirida pelo princípio da boa-fé no direito privado brasileiro.22
Assim, o princípio da boa-fé é, em verdade, o real viabilizador econômico do contrato de seguro, posto que atenua os desafios da quebra de assimetria informacional entre as partes contratantes tornando menos custosa a validação de informações e, portanto, criando um conjunto de relações obrigacionais mais eficiente, que se verifica de modo muito intenso nas operações de seguros auto.
Sobre a concepção da função social no modelo em análise, dos vários significados da palavra função, a que mais se coaduna com o emprego feito pelos cientistas sociais funcionalistas é a de analogia à função biológica em que a função de um processo fisiológico recorrente é assim uma correspondência entre esse e as necessidades do organismo. Desse modo, na esfera social em que os indivíduos (unidades essenciais) estão ligados por redes de relações sociais integradas no todo (sistema), a função “social” de qualquer atividade recorrente é a parte de seu desempenho como um todo e, portanto, a contribuição que dá à manutenção da continuidade estrutural.23
O Novo Marco Legal de Seguros, Lei n.º 15.040, de 9 de dezembro de 2024, significa uma retomada desse movimento de criação de microssistemas legais no Direito Brasileiro, especialmente, quando se percebem opções claras de distanciamento do sistema ordinário buscando-se uma especialização para o atendimento de demandas específicas do setor, que seria a justificativa. A função social do contrato
22 PETERSEN, Luiza. Boa-fé no Contrato de Seguro. Indaiatuba: Foco. 2024.
23 TIMM, Luciano Benetti. Direito contratual brasileiro: críticas e alternativas ao solidarismo jurídico. 2. ed. São Paulo: Atlas. 2015.
-210- Índice
é inserida em nosso ordenamento com base nesse contexto, qual seja, migra-se de um modelo de protagonismo da autonomia de vontade para outro em que esta é relativizada não só pelo princípio da boa-fé, mas por todo um conjunto de ideias que visam proteger o interesse coletivo em detrimento da vontade das partes, quando em tese, esta, de algum modo, pudesse prejudicar o sentido coletivo.
Hodiernamente, ainda sobre a função social do contrato, importante se faz analisar a revisão do tema, o que se constata pela inserção do parágrafo único no art. 421, bem como o art. 421-A, no Código Civil Brasileiro, pela Lei nº 13.874, de 2019, “Lei de Liberdade Econômica”. Notadamente, houve um movimento do legislativo no sentido de atenuar a aplicação do princípio da função social dos contratos, presumindo-se as relações negociais como paritárias e estabelecendo-se a revisão dos contratos como algo excepcional e invulgar.
Sob o prisma da Análise Econômica do Direito, a função social do direito contratual é possibilitar a ocorrência dos contratos, o fluxo de trocas no mercado, a alocação de riscos pelos agentes econômicos e seu comprometimento em ações futuras até que seja alcançada a situação mais eficiente, isto é, quando há benefícios recíprocos às partes, por conta dos benefícios econômicos da barganha na distribuição do saldo positivo de uma eficiente transação a custos menores.24
Dado o contexto do novo Marco Legal de Seguros, Lei n.º 15.040, de 9 de dezembro de 2024, tem-se um novo rumo do debate no âmbito do setor de seguros em relação à aplicabilidade do princípio da função social dos contratos, notadamente, por conta da redação do art. 125 do texto legal25, que restringe a aplicação do referido princípio aos seguros obrigatórios. Como aqui mencionado, tratando-se o novo instrumento legal de um resgate da ideia de microssistemas, nota-se a opção de o
24 TIMM, Luciano Benetti. Direito contratual brasileiro: críticas e alternativas ao solidarismo jurídico. 2. ed. São Paulo: Atlas. 2015.
25 Art. 125. As garantias dos seguros obrigatórios terão conteúdo e valores mínimos, de modo a permitir o cumprimento de sua função social. Parágrafo único. É nulo, nos seguros obrigatórios, o negócio jurídico que direta ou indiretamente implique renúncia total ou parcial da indenização ou do capital segurado para os casos de morte ou de invalidez. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-15.040-de-9-de-dezembro-de-2024-600541511, acesso em 11 dez. 2025.
legislador limitar a aplicação deste princípio a seguros obrigatórios. No entanto, constatada a continuidade de sua aplicação a todo e qualquer contrato de seguro, abre-se uma grande janela de oportunidade para readequação do debate, especialmente, em relação à relativização dos efeitos da embriaguez ao volante perante terceiros, o que não faz sentido sob à ótica de toda a massa mutual, dada a estrutura em rede, também comentada na sessão anterior de que se faz a necessária menção.26
Finalmente, o que parece ser uma alternativa ao tema do agravamento de risco diante de seus novos contornos aqui debatidos à exaustão, seria o caráter da ilicitude do ato ensejador de ausência de garantia. No caso da embriaguez ao volante, de se recordar o disposto no art. 306, da lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, que não deixa dúvidas em relação ao tratamento dado pelo legislador à mencionada conduta, como segue:
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Dessa forma, se realizada a leitura conjunta dos clausulados praticados pelo mercado segurador e do citado art. 306 do CTB, do ponto de vista contratual, a negativa de cobertura encontra arrimo, mesmo diante de todo o contexto apresentado pelo novo marco legal.
4. Alocação de Garantias e a Nova Lei de Contratos de Seguros
Outro tema que apresenta dificuldades nos contratos de seguros auto é a alocação de garantias das coberturas de responsabilidade civil, praticadas pelos players do mercado. Não é invulgar encontrarem-se julgados determinando a aplicação de garantias de danos pessoais a danos materiais e vice-versa, quando verificado no caso em concreto o esgotamento dos respectivos capitais.
26 KONDER, Carlos Nelson. Contratos Conexos: Grupos de Contratos, redes contratuais e contratos coligados. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
-212- Índice
Sobre o tema e sob o prisma do novo marco legal, faz-se pertinente a análise do art. 9º da nova lei 27que assim dispõe quanto aos riscos relativos à espécie de seguro contratada:
§ 1º Os riscos e os interesses excluídos devem ser descritos de forma clara e inequívoca.
§ 2º Se houver divergência entre a garantia delimitada no contrato e a prevista no modelo de contrato ou nas notas técnicas e atuariais apresentados ao órgão fiscalizador competente, prevalecerá o texto mais favorável ao segurado.
Tratando-se do contrato de seguro auto como exemplo de operação de adesão, os dois primeiros parágrafos do art.9º não trazem nenhuma novidade em relação ao que preconiza o art. 423 do Código Civil Brasileiro, Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e o art. 47 do próprio Código de Defesa do Consumidor, Lei n.º 8078, 11 de setembro de 1990.28
27 Art. 9º O contrato cobre os riscos relativos à espécie de seguro contratada.
§ 1º Os riscos e os interesses excluídos devem ser descritos de forma clara e inequívoca.
§ 2º Se houver divergência entre a garantia delimitada no contrato e a prevista no modelo de contrato ou nas notas técnicas e atuariais apresentados ao órgão fiscalizador competente, prevalecerá o texto mais favorável ao segurado.
§ 3º Quando a seguradora se obrigar a garantir diferentes interesses e riscos, deverá o contrato preencher os requisitos exigidos para a garantia de cada um dos interesses e riscos abrangidos, de modo que a nulidade ou a ineficácia de uma garantia não prejudique as demais.
§ 4º Nos seguros de transporte de bens e de responsabilidade civil pelos danos relacionados a essa atividade, a garantia começa quando as mercadorias são de fato recebidas pelo transportador e cessa com a efetiva entrega ao destinatário.
§ 5º O contrato não poderá conter cláusula que permita sua extinção unilateral pela seguradora ou que, por qualquer modo, subtraia sua eficácia além das situações previstas em lei.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l15040.htm, acesso em 14 de julho de 2025.
28 Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. https://www. planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm, acesso em 14 de julho de 2025.
Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm, acesso em 14 de
Por sua vez, o §3º do art. 9º, preconiza que quando a seguradora se obrigar a garantir diferentes interesses e riscos, deverá o contrato preencher os requisitos exigidos para a garantia de cada um dos interesses e riscos abrangidos, de modo que a nulidade ou a ineficácia de uma garantia não prejudique as demais, ou seja, introduz uma ideia de manutenção de cláusulas contratuais, de pretenso núcleo duro não atingido por intercorrências na sua formação ou execução. Aqui mais uma vez cabe o comentário sobre o novo tratamento legal de comutatividade dado ao contrato de seguro, e não apenas pontualmente ao seguro de auto. O caráter aleatório do contrato de seguro deve ser enfatizado quando da interpretação de seus clausulados e, muito especialmente em relação às garantias assumidas, que muitas vezes guardam interrelação, pois se os diferentes contratos que compõem o fundo mutual funcionam como uma rede, como já mencionado neste trabalho, as garantias contratadas em um mesmo instrumento guardam com muito mais força, motivo da sua estrita observância e eventual contaminação do todo, quando verificadas nulidades que, no mais das vezes, contaminam toda a relação contratual.
5. Considerações Finais
A “Nova Lei de Contratos de Seguros”, a Lei n.º 15.040, de 9 de dezembro de 2024, como demonstrado no presente paper, se analisada sob o prisma dos princípios ensejadores do contrato de seguros, especialmente o do mutualismo e da boa-fé, pode não só consolidar entendimentos (outrora) polêmicos, e ora já pacificados no Superior Tribunal de Justiça, mas também potencializá-los, como no caso da embriaguez ao volante em seguros auto, cuja defesa aqui realizada é a de não relativização dos efeitos da negativa de garantia em relação a terceiros, exatamente, em nome da defesa dos interesses da massa mutual, aderindo-se a uma leitura oxigenada do princípio da função social dos contratos, uma vez concluída sua incidência a todos os contratos de seguros, inclusos os facultativos, vez que o novo texto se refere apenas aos de caráter obrigatório.
Ao ensejo, de se defender a manutenção do cenário de flexibilização da postura regulatória do Estado brasileiro, notadamente, por meio da publicação de novos instrumentos regulatórios a partir do ano de 2020, uma maior liberdade para a confecção de clausulados foi concedida aos agentes econômicos do setor, o que ainda não trouxe maiores resultados, pois as companhias seguradoras permanecem ofertando contratos muijulho de 2025.
-214- Índice
to similares, o que não é diferente no segmento de seguros auto, em que pese a edição da Circular SUSEP n.º 639, de 04 de julho de 2022, que dispõe sobre as regras complementares de funcionamento e os critérios para operação das coberturas de risco deste ambiente.
Finalmente, de se considerar tecnicamente o disposto no art. 128, da Lei, que menciona a possibilidade de a autoridade fiscalizadora expedir atos normativos que não a contrariem, atuando para a proteção dos interesses dos segurados e de seus beneficiários. Importante diferenciar a atividade de regulamentação, qual seja, de aclaramento da lei de regulação pela autoridade, cuja finalidade de prevenção e correção de falhas de mercado, deverá levar em consideração os interesses dos agentes econômicos ofertantes (seguradoras) e tomadores (segurados), formadores do mercado (segurador), sem, entretanto, desconsiderar o critério de eficiência contratual em rede, ou seja, sem nunca se olvidar dos interesses da massa mutual.
Bibliografia:
BARCELOS, Raphael Magalhães; MUELLER, Bernardo Pinheiro Machado. A nova economia institucional: teoria e aplicações. Brasília, DF: UNB, 2003.
CAMPOY, Adilson José. Contrato de seguro de vida. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
CORDEIRO, António Manuel da Costa e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 2007.
GALIZA, Fernando. A economia do seguro: uma introdução. Rio de Janeiro: Funenseg, 1997.
GOLDBERG, Ilan. Confiança, cooperação, máxima boa-fé e o contrato de seguro. Revista Jurídica de Seguros, Rio de Janeiro, 2017.
HARDIN, Garrett. The tragedy of the Commons. Disponível em: http://www.garretthardinsociety.org/articles/art_tragedy_of_the_ commons.html, acesso em 3 out. 2024.
KONDER, Carlos Nelson. Contratos Conexos: Grupos de Contratos, redes contratuais e contratos coligados. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
LARENZ, Karl. Derecho de obligaciones. 2. ed. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1957.
MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
NEGREIROS, Teresa Paiva de Abreu Trigo de. Fundamentos para uma interpretação constitucional do princípio da boa-fé. Rio de Janeiro: Renovar, 1998.
NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais. São Paulo: Saraiva, 1994.
PETERSEN, Luiza. Boa-fé no Contrato de Seguro. Indaiatuba: Foco. 2024.
SENHORA BENES, Victor. A DOENÇA PREEXISTENTE NO SEGURO DE VIDA: Uma Análise da Súmula 609 do STJ à Luz da Law & Economics. Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP. São Paulo. 2020. São Paulo. 2020.
TIMM, Luciano Benetti. Direito contratual brasileiro: críticas e alternativas ao solidarismo jurídico. 2. ed. São Paulo: Atlas. 2015.
WENDLER, Anne Caroline, A boa-fé objetiva nos contratos de seguro de vida: Uma análise de decisões judiciais, Centro Universitário Curitiba– Unicuritiba, Curitiba, 2019.
A Regulação de Sinistro Sob a Perpectiva da Proteção de Dados Pessoais
Mario Viola1 Mariana Mendonça2
Resumo: O presente artigo se propõe a analisar e trazer à reflexão a regulação de sinistro, importante etapa do contrato de seguro, agora sob a égide da Lei 15.040/2024, que veio disciplinar aspectos técnicos e operacionais, anteriormente previstos em normas infralegais. A regulação de sinistro, por sua própria natureza, envolve o tratamento de dados pessoais, inclusive dados sensíveis e, assim sendo, a presente análise propõe uma reflexão jurídica sobre a regulação de sinistro sob a ótica da proteção de dados pessoais, considerando o novo marco legal do contrato de seguro no Brasil, as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 – LGPD), a jurisprudência nacional relevante para a matéria e a experiência internacional comparada.
Abstract: This article aims to analyze and reflect on claims settlement, an important stage of the insurance contract, now under the aegis of Law 15.040/2024, which regulates technical and operational aspects previously provided for in sub-legal regulations. Claims settlement, by its very nature, involves the processing of personal data, including sensitive data. Therefore, this analysis proposes a legal reflection on claims settlement from the perspective of personal data protection, considering the new legal framework for insurance contracts in Brazil, the guidelines of the General Personal Data Protection Law (Law No. 13.709/2018 – LGPD), relevant national case law, and comparative international experience.
Palavras-chave: regulação de sinistros, proteção de dados pessoais.
Keywords: claims settlement, personal data protection.
1 Doutor em Direito pelo European University Institute e Mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Advogado especialista em proteção de dados pessoais.
2 Especialista Jurídica da Confederação Nacional das Seguradoras – CNseg, com pós-graduação em Direito Digital e Proteção de Dados pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP e em Direito, Inovação e Tecnologia pela FGV/RJ.
1. Introdução
A regulação de sinistro representa uma importante etapa do con- trato de seguro. É nesse momento que se realiza a apuração dos fatos, a verificação da cobertura e a quantificação dos danos — elementos indispensáveis para o cumprimento da obrigação principal do segurador e, ao mesmo tempo, para a proteção do fundo mutual como instrumento de prevenção contra fraudes.
A publicação da Lei nº 15.040/2024 trouxe maior atenção a esse processo, disciplinando aspectos técnicos e procedimentais que antes estavam previstos em normas infralegais.
No entanto, cumpre refletir que a regulação de sinistro por sua própria natureza, envolve o tratamento de dados pessoais, inclusive sensíveis como documentos médicos, que são essenciais para a adequada análise do evento, delimitação da cobertura e definição do valor a ser indenizado.
Ao mesmo tempo, esse tratamento de dados pessoais deve ser realizado em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 – LGPD), especialmente considerando que a proteção de dados foi reconhecida como direito fundamental pela Emenda Constitucional nº 115/2022.
Esse contexto impõe a busca por equilíbrio entre o dever de apuração da seguradora, especialmente para prevenir pagamentos indevidos e coibir fraudes, que causam prejuízos vultosos não apenas ao mercado segurador, mas também para os participantes do fundo mutual, assim como para assegurar os direitos do titular de dados.
Ressalta-se que, segundo levantamento feito pela CNseg, estima-se que as fraudes no setor de seguros ultrapassaram R$ 2 bilhões em pedidos suspeitos de indenização apenas no primeiro semestre de 2024, o que demonstra a relevância econômica e social do tema.
Além disso, a nova lei dispõe especificamente sobre compartilhamento de documentos produzidos no curso da regulação. Quanto a este aspecto, pretende-se aprofundar os cenários em que não cabe este compartilhamento, especialmente quando envolvem suspeitas de fraude ou informações estratégicas da seguradora.
-218- Índice
Nesse ponto, importa notar que quando o compartilhamento envolver esfera de terceiros traz a LGPD fundamentação legal e legítima para o não compartilhamento.
Com efeito, a presente análise propõe uma reflexão jurídica sobre a regulação de sinistro sob a ótica da proteção de dados pessoais, considerando o novo marco legal do contrato de seguro no Brasil, as diretrizes da LGPD, a jurisprudência nacional relevante para a matéria e a experiência internacional comparada.
2. A regulação de sinistro sob a perspectiva da proteção de dados pessoais
A Lei nº 15.040/2024 introduziu uma seção específica dedicada à regulação e à liquidação de sinistros (Seção XIII, artigos 75 a 88).
Estes procedimentos até então eram disciplinados por normas infralegais pela Superintendência de Seguros Privados, órgão fiscalizador do setor de seguros privados no país.
Com efeito, ao conferir status legal a essas etapas fundamentais do contrato de seguro, a nova legislação reafirma a importância da regulação como mecanismo de verificação da existência do risco coberto, da legitimidade da reclamação e da extensão do dano indenizável.
A regulação e a liquidação do sinistro são etapas primordiais nas relações contratuais entre segurados e seguradores, uma vez que é por meio de tais procedimentos que se verifica a ocorrência do risco predeterminado pactuado, protegendo-se a solvência do fundo mutual e evitando-se o pagamento de valores indevidos.
Conforme destacamos, segundo dados divulgados pela CNseg, estima-se que as fraudes no setor de seguros ultrapassaram R$ 2 bilhões em pedidos suspeitos de indenização apenas no primeiro semestre de 2024. Esses números revelam a relevância da regulação de sinistros não apenas como etapa do contrato de seguro, mas também como instrumento de combate e prevenção à fraude.
Nos termos do art. 75 da Lei nº 15.040/24, a reclamação de pagamento por sinistro, feita pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo terceiro prejudicado, determinará a prestação dos serviços de regulação e
liquidação, que têm por objetivo identificar as causas e os efeitos do fato comunicado pelo interessado e quantificar em dinheiro os valores devidos pela seguradora, salvo quando convencionada reposição em espécie.
Contudo, vale refletir que a regulação é mais complexa do que transparece o texto legal. Trata-se de procedimento detalhado, que abrange a análise minuciosa da dinâmica do evento, a verificação do nexo de causalidade, a checagem de documentos, o enquadramento do fato nas coberturas contratadas, a delimitação do tipo e da extensão dos danos, a avaliação da franquia ou participação obrigatória do segurado, bem como a identificação de medidas mitigatórias eventualmente adotadas.
É sob este aspecto que a regulação de sinistro deve ser analisada à luz da LGPD, considerando-se que a área técnica da seguradora frequentemente precisa reunir informações adicionais, que podem incluir registros médicos, relatórios de perfil de condutores, antecedentes criminais ou outros dados pessoais, tanto sensíveis quanto não sensíveis, para verificar a regularidade e a legitimidade do valor a ser indenizado. Em caso de falecimento ou invalidez, por exemplo, é necessário validar a existência de beneficiários e sua legitimidade para o recebimento e a extensão da invalidez.
Cabe ainda ressaltar que na regulação de sinistro pode ocorrer, paralelamente, o tratamento de dados pessoais para diversas finalidades, finalidades estas que podem ser fundamentadas em bases legais, tais como o cumprimento do contrato, o exercício regular de direito e o legítimo interesse. Além disso, dados pessoais sensíveis como informações de saúde, biometria ou filiação religiosa podem ser tratados com fundamento no art. 11 da LGPD, especialmente nas hipóteses previstas nos incisos II, alíneas “d” e “g”.
É o caso, por exemplo, da regulação de sinistro em seguros de vida ou acidentes pessoais, que frequentemente exige análise de prontuários médicos ou laudos periciais. Essa compreensão está alinhada à prática internacional, como se vê no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR), que também admite o tratamento para finalidades legítimas e proporcionais de prevenção e combate a fraudes. Nesse sentido, aliás, é a posição da doutrina ao interpretar o GDPR:
O uso de dados sensíveis também pode ser necessário para que um controlador estabeleça, exerça
-220- Índice
ou defenda reclamações legais. A utilização dessa hipótese autorizativa exige que o controlador estabeleça a necessidade. Ou seja, deve haver uma conexão estreita e substancial entre o tratamento e as finalidades. Um exemplo de uma atividade que se enquadraria nesse critério é o tratamento de dados médicos por uma companhia de seguros para determinar se o pedido de seguro médico de uma pessoa é válido. O tratamento de tais dados seria necessário para que a seguradora considerasse a reclamação apresentada pelo reclamante com base em sua apólice de seguro.3
Não se pode desconsiderar que com a proteção de dados pessoais, enquanto direito fundamental reconhecido pela Emenda Constitucional nº 115/2022, além da observância aos princípios da LGPD tais como a finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização, o tratamento de dados para fins de regulação deve contar com uma governança clara de dados para garantir que as informações coletadas sejam estritamente necessárias, armazenadas com segurança e protegidas contra acessos indevidos.
É importante destacar que o tratamento de dados na regulação de sinistro pode desencadear procedimentos investigativos específicos voltados à apuração do crime de fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro tipificado no artigo 171, parágrafo 2º, inciso V, do Código Penal.
Nesse cenário, o legítimo interesse da seguradora, previsto no art. 7º, IX da LGPD, pode fundamentar a coleta e análise de dados de terceiros, cruzamento de informações em bases públicas e privadas,
3 USTARAN, Eduardo. European Data Protection Law and Practice. Portsmouth: IAPP, 2018. p. 88 (tradução livre dos autores). Original em inglês: “Using sensitive data may also be necessary for a controller to establish, exercise or defend legal claims. Reliance on this criterion requires the controller to establish necessity. That is, there must be a close and substantial connection between the processing and the purposes. One example of an activity that would fall under this criterion is processing medical data by an insurance company in order to determine whether a person’s claim for medical insurance is valid. Processing such data would be necessary for the insurance company to consider the claim brought by the claimant under their insurance policy.”
realização de entrevistas e uso de ferramentas tecnológicas, desde que haja respeito à boa-fé, proporcionalidade e minimização dos dados.
O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no REsp 1.836.910/SP, reconheceu a importância da regulação de sinistro como instrumento de proteção da mutualidade, ao dispor que a regulação de sinistro é uma atividade voltada à revelação (existência e conteúdo), quantificação e cumprimento da obrigação indenizatória que exsurge da obrigação de garantia a cargo do segurador. A operação pode ser assim sintetizada: a) uma vez ocorrido e avisado o sinistro, cabe ao segurador apurar os fatos para o cumprimento da obrigação de garantia, o que se desenvolve pela regulação do sinistro; b) constitui procedimento conduzido pelo segurador para determinar a existência de sinistro coberto e a extensão da cobertura, com a mensuração da extensão dos danos e o cálculo da quantia a ser paga ao segurado; c) consiste numa atividade complexa, na qual o fato comunicado como sinistro será confrontado com a realidade e com as coberturas contratadas; d) a comparação entre o dano e o interesse segurado permitirá conhecer o prejuízo, relevando o prejuízo indenizável; e) apura-se o valor a indenizar em conformidade com a extensão dos danos, o interesse e o capital segurado; f) todas as etapas formam um processo único e contínuo e nem sempre podem ser totalmente distinguidas, sobrepondo-se eventualmente, sem prejuízo da precisa definição das finalidades de cada uma delas
A decisão ressaltou, ainda, que a regulação é essencial para o setor, uma vez que, a par de constituir obrigação acessória de fazer do segurador, por vezes necessárias até mesmo para salvamentos e para redução das consequências danosas do sinistro, sendo é fundamental para prevenir e reprimir fraudes que oneram o custo dos prêmios, visto que corroem o fundo mútuo.
Nesse contexto, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, entendeu que apresentar todos os documentos obtidos no procedimento de regulação, toda a evidência, representaria extensa exposição ao mercado do modo de apurar da seguradora e de sua parceira reguladora (know-how de ambas), arriscando ocasionar dissabores, danos morais a segurados e a terceiros beneficiários de seguro, como também dificultando sobremaneira a eficiência da regulação dos contratos de seguro (facilitação de fraudes), a par de, em muitos casos, gerar riscos pessoais a terceiros que prestaram informações ao regulador e a seus funcionários.
-222- Índice
Por outro lado, o artigo 80 da Lei nº 15.040/2024 dispõe que cumpre ao regulador e ao liquidante de sinistro informar os interessados de todo o conteúdo de suas apurações, quando solicitado, respeitada a exceção prevista no parágrafo único do art. 83 desta Lei.
A exceção prevista no parágrafo único do art. 83 determina que: Parágrafo Único. A seguradora não está obrigada a entregar documentos e demais elementos probatórios que sejam considerados confidenciais ou sigilosos por lei ou que possam causar danos a terceiros, salvo em razão de decisão judicial ou arbitral.
Vale ressaltar ainda que o art. 82 da Lei nº 15.040/2024 prevê que o relatório de regulação e liquidação do sinistro é documento comum às partes.
Estes artigos devem ser interpretados de forma sistemática, sob a perspectiva da proteção de dados de terceiros que podem estar contidos no relatório de regulação, especialmente considerando casos de testemunhas em suspeitas de fraude e à luz de parâmetros já reconhecidos no ordenamento jurídico vigente, conforme ressaltado pelo STJ no acórdão acima citado, quais sejam, o compartilhamento de tais documento pode expor o know-how da segurado, arriscando ocasionar dissabores, danos morais a segurados e a terceiros beneficiários de seguro, como também dificultando sobremaneira a eficiência da regulação dos contratos de seguro (facilitação de fraudes), gerando riscos pessoais a terceiros que prestaram informações ao regulador e a seus funcionários.
A experiência internacional reforça essa abordagem de que o compartilhamento de informações constantes nos relatórios de regulação de sinistros deve ser parametrizado sob a ótica da proteção de dados pessoais e reconhece a legitimidade do tratamento de dados para fins de detecção de fraudes. A título de exemplo, a Lei Canadense de Proteção de Dados é expressa no sentido de que uma organização não deve dar a um indivíduo acesso a informações pessoais se isso provavelmente revelar informações pessoais sobre terceiros, tendo a autoridade Canadense de Proteção de Dados já se manifestado nesse sentido, ao apreciar reclamação que envolvia pedido de acesso a documentos relativos a sinistro envolvendo veículos que continha dados das partes envolvidas no acidente, sendo
certo que referida autoridade determinou que todas as informações de terceiros contidas no aviso de sinistro fossem apagadas antes de ser facultado o acesso a tal documento pelo requerente. 4
Nessa mesma linha parece ser o entendimento do Information Commissioner’s Office (ICO) do Reino Unido, que em seu guia para organizações traz o exemplo de um pedido de acesso apresentado por empregado a seu empregador buscando obter cópia do arquivo mantido pelo setor de recursos humanos a seu respeito, sendo que neste caso a recomendação do ICO é no sentido de que como o documento contém informações que identificam colegas e gerentes que contribuíram para a constituição desse arquivo ou que são nele mencionados, esse direito de acesso do empregado deve ser conciliado com os direitos dos terceiros que contribuíram ou que são mencionados em tal arquivo em relação a seus dados pessoais.5 O mesmo ICO reconhece que se aplica limitação ao exercício de direito dos titulares dos dados para as hipóteses nas quais o tratamento de dados se dá para fins de prevenção e combate a fraudes.6
Vê-se, portanto, que a correta interpretação da obrigação trazida pela Lei nº 15.040/2024 nos leva à conclusão de que é necessário restringir o acesso de informações, especialmente aquelas que dizem respeito a terceiros não diretamente envolvidos na relação contratual de seguro.
4 Office of the Privacy Commissioner of Canada. Insurance company denies access to personal information in third party claimant’s statement. Disponível em https:// www.priv.gc.ca/en/opc-actions-and-decisions/investigations/investigations-into-businesses/2005/pipeda-2005-314/.
5 UK Information Commissioner’s Officer. What should we do if the request involves information about other individuals? Disponível em https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/individual-rights/right-of-access/information-about-other-individuals/. “An employee makes a request to her employer for a copy of her human resources file. The file contains information identifying managers and colleagues who have contributed to (or are discussed in) that file. This will require you to reconcile the requesting employee’s right of access with the third parties’ rights in respect of their own personal data.”
6 UK Information Commissioner’s Officer. A guide to the data protection exemptions. Disponível em https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/exemptions/a-guide-to-the-data-protection-exemptions/#:~:text=If%20this%20 is%20not%20so,the%20UK%20GDPR%20as%20normal.&text=A%20bank%20 conducts%20an%20investigation,and%20the%20right%20of%20access.
-224- Índice
Assim, ao se considerar a regulamentação vigente e os riscos inerentes ao compartilhamento indiscriminado de dados, como a exposição de testemunhas, o comprometimento de estratégias internas das seguradoras e a violação à confidencialidade, resta evidente a imprescindibilidade da leitura sistemática do compartilhamento do relatório de regulação, de modo a resguardar direitos individuais.
3. Conclusão
Conforme já destacamos, a regulação e liquidação de sinistros são etapas essenciais e estruturantes no contrato de seguro. Com a publicação da Lei nº 15.040/2024, a elevação dessas práticas à esfera legal reforça a proteção à mutualidade e o combate às fraudes, que impactam diretamente os custos dos prêmios e a sustentabilidade do setor.
Contudo, tais procedimentos devem ser balizados pelas diretrizes da LGPD, seja para o tratamento, inclusive compartilhamento de dados necessários para o fins de apuração e prevenção de fraudes, seja, por outro lado, para evitar o compartilhamento indevido de relatórios e dados relativos à regulação de sinistro, já que o acesso a informações de regulação de sinistro deve ser analisado à luz da jurisprudência e da experiência internacional, sempre em harmonia com a preservação da proteção de dados pessoais.
Por fim, reforça-se que uma leitura sistemática e ponderada da nova lei, já em linha com a jurisprudência do STJ e do que prevê a LGPD trará, por um lado maior segurança jurídica aos contratos de seguro, assegurando, ainda, a proteção dos dados pessoais dos envolvidos no processo de regulação de sinistros.
Bibliografia
CARLINI, Angélica; CARVALHAL, Glauce. Lei de Seguros Interpretada – Lei 15.040/2024: artigo por artigo. São Paulo: Editora Foco, 2024.
CNSeg. Guia de Boas Práticas do Mercado Segurador Brasileiro sobre a PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - 2ª edição.
MIRAGEM, Bruno; CARLINI, Angélica. Direito dos seguros: fundamentos de direito civil: direito empresarial e direito do consumidor. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2014. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-dos-seguros-fun-
-225- Índice
damentos-de-direito-civil-direito-empresarial-e-direito-do-consumidor/1341523087.
Office of the Privacy Commissioner of Canada. Insurance company denies access to personal information in third party claimant’s statement. Disponível em https://www.priv.gc.ca/en/opc-actions-and-decisions/investigations/investigations-into-businesses/2005/pipeda-2005-314/
UK Information Commissioner’s Officer. A guide to the data protection exemptions. Disponível em https://ico.org.uk/for-organisations/ uk-gdpr-guidance-and-resources/exemptions/a-guide-to-the-data-protection-exemptions/#:~:text=If%20this%20is%20not%20so,the%20 UK%20GDPR%20as%20normal.&text=A%20bank%20conducts%20an%20investigation,and%20the%20right%20of%20access.
UK Information Commissioner’s Officer. What should we do if the request involves information about other individuals? Disponível em https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/ individual-rights/right-of-access/information-about-other-individuals/
Seguros de Responsabilidade Civil na Nova Lei de Seguros
Nelson Rosenvald1
Resumo: Este artigo examina criticamente os seguros de responsabilidade civil à luz da Lei 15.040/2024, o denominado Marco Legal dos Seguros, com enfoque nos arts. 98 a 100. Demonstra-se que o art. 98 desloca a tutela do risco para uma perspectiva trilateral, protegendo simultaneamente segurado e terceiro prejudicado, e legítima a quantificação autônoma dos custos de defesa. O art. 99 equipara a obrigação da seguradora à dívida do responsável, abrangendo correção monetária, juros e honorários, enquanto o art. 100 positivou deveres de cooperação, informação e não frustração das legítimas expectativas da seguradora, impondo responsabilidade por perdas e danos ao garantido inadimplente. A análise conjuga método dogmático-comparado com referenciais alemães, britânicos, franceses e portugueses, identificando convergências e tensões do modelo brasileiro. Conclui-se que o Novo Marco Legal reposiciona o seguro de responsabilidade civil no centro da tutela patrimonial contemporânea, exigindo adaptações contratuais, atuariais e regulatórias para preservar a mutualidade e ampliar a proteção das vítimas de danos.
Abstract: This paper offers a critical analysis of liability insurance under Brazil’s Insurance Act (Law 15.040/2024), with special attention to Articles 98-100. Article 98 shifts the coverage paradigm to a trilateral model that simultaneously safeguards the insured and injured third parties, while expressly authorising a separate sub-limit for defence costs. Article 99 equates the insurer’s obligation with the debtor’s original liability, extending it to monetary correction, interest and attorneys’ fees; Article 100 codifies duties of cooperation, disclosure and abstention, imposing loss-based liability on the insured who hinders the claim. Using a dogmatic-comparative method and German, British, French and Portuguese benchmarks, the paper traces convergences and tensions in the Brazilian framework. The article concludes that the new legal regime repositions liability insurance at the core of contemporary asset protection, demanding contractual, actuarial and regulatory adjustments to preserve mutuality and broaden victim compensation.
1 Advogado e parecerista. Professor do IDP/DF. Pós-Doutor em Direito Civil na Università Roma Tre. Pós-Doutor em Direito Societário na Universidade de Coimbra. Visiting Academic na Oxford University. Professor Visitante na Universidade Carlos III, Madrid. Doutor e Mestre em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP. Presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil - IBERC.
Palavras-chave: Lei 15.040/2024; Marco Legal dos Seguros; Seguros de Responsabilidade Civil.
Keywords: Law 15.040/2024; Insurance Legal Act; Civil Liability Insurance.
Sumário: 1) Introdução; 2) Origem da disposição e regime anterior; 3) Sentido do artigo 98 e principais controvérsias na sua interpretação; 4) O artigo 99 do Marco Legal dos Seguros; 5) Sentido da disposição e principais controvérsias na sua interpretação; 6) O artigo 100 do Marco Legal dos Seguros; 7) Sentido da disposição e principais controvérsias na sua interpretação; 8) Conclusão; 9) Referências bibliográficas.
1. Introdução
Em 10.12.2024, foi publicada a Lei nº 15.040/2024, após mais de vinte anos de tramitação no Congresso Nacional. Conhecida como o “Marco Legal de Seguros”, trata-se de lei que passa a disciplinar o contrato de seguro, revogando os artigos que regiam a matéria no Código Civil (inciso II do §1º do artigo 206 e os artigos 757 a 802), bem como os artigos 9º a 14 do Decreto-Lei nº 73/1966. Este novo “microssistema de seguros” entrará em vigor no prazo um ano a contar da publicação da lei, portanto, em 11.12.2025. A travessia histórico-jurídica que culminou na Seção II - “Do Seguro de Responsabilidade Civil” - é reveladora da lenta, mas inexorável, migração do direito securitário brasileiro para uma dogmática alinhada aos standards internacionais de proteção patrimonial e de alocação eficiente de riscos, conforme será visto a seguir.
2. Origem da Disposição e Regime Anterior
Fruto de quase duas décadas de debates capitaneados inicialmente pelo Projeto de Lei n.º 3.555/2004, depois convertido no PLC 29/2017, o artigo 98 da Lei nº 15.040/2024 não é produto de súbita inovação legislativa, mas antes coroa extenso diálogo entre Legislativo, SUSEP, AIDA-Brasil e a doutrina especializada, diálogos esses que se prolongaram até a sanção presidencial de 9 de dezembro de 2024.
Art. 98. O seguro de responsabilidade civil garante o interesse do segurado contra os efeitos da imputação de responsabilidade e do seu reconhecimento, assim como o dos terceiros prejudicados à indenização.
Índice
-228-
§ 1º No seguro de responsabilidade civil, o risco pode caracterizar-se pela ocorrência do fato gerador, da manifestação danosa ou da imputação de responsabilidade.
§ 2º Na garantia de gastos com a defesa contra a imputação de responsabilidade, deverá ser estabelecido um limite específico e diverso daquele destinado à indenização dos prejudicados.
Com o art. 98, o legislador desloca o eixo interpretativo: já não se trata apenas de garantir o ressarcimento do terceiro prejudicado2, mas de fixar uma dupla perspectiva, contemplando simultaneamente o interesse do segurado, ameaçado pela imputação de responsabilidade, e o crédito potencialmente nascente do lesado.
Importa sublinhar que, no antigo art. 787 do Código Civil, a ênfase recaía no pagamento de “perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro”. Em síntese, a redação de 2002 tangenciava a figura do prejudicado, sem reconhecer expressamente sua titularidade de direito à indenização perante a seguradora, de forma que a pretensão do terceiro dependia da teoria da ação direta (ou de sua admissibilidade jurisprudencial) 3 .
2 Este ponto é criticado pela doutrina desde o início da tramitação do projeto de lei: “(...) Todavia, peca na segunda parte, ao se referir ao interesse dos terceiros prejudicados à indenização, o que poderá trazer consequências. Ora, o seguro de responsabilidade civil protege o patrimônio do segurado, e não o de terceiro, mesmo porque o limite máximo garantido pode ser exaurido com a reclamação de um único terceiro prejudicado pelo segurado ou alguns poucos terceiros”. BASSANI, Bárbara. Projeto de Lei de Seguros: uma visão crítica geral e uma específica nos seguros de responsabilidade civil. In: GOLDBERG, Ilan; JUNQUEIRA, Thiago (coord.). Direito dos Seguros em movimento. Indaiatuba: Foco, 2024, p. 378.
3 Nos dizeres de Abel B. Veiga Copo: “Hablar de acción directa exige deslindar, plantear interrogante y anclar argumentos que fundamenten el porqué de la misma, su concepto, su naturaleza jurídica, su alcance y eficacia, la fuerza y vigor ensuma de una acción que tutela las pretensiones de una tercera víctima perjudicado por la acción u omisión dañante de un asegurado. La respuesta a los mismos allanará una comprensión cabal, racional y, si acaso, lógica de la acción misma”. VEIGA COPO, Abel B. Referência especial à delimitação de risco em responsabilidade civil e seguro de ação direta. Revista IBERC, Belo Horizonte, v. 5, n. 2, p. 247–283, maio-ago. 2022, p. 264.
Sobre a figura do terceiro, Bárbara Bassani de Souza alerta para o fato de que:
“apesar disso, não raras vezes, o terceiro mantém relação com a seguradora após a ocorrência de um fato que possa ensejar a responsabilidade civil do segurado, assumindo papel importante na regulação do sinistro, chegando a receber o pagamento da indenização securitária diretamente da seguradora, à luz da faculdade prevista no artigo 5º, §1º, da Circular Susep nº 437/2012 e, também, na Circular Susep nº 553/2017”4.
Ao consagrar o interesse de ambos – segurado e terceiro – o novo art. 98 desloca a discussão para um patamar de paridade protetiva, compatível com o art. 37 da Convenção de Viena sobre o Contrato de Seguro 5 e com a linha seguida pelo Chapter 4 do Insurance Act britânico de 2015 6. Esse desdobramento dialógico – segurado vs. terceiro prejudicado – reflete a doutrina do triângulo securitário definido pela doutrina estrangeira, segundo a qual o contrato de seguro de responsabilidade civil deixa de ser bilateral para assumir
4 SOUZA, Bárbara Bassani de. Novos rumos para o seguro de responsabilidade civil. In: GOLDBERG, Ilan; JUNQUEIRA, Thiago (coord.). Temas Atuais de Direito dos Seguros. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, t. II, p. 537.
5 “Artigo 37. Em caso de entrega das mercadorias antes da data prevista para a entrega, o vendedor poderá, até tal data, entregar a parte faltante ou completar a quantidade das mercadorias entregues, ou entregar outras mercadorias em substituição àquelas desconformes ao contrato ou, ainda, sanar qualquer desconformidade das mercadorias entregues, desde que não ocasione ao comprador inconvenientes nem despesas excessivas. Contudo, o comprador mantém o direito de exigir indenização por perdas e danos, de conformidade com a presente Convenção”. BRASIL. Decreto nº 8.327, de 16 de outubro de 2014. Promulga a Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias – Uncitral, firmada pela República Federativa do Brasil em Viena, em 11 de abril de 1980. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 out. 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov. br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/decreto/d8327.htm. Acesso em: 20 abr. 2025.
6 REINO UNIDO. Insurance Act 2015: 2015 Chapter 4. Royal Assent em 12 fev. 2015. London: The Stationery Office, 2015. Disponível em: https://www. legislation.gov.uk/ukpga/2015/4. Acesso em: 20 abr. 2025.
-230- Índice
feição necessariamente trilateral 7, ainda que o terceiro não figure no polo contratual originário.
Recorde-se que o Tema 471 do STJ firma o entendimento do Tribunal segundo o qual:
“[d]escabe ação do terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente em face da Seguradora do apontado causador do dano. No seguro de responsabilidade civil facultativo, a obrigação da Seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado, a qual, de regra, não poderá ser reconhecida em demanda na qual este não interveio, sob pena de vulneração do devido processo legal e da ampla defesa.” 8
Em maio de 2015, aliás, o STJ editou a súmula 529 que determina que “no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano”.
O art. 787, § 2º, do CC vedava o reconhecimento de responsabilidade pelo segurado sem anuência do segurador, sob pena de perda da
7 No contexto do transporte internacional de mercadorias, Clarke e Yates definem o terceiro: “to be a “third party”, a person must be ‘expressly identified in the contract by name, as a member of a class or as answering to a particular description’”. CLARKE, Malcolm A.; YATES, David. Contracts of carriage by land and air. 2º edição, Londres: Routledge, 2014, p. 27.
8 Lembra-se que o n. 1 do art. 140 do Decreto-Lei n. 72/2008 de Portugal determina que o segurador de responsabilidade civil pode intervir em qualquer processo judicial ou administrativo em que se discuta a obrigação de indemnizar cujo risco ele tenha assumido, suportando os custos daí decorrentes.
garantia – vedação mitigada pelo STJ (Enunciados 3739 e 54610 das Jornadas de Direito Civil)11. O novo diploma manteve silêncio quanto a esse ponto, deixando transparecer que a cláusula de “não reconhecimento” perde relevância na dogmática contemporânea, em que se privilegia a cooperação e a mitigação de danos.
No regime anterior, a extensão da cobertura aos custos de defesa dependia de previsão expressa, gerando acalorados debates sobre a natureza dos honorários advocatícios: seriam danos emergentes cobertos por força do art. 776 do CC ou despesas colaterais exógenas ao sinistro? A nova lei resolve a querela ao qualificar expressamente tais gastos como objeto de garantia, conquanto segredados por sub-limite próprio.
Convém, porém, advertir que a atribuição de limite dissociado exigirá das seguradoras nova metodologia de precificação, pois a correlação estatística entre despesas de defesa e severidade de sinistro jamais foi dimensionada com dados públicos no Brasil, impondose revisão atuarial que reflita o custo efetivo da litigiosidade forense.
A criação da Seção II (“Do Seguro de Responsabilidade Civil”) e a imediata sequência de arts. 99 a 107 fornecem arcabouço sistêmico ao art. 98, dispondo sobre acessórios legais, dever de colaboração do segurado, possibilidade de chamamento da seguradora, litisconsórcio, defesas oponíveis e transação com prejudicados.
Por fim, a origem teleológica do art. 98 radica no reconhecimento de que a sociedade contemporânea, hipercomplexa e tecnicamente arriscada, reclama mecanismos de transferência de risco que protejam não só o tomador do seguro, mas também as vítimas de externalidades danosas.
9 Enunciado 373: “Embora sejam defesos pelo § 2º do art. 787 do Código Civil, o reconhecimento da responsabilidade, a confissão da ação ou a transação não retiram do segurado o direito à garantia, sendo apenas ineficazes perante a seguradora” (IV Jornada de Direito Civil do CJF).
10 Enunciado 546: “O § 2º do art. 787 do Código Civil deve ser interpretado em consonância com o art. 422 do mesmo diploma legal, não obstando o direito à indenização e ao reembolso” (VI Jornada de Direito Civil do CJV).
11 ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe. Código Civil Comentado artigo por artigo. 6ª edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2025, p.958.
Índice
-232-
3. Sentido do Artigo 98 e Principais Controvérsias na sua Interpretação
A responsabilidade civil é um mecanismo de transferência de danos da vítima ao causador do dano. Objetivando alcançar algo minimamente próximo à reparação integral, o seguro de responsabilidade civil é uma espécie de seguro de dano que pavimenta a obtenção da indenização pelo terceiro, pois o segurador se obriga a garantir o ressarcimento do dano que o segurado sofre imediatamente quando obrigado a indenizar a vítima direta, seja por lucros cessantes ou danos emergentes, sem se olvidar dos danos extrapatrimoniais. Nesse sentido, nota-se a Súmula 402 do STJ: “O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”.
A indenização tanto pode decorrer de um dano consequente a um ato ilícito (por culpa ou abuso do direito, arts. 186/187 CC) como ao risco inerente a uma atividade desenvolvida pelo segurado com potencialidade lesiva em face da coletividade em geral. Em um cenário de socialização dos riscos, tratando-se de responsabilidade contratual do segurador é desimportante a aferição da culpa do segurado para fins de indenização ao terceiro, desobrigando-se o segurador apenas diante do fato exclusivo da vítima, pois a causa do dano decorreu unicamente do comportamento do terceiro. Diversamente, a prática intencional do dano pelo segurado exclui a obrigação do segurador, haja vista o repúdio do ordenamento à prática de atos ilícitos pelo segurado que repudiem a própria essência do seguro (art. 762, CC).
Em relação ao risco segurável, Thiago Junqueira observa que “ele se consubstancia sob três figurinos: se terá vez ou não (incertus an), quando terá vez (incertus quando), e qual será a sua extensão (incertus quanto)”12. Ainda sobre isso e, destacando a postura esperada nessa relação jurídica, registra a doutrina que “o segurado deve comportar-se em relação ao interesse legítimo como se não tivesse contratado seguro, com a diligência e a atenção que comumente teria se não tivesse adotado a precaução de contratar seguro de responsabilidade civil”13.
12 JUNQUEIRA, Thiago. O risco no domínio dos seguros. In: GOLDBERG, Ilan; JUNQUEIRA, Thiago (coord.). Temas Atuais de Direito dos Seguros. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, t. II, p. 51.
13 CARLINI, Angélica; CARVALHAL, Glauce (coord.). Lei de seguros interpretada:
Se antes o artigo 787 do Código Civil vinculava a caracterização do risco quase que exclusivamente ao evento danoso em si, o § 1º do artigo 98 da LCS reposiciona o debate acerca da cobertura de eventos de longa latência – por exemplo, danos ambientais14 ou enfermidades ocupacionais – cuja manifestação se dá anos após o fato gerador. Em tais hipóteses, a manifestação danosa passa a figurar como possível marco de caracterização do risco, mitigando as discussões sobre “ocorrência continuada” que tanto inquietaram a jurisprudência do STJ na última década.
No que tange ao § 2º, a lei encerra histórica polêmica sobre honorários de defesa. Antes de 2024, muitos contratos no Brasil adotavam sublimites embutidos na garantia principal, gerando rápida erodibilidade do limite máximo de indenização (LMI). A nova redação impõe a separação obrigatória: o limite destinado à defesa deve ser “específico e diverso” daquele reservado à indenização dos prejudicados. Uma leitura teleológica revela nítido propósito de preservar a efetividade da reparação devida aos terceiros, impedindo que custos advocatícios corroam o montante destinado ao ressarcimento.
Contudo, ergue-se o questionamento hermenêutico: seria lícito impor limite inferior ao quantum necessário para defesa em processos de alta complexidade, sobretudo em sinistros de responsabilidade profissional? A resposta passa pela conjugação do art. 56 (bo-afé) com o art. 59 (interpretação restritiva de cláusulas limitativas).
Outro ponto controvertido reside na eventual solidariedade entre segurador e segurado perante o terceiro prejudicado. Há quem sustente que o art. 102, ao condicionar a ação direta ao litisconsórcio passivo
Lei 15.040/2024 - artigo por artigo. Indaiatuba: Foco, 2025. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 20 abr. 2025.
14 Comenta Pery Saraiva Neto que “os seguros cumprem uma função socioeconômica em proveito de toda a coletividade, sendo possível especular que essa extensão à coletividade ganhará especial realce em face dos riscos ambientais, pela sua elevada projeção, apresentando-se como importante ferramenta de gestão de riscos e de conflitos ambientais”. SARAIVA NETO, Pery. O seguro como instrumento econômico de garantia de reparação de danos ambientais. Revista IBERC, Belo Horizonte, v. 5, n. 2, p. 39–60, maio-ago. 2022, p. 58.
-234- Índice
necessário15, implicaria extinção da solidariedade que se firmara sob o regime do art. 787 combinado com o art. 267 do CPC. A objeção, contudo, não se sustenta à luz do art. 99, cujos comentários tecidos mais adiante podem trazer adequada elucidação, que sujeita a indenização “aos mesmos acessórios legais incidentes sobre a dívida do responsável”. A expressão engloba mora, juros e correção, sinalizando que a seguradora mantém obrigação autônoma de solver o quantum, hipótese clássica de débito solidário passivo – ao menos no plano causalobrigacional.
Nesse sentido, desponta a Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites da condenação deste na ação regressiva”. Ou seja, em caso de condenação, a seguradora culminou por se defender em litisconsórcio com o réu, respondendo solidariamente com este pela reparação do dano decorrente do acidente até os limites dos valores segurados contratados. Abre-se então a possibilidade de a vítima executar diretamente a seguradora – superando a questão processual da ilegitimidade –, impondo a um contratante uma obrigação perante um terceiro que não era parte no contrato, demonstrando que o contrato de seguro detém função social relevante de recompor o patrimônio de vítimas de acidentes. O tema foi objeto, aliás, do Informativo nº 548 do STJ (REsp 1.133.459-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)16.
Em cotejo comparativo, vale lembrar que a legislação alemã (§115 do Versicherungsvertragsgesetz - VVG17) admite a ação direta,
15 BRANDÃO, Rodrigo Zanirato. Marco Legal dos Seguros e o suposto fim da responsabilidade solidária nos seguros de responsabilidade civil. Consultor Jurídico 17 jan. 2025. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2025-jan-17/marco-legal-dos-seguros-e-o-suposto-fim-da-responsabilidade-solidaria-nos-seguros-de-responsabilidade-civil/ Acesso em: 20 abr. 2025.
16 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.133.459/RS. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.ª Turma. Julgado em 21 ago. 2014. Diário da Justiça Eletrônico, 3 set. 2014.
17 “§ 115 Direktanspruch. (1) Der Dritte kann seinen Anspruch auf Schadensersatz auch gegen den Versicherer geltend machen, 1. wenn es sich um eine Haftpflichtversicherung zur Erfüllung einer nach § 1 des Pflichtversicherungsgesetzes oder nach
mas preserva alternativa de demandar apenas a seguradora. A solução brasileira de litisconsórcio passivo destoa do modelo português (art. 140, n. 2, do Decreto-Lei nº 72/2008)18, que outorga ao lesado a liberdade de escolha. Há, pois, risco de alegação de inconstitucionalidade por ofensa à proporcionalidade e ao acesso à justiça.
A topologia normativa também revoga, implicitamente, o 4º do art. 787, que tratava da insolvência do segurador e da subsistência da obrigação do segurado. Agora, tais hipóteses são tratadas no art. 65 da nova lei, dentro do capítulo de resseguro, reforçando a prioridade absoluta do crédito do segurado e do terceiro perante a massa falida da seguradora.
Quanto ao conflito de leis no tempo, vigora o art. 134 segundo o qual a vacatio legis de um ano findará em 10 de dezembro de 2025, devendo as apólices emitidas a partir de então aderir compulsoriamente às regras do art. 98.
Em comparação ao Insurance Act 2015, nota-se que a lei britânica previu regime de “late notification” com redução proporcional da indenização quando o segurado atua com culpa grave. A lei brasileira, mais protetiva, não institui sanção de redução; prefere imputar dever de colaboração (art. 100) e responsabilizar o segurado apenas pelos “prejuízos a que der causa”.
§ 3 des Auslandsfahrzeug-Pflichtversicherungsgesetzes bestehenden Versicherungspflicht handelt oder. 2. wenn über das Vermögen des Versicherungsnehmers das Insolvenzverfahren eröffnet oder der Eröffnungsantrag mangels Masse abgewiesen worden ist oder ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt worden ist oder. 3. wenn der Aufenthalt des Versicherungsnehmers unbekannt ist. Der Anspruch besteht im Rahmen der Leistungspflicht des Versicherers aus dem Versicherungsverhältnis und, soweit eine Leistungspflicht nicht besteht, im Rahmen des § 117 Abs. 1 bis 4. Der Versicherer hat den Schadensersatz in Geld zu leisten. Der Versicherer und der ersatzpflichtige Versicherungsnehmer haften als Gesamtschuldner”. ALEMANHA. Versicherungsvertragsgesetz (VVG) – Lei do Contrato de Seguro, § 115. Promulgada em 23 de novembro de 2007. Disponível em: https://www.gesetze-im-internet. de/vvg_2008/__115.html. Acesso em: 20 abr. 2025.
18 “Artigo 140.º Defesa jurídica (...) 2 - O contrato de seguro pode prever o direito de o lesado demandar directamente o segurador, isoladamente ou em conjunto com o segurado.”. PORTUGAL. Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril. Diário da República, Série I, n.º 75, p. 2228-2261, 16 abr. 2008. Estabelece o regime jurídico do contrato de seguro. Em vigor desde 1 jan. 2009. Ministério das Finanças e da Administração Pública.
-236- Índice
Sob a ótica consumerista, o art. 57 consagra a regra “contra proferentem”, assegurando interpretação mais favorável ao segurado e ao terceiro. Esse comando hermenêutico repercute diretamente na leitura do art. 98, vedando cláusulas que desvirtuem a cobertura do RC por meio de exclusões implícitas ou fórmulas obscuras.
Não se pode ignorar, entretanto, que a inovação legislativa ainda carece de regulamentação infralegal. A SUSEP já anunciou, em seu Plano de Regulação 2025, a revisão das normas de RC para harmonizá-las à Lei 15.040/2024, especialmente no tocante à padronização textual e à delimitação de retroatividade.
A hermenêutica do art. 98 deverá dialogar, ainda, com o regime especial do seguro garantia (Lei 14.133/2021, art. 96), pois nesse ramo a delimitação do risco e a fixação de sub-limites não podem subverter exigências regulatórias setoriais.
Outro campo de interseção é o contencioso societário19: as apólices D&O (Directors & Officers) habitualmente contemplam cobertura de despesas de defesa separada do LMI de responsabilidade; o § 2º do art. 98 legitima expressamente essa prática, que encontra paralelo no Model Insurance Law da NAIC (EUA).
4. O Artigo 99 do Marco Legal dos Seguros
O artigo 9920 desponta como dispositivo axial no eixo da responsabilidade civil securitária ao estatuir que a indenização, no seguro de responsabilidade civil, está sujeita aos mesmos acessórios legais incidentes sobre a dívida do responsável21.
19 RAMOS, Maria Elisabete. D&O Insurance em Portugal: de apólice residual a instrumento estratégico na empresa. In: GOLDBERG, Ilan; JUNQUEIRA, Thiago (coord.). Temas Atuais de Direito dos Seguros. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, t. II, p. 354.
20 Art. 99. A indenização, no seguro de responsabilidade civil, está sujeita aos mesmos acessórios legais incidentes sobre a dívida do responsável.
21 CARLINI, Angélica; CARVALHAL, Glauce (coord.). Lei de seguros interpretada: Lei 15.040/2024 - artigo por artigo. Indaiatuba: Foco, 2025. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 20 abr. 2025.
A disciplina originária encontrava-se esparsa no Decreto Lei n.º 73/1966, no Decreto Lei n.º 61.589/1967 e, mais tardiamente, no artigo 787 do Código Civil, sem, contudo, haver previsão explícita sobre a repercussão dos acessórios legais. O que muito se discutia, ao revés, era a suspensão da cobertura contratada enquanto o segurado estiver em mora quanto ao pagamento do prêmio22.
Sob o regime anterior, o STJ sumulou que “[n]os contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.” (SÚMULA 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 13/05/2019). Já em relação aos juros moratórios, o mesmo Tribunal afirmou que “[c]onforme Jurisprudência sedimentada no STJ, os juros moratórios referentes a ações que buscam o pagamento de indenização securitária, devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual.” (AgInt no REsp: 2028835 MG 2022/0303639-1, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze) 23 .
Cumpre salientar que a produção legislativa estrangeira já oferecia rumos mais equânimes. A título de exemplo, o Insurance Act 2015 britânico não tratava, na sua redação original, de consectários pecuniários. Esse ponto passou a ser disciplinado, no Reino Unido, com a inserção, pelo Enterprise Act 2016, do §13A (Part 4ª – Late Payment of Claims), criando um termo implícito de pagamento tempestivo dos sinistros e, no §13ª(5)(b), deixa expresso que a reparação por atraso é adicional e distinta de qualquer direito a juros sobre
22 FURTADO, Gabriel Rocha. Mora no pagamento do prêmio. In: GOLDBERG, Ilan; JUNQUEIRA, Thiago (coord.). Temas Atuais de Direito dos Seguros. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, t. I, p. 716. Comenta: “Todavia, tanto para a suspensão da cobertura quanto para a resolução contratual, é sempre necessária a prévia constituição do devedor em mora, por meio de interpelação judicial ou extrajudicial. Trata-se de situação de mora ex personam, conforme a doutrina e a jurisprudência nacionais. É preciso, outrossim, que especialmente o pleito resolutório não se configure como abusivo, nos termos da lei civil”.
23 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Recurso Especial n.º 2.028.835/MG. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 04 mar. 2024. DJe 08 mar. 2024.
-238- Índice
essas quantias24. Ademais, para citar um outro exemplo, o seguro de responsabilidade civil francês, regrado pelo Code des Assurances, em especial em seus artigos L422-7 a L422-1125.
Inspirado nesses referenciais, o legislador brasileiro de 2024 resolveu positivá-los, de forma a eliminar dúvidas interpretativas e reforçar a função protetiva do contrato de seguro.
5. Sentido da Disposição e Principais Controvérsias na sua Interpretação
Quanto ao sentido objetivo do artigo 99, dessume-se que ele equipara, para todos os fins, a obrigação da seguradora à obrigação originária do responsável civil, de modo que aquilo que se agrega à dívida principal também deverá ser suportado pela seguradora até o limite contratado.
A locução “está sujeita” não deixa margem a filtragens redutoras: trata-se de imposição cogente, incompatível com pactuações restritivas em condições gerais ou especiais de apólice.
Entre os “acessórios legais” figuravam, por evidente, a correção monetária ex lege, os juros moratórios de 1 % ao mês (art. 406 c/c 161, §1.º, CTN), os honorários de sucumbência (art. 85, CPC) e eventuais custas judiciais.
Recentemente, contudo, ocorreu importante reforma legislativa a partir da Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024, que modificou a redação de diversos artigos do Código Civil, particularmente dos arts. 389, 406 e correlatos, suscitando questionamentos sobre a incidência imediata de seus efeitos e a eventual ultratividade em relação a fatos geradores pretéritos.
24 REINO UNIDO. Insurance Act 2015: 2015 Chapter 4A. Royal. Assent em 12 fev. 2015. London: The Stationery Office, 2015. Disponível em: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/4. Acesso em: 20 abr. 2025.
25 FRANÇA. Code des assurances: version consolidée au 21 avr. 2025. Paris: Légifrance, 2025. Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006073984/. Acesso em: 21 abr. 2025.
Em síntese, a Lei nº 14.905/2024 prevê dois momentos de vigência: (i) sua publicação, em 28.06.2024, para a parte relativa à definição de metodologia de cálculo (introdução do § 2º ao art. 406 do CC), e (ii) 60 dias após a publicação, para os demais dispositivos (arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º, e correlatos). Essa dualidade de datas demanda atenção quanto ao marco efetivo de aplicabilidade das regras de juros e correção.
O artigo 406 do Código Civil, em sua redação atualizada pela lei supracitada, prevê a adoção da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzindo-se o índice de correção monetária – o IPCA –, quando a taxa de juros não estiver expressamente pactuada ou não houver previsão legal específica. Tal inovação gerou questionamentos quanto à aplicação retroativa a fatos ocorridos antes de sua vigência, bem como sua extensão a obrigações preexistentes. Fato é que, sendo a SELIC única taxa legal após agosto de 2024, o art. 99 abrangerá tal índice sempre que este substituir a taxa de 1 % ao mês.
Surge aqui a primeira controvérsia hermenêutica: seria legítimo limitar a responsabilidade da seguradora apenas ao principal, deixando os honorários advocatícios fora do escopo? A resposta deve ser negativa, pois a ratio legis foi justamente evitar que a vítima experimente depreciação patrimonial além do dano, e que o segurado sofra “empobrecimento indireto” por acessórios que, não raras vezes, superam o capital segurado.
Outra querela desponta no plano temporal: os acessórios incidem desde quando? A exegese mais consentânea com o texto indica o dies a quo da mora do responsável, pois o artigo 99 vincula-se à “dívida do responsável”, não ao momento de regulação do sinistro.
Assim, fixados juros e atualização contra o segurado, a seguradora deverá replicá-los ab initio — salvo se ultrapassado o limite de responsabilidade pactuado, tema que se resolve pela regra do artigo 98, caput, que continua a admitir fixação de limites máximos.
É mister cotejar o art. 99 com o dispositivo antecedente, art. 98, que trata da caracterização do risco: enquanto o art. 98 define os gatilhos fáticos que deflagram a cobertura, o art. 99 define que as parcelas legais integram o quantum da prestação securitária, compondo dupla engrenagem de certeza e amplitude.
-240- Índice
Como é comum em atualizações legislativas, se poderia indagar, porém, se a universalização de acessórios encarece prêmios e desestimula a contratação de coberturas amplas. Registra-se, todavia, que tal argumento carece de base empírica robusta, pois o incremento de custo distributivo será diluído no mutualismo, enquanto a segurança jurídica obtida desencoraja litígios morosos e reduz o custo total de transação.
Importa sublinhar que o artigo 99 não conflita com as regras da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); pelo contrário, reforça o art. 35 do CDC, que veda recusa injustificada de cumprimento da oferta, estendendo-se agora aos encargos acessórios.
No que atine à técnica contratual, corretores serão instados a explicar ao tomador que a soma segurada inclui os encargos, afastando a insegurança de que os acessórios seriam ressarcidos “por fora” pelo segurado.
6. O Artigo 100 do Marco Legal dos Seguros
A promulgação da Lei nº 15.040/2024 assinala um ponto de inflexão no direito securitário brasileiro, ao positivar, em linguagem inequívoca, obrigações de cooperação do garantido para com a seguradora, consolidando, no art. 100, um verdadeiro feixe de deveres de informação, abstenção e comparecimento que outrora estavam apenas dispersos em normas de menor densidade ou em construções doutrinárias, mas que agora encontram-se condensados em fórmula normativa lapidar: são eles os deveres de cooperação, lealdade e não-frustração das legítimas expectativas econômicas da seguradora.
Art. 100. O responsável garantido pelo seguro que não colaborar com a seguradora ou praticar atos em detrimento dela responderá pelos prejuízos a que der causa, cabendo-lhe:
I - informar prontamente a seguradora das comunicações recebidas que possam gerar reclamação futura;
II - fornecer os documentos e outros elementos a que tiver acesso e que lhe forem solicitados pela seguradora;
III - comparecer aos atos processuais para os quais for intimado;
IV - abster-se de agir em detrimento dos direitos e das pretensões da seguradora.
Este novo preceito remonta à combinação entre o art. 769 do Código Civil de 2002, que tratava do dever de comunicar agravação do risco, e as cláusulas gerais de probidade e boa-fé26 constantes dos arts. 113, 422 e 765 do mesmo diploma, bem como às balizas já traçadas pelo DecretoLei 73/1966 acerca da proteção do equilíbrio contratual no sistema nacional de seguros.
O objetivo precípuo foi o de reconduzir o contrato de seguro ao seu locus econômico-social originário, qual seja, a matriz mutualística destinada a diluir riscos e a garantir continuidade produtiva, exigindo, em contrapartida, condutas colaborativas do sujeito garantido para que o sinistro se processe em ambiente de simetria informacional.
O imperativo de persuasão impõe reconhecer que tais deveres, longe de representarem ônus excessivo, constituem mecanismo racional de contenção de danos e de preservação do equilíbrio atuarial, fundamento sem o qual a própria coletividade segurada poderia ver-se onerada por prêmios crescentes.
Ante esse quadro, o legislador decidiu abandonar a disciplina difusa dos arts. 766 e 771 do Código Civil, reputados insuficientes para delinear sanções específicas, e consagrou, no novo diploma, regime de responsabilidade por perdas e danos para o garantido que não colaborar. Com efeito, o regime anterior, todavia, padecia de controvérsia terminológica: falavase em “segurado”, “estipulante”, “beneficiário” e “responsável garantido” como categorias que, não raras vezes, se sobrepunham, fomentando litígios acerca de quem, efetivamente, estaria obrigado a cooperar na defesa judicial patrocinada pela seguradora em seguros de responsabilidade civil.
Importa notar que o Decreto-Lei 73/1966, marco regulatório pretérito, já insinuava, ainda que de forma lacônica, a existência de deve-
26 JUNQUEIRA, Thiago. O ocaso da ‘máxima boa-fé’ nos contratos de seguro. In: GOLDBERG, Ilan; JUNQUEIRA, Thiago (coord.). Direito dos Seguros em movimento. Indaiatuba: Foco, 2024, p. 191. Comenta: “A atuação da boa-fé nos contratos de seguro é tão impactante que costuma ser qualificada: fala-se, no Brasil, de uma máxima boa-fé. A indigitada noção possui origem no Direito inglês e, não obstante tenha sido ecoada em vários países, vem enfrentando resistência nos últimos tempos”.
-242- Índice
res de informação do segurado, mas sua eficácia ficava condicionada a regulamentação infralegal da SUSEP, cujas circulares variavam ao sabor de políticas setoriais. A Circular SUSEP 621/2021, por exemplo, elenca documentos mínimos para liquidação de sinistros, mas não definia, com precisão, a responsabilidade do garantido que embaraçasse a regulação; a Lei 15.040/2024 supre exatamente essa lacuna ao prever imputação direta de prejuízos.
Do ponto de vista econômico, tal quadro comprometia a função social do seguro, elevando custos de transação e diluindo a capacidade mutualística de expansão do mercado, razão pela qual a nova lei reforça a simetria de informação como elemento essencial de eficiência27.
O artigo 100, nesse desiderato, fixa quatro deveres nucleares, todos eles inspirados em práticas internacionais de claims handling transplantados com as devidas adaptações ao direito brasileiro.
O inciso I inaugura uma obrigação de notificação tempestiva de comunicações potencialmente litigiosas, inovando ao deslocar o foco da “agravação do risco” para a “possibilidade de reclamação futura”, conceito mais abrangente que o sinistro em sentido estrito, o que cobre inclusive cartas de responsabilização pré-contenciosa. Logo, o primeiro dever – informar prontamente comunicações que possam ensejar reclamação futura – responde à dinâmica dos seguros de responsabilidade civil “claims-made”, em que o gatilho da cobertura é a data do aviso e não o momento exato do ilícito. A relevância prática dessa regra é manifesta: a ausência de aviso imediato impede a seguradora de constituir prova, de negociar acordos precoces e de mitigar danos, elevando o quantum indenizatório e, reflexamente, os prêmios de toda a carteira.
O inciso II, ao determinar o fornecimento de “documentos e outros elementos”, consagra a instrumentalidade probatória como vetor de efetividade, mitigando a prática, até então corrente, de segurados que se esquivavam de entregar prontuários, contratos ou laudos peri-
27 BARBAT, Andrea Signorino. La transparencia em el derecho de seguros - especial referencia al cumplimiento de las cargas y obligaciones de las partes. In: GOLDBERG, Ilan; JUNQUEIRA, Thiago (coord.). Temas Atuais de Direito dos Seguros São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, t. II, p. 384-385.
ciais sob o argumento de sigilo ou direito de defesa28. Desse modo, o segundo dever – fornecer documentos e elementos solicitados – opera como corolário da obrigação de informar. Ele abrange desde relatórios incidentais até pareceres periciais eventualmente já produzidos pela parte, evitando duplicidade de custos e acelerando a liquidação.
Por sua vez, o inciso III consolida um verdadeiro dever de presença processual, superando o vago dever de cooperação previsto no art. 765 do Código Civil. A exigência de comparecimento aos atos pelos quais o garantido for intimado evita a deserção de audiência e o consequente risco de revelia, que invariavelmente agrava a posição litigiosa da seguradora. O terceiro dever – comparecer aos atos processuais – ancora-se na necessidade de assegurar contraditório efetivo e de permitir à seguradora defesa técnica plena, especialmente quando a discussão judicial envolve fatores de culpa ou de risco coberto.
Finalmente, o inciso IV traduz, em negativo, o princípio da vedação ao comportamento contraditório: o garantido deve abster-se de atos que prejudiquem direitos e pretensões da seguradora, o que inclui confissões precipitadas, acordos sem anuência ou destruição de prova relevante. Com isso, o quarto dever – abstenção de agir em detrimento dos direitos da seguradora – encerra cláusula geral impeditiva de condutas como confissão apressada, reconhecimento de dívida sem anuência da seguradora ou destruição de provas.
A técnica legislativa adotada, para o art. 100, é de uma sanção aberta: “responderá pelos prejuízos a que der causa”. Trata-se de imputação de responsabilidade indenizatória de natureza regressiva, pois a seguradora, em regra, continua vinculada perante terceiros, mas passa a ter ação de ressarcimento contra o garantido infrator, afastando a ideia de exclusão automática da cobertura e optando por critério proporcional: só o dano decorrente da omissão é transferido ao garantido, solução reputada mais justa e compatível com o princípio da conservação do contrato.
7. Sentido da Disposição e Principais Controvérsias na sua Interpretação
28 KRETZMANN, Renata Pozzi. Boa-fé no contrato de seguro: o dever de informar do segurador. In: GOLDBERG, Ilan; JUNQUEIRA, Thiago (coord.). Temas Atuais de Direito dos Seguros. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, t. II, p. 362-368.
-244- Índice
Todavia, alguma insegurança terminológica pode ser acusada no caput, pois a expressão “responsável garantido” não coincide, semanticamente, com “segurado” nem com “beneficiário”, gerando dúvidas sobre a extensão subjetiva do dever.
Entendemos que a regra alcança quaisquer terceiros cujo risco seja transferido pela apólice – v.g., diretores cobertos por D&O – não significando restrição ao tomador que figura no contrato, tese que poderá ensejar futura consolidação jurisprudencial.
Sob outro prisma, discute-se se o dever de informar é condição suspensiva da cobertura ou obrigação acessória. A redação legal, que fala em “responder pelos prejuízos”, inclina-se à segunda hipótese, afastando a extinção ipso facto da garantia. Esse ponto resolve embates pretéritos nos quais seguradoras invocavam cláusulas de perda de direito por simples omissão na comunicação, prática sumariamente vedada pelo art. 42 da Circular SUSEP 621/2021. O artigo 100, portanto, dirige-se a fase posterior do sinistro, não se confundindo com agravamento. Nesse sentido, o dispositivo dialoga com o artigo 129 da lei, que incentiva meios alternativos de resolução de litígios, pois uma postura colaborativa do garantido é condição sine qua non para a mediação ou a arbitragem produzir efeitos eficientes.
Deveras, a boa-fé objetiva, em seu substrato de cooperação, já foi elevada a cláusula geral pelo Código Civil, mas a positivação explícita no marco setorial reforça a densidade normativa, impedindo alegações de desconhecimento ou de surpresa contratual.
A teoria da confiança, plasmada no art. 422 do Código Civil, ganha aplicação concreta: quem se beneficia da proteção securitária assume o compromisso de não frustrar legítimas expectativas de que facilitará a defesa técnica do segurador.
O comando legal também interage com o art. 139, inciso III, do Código de Processo Civil, que confere ao juiz poderes para prevenir atos atentatórios à dignidade da justiça, inclusive determinar às partes a prática de ato necessário à satisfação do direito. Desse diálogo assume-se que, se o juiz intimar o garantido a apresentar documentos e ele se recusar, poderá incidir, cumulado à responsabilidade civil definida no artigo 100, multa por litigância de má-fé. Há quem veja aí bis in idem, mas o ordenamento coexiste com sanções múltiplas de natureza diversa: a responsabilidade civil dirige-se à recomposição patrimonial da seguradora; a multa processual tutela a atividade jurisdicional.
Do ponto de vista comparado, o Insurance Act 2015, no Reino Unido, contém regra análoga, reputando fraud claims causa de perda proporcional do direito; o legislador brasileiro, contudo, preferiu formulação mais ampla, abrangendo omissões culposas, não apenas frau- dulentas. À vista disso, a hermenêutica sistemática demanda conjugar o art. 100 com a funcionalidade do contrato, vedando interpretação que conduza a desequilíbrio acentuado, sob pena de contrariar o princípio da eticidade inscrito no art. 113 do Código Civil.
No plano prático, seguradoras deverão aperfeiçoar protocolos de comunicação e de coleta de documentos, fornecendo canais digitais que possibilitem ao garantido cumprir seu dever de forma célere, sob risco de se verem impedidas de alegar mora do segurado.
Segundo a racionalidade econômica, o dispositivo promove o alinhamento de incentivos, pois internaliza custos de comportamento oportunista no agente que o pratica, mantendo a mutualidade imune à externalização de perdas. A perspectiva de análise econômica do direito sugere que a internalização dos custos de não cooperação, prevista no artigo 100, reduz externalidades negativas e induz comportamento diligente, aproximando-se do primeiro-melhor em termos de eficiência de Pareto.
Ademais, o princípio da proporcionalidade, ainda que não explicitado, orienta a dosagem dos prejuízos imputáveis: somente o nexo causal demonstrado deverá ser indenizado; se a seguradora, mesmo com a omissão, conseguir defender - se eficazmente, nada haverá a ressarcir.
O dispositivo guarda consonância com o princípio de sustentabilidade financeira enunciado pela Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), ao imputar custos de não cooperação ao próprio faltoso. A articulação lógica com o artigo 101 da lei – que que determina: “quando a pretensão do prejudicado for exercida exclusivamente contra o segurado, este será obrigado a cientificar a seguradora, tão logo seja citado para responder à demanda, e a disponibilizar os elementos necessários para o conhecimento do processo.”
O art. 129, ao fomentar arbitragem, reforça o valor da cooperação, pois sem ela a instauração do juízo arbitral seria obstada; logo, a frustração deliberada poderá acarretar não apenas responsabilidade civil, mas também resolução contratual por inadimplemento substancial.
-246- Índice
Em síntese, o artigo 100 opera como ponte entre direito contratual clássico e regulação prudencial, sopesando interesses de segurados, seguradoras, beneficiários e coletividade, em consonância com o art. 174 da Constituição, que atribui ao Estado papel de regulador da ordem econômica. Assim, o dever de não agir em detrimento da seguradora alcança, inclusive, negociações extrajudiciais que o garantido celebre com a parte lesada; qualquer avença que amplie artificialmente o valor da obrigação poderá ser questionada em regresso.
A doutrina de confiança legítima reforça a interpretação de que o garantido não pode submeter a seguradora a riscos processuais inesperados, sob pena de violar a confiança depositada por toda a mutualidade segurada ao fixar o prêmio. Paralelamente, o instituto serve de parâmetro para futuros contratos de seguro cibernético, nos quais a tempestividade da informação sobre incidentes de segurança é vital para conter ataques e mitigar danos em rede.
Por fim, caberá às seguradoras, por imperativo de transparência, divulgar claramente, no momento da subscrição, o espectro de atos considerados em detrimento de seus direitos, sob pena de se verem limitadas a alegar apenas violações expressamente tipificadas.
8. Conclusão
A Lei 15.040/2024 inaugura um estatuto de seguros privados de feição inovadora e revolucionária, ao conferir ao seguro de responsabilidade civil caráter autenticamente trilateral e autonomia técnica em matéria de custos defensivos. Essa concepção desloca o instituto para o epicentro da tutela patrimonial contemporânea, revalorizando a mutualidade e ampliando a proteção das vítimas de danos.
Ao equiparar a obrigação da seguradora à dívida original do responsável (art. 99) e ao positivar deveres cooperativos e informacionais (art. 100), o Novo Marco Legal robustece a segurança jurídica, fomenta a eficiência alocativa e mitiga controvérsias até então crônicas — notadamente em torno da ação direta e da solidariedade passiva. Contudo, tal evolução impõe desafios contratuais, atuariais e regulatórios, exigindo a densificação das previsões relativas à retroatividade, aos sub-limites e à disciplina de conflitos de interesse.
Em última análise, o regramento consagrado pela Lei 15.040/2024 não apenas consolida a função social do seguro, mas também inaugura
agendas de pesquisa e práticas profissionais voltadas a aperfeiçoar a harmonização entre interesses do segurado, da seguradora e dos terceiros, de modo a assegurar reparação célere, integral e equânime.
Bibliografia
ALEMANHA. Versicherungsvertragsgesetz (VVG) – Lei do Contrato de Seguro, § 115. Promulgada em 23 de novembro de 2007. Disponível em: https://www.gesetze-im-internet.de/vvg_2008/__115.html. Acesso em: 20 abr. 2025.
BARBAT, Andrea Signorino. La transparencia em el derecho de seguros - especial referencia al cumplimiento de las cargas y obligaciones de las partes. In: GOLDBERG, Ilan; JUNQUEIRA, Thiago (coord.). Temas Atuais de Direito dos Seguros. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, t. II.
BASSANI, Bárbara. Projeto de Lei de Seguros: uma visão crítica geral e uma específica nos seguros de responsabilidade civil. In: GOLDBERG, Ilan; JUNQUEIRA, Thiago (coord.). Direito dos Seguros em movimento. Indaiatuba: Foco, 2024.
BRANDÃO, Rodrigo Zanirato. Marco Legal dos Seguros e o suposto fim da responsabilidade solidária nos seguros de responsabilidade civil. Consultor Jurídico. 17 jan. 2025. Disponível em: https://www.conjur. com.br/2025-jan-17/marco-legal-dos-seguros-e-o-suposto-fim-da-responsabilidade-solidaria-nos-seguros-de-responsabilidade-civil/ Acesso em: 20 abr. 2025.
BRASIL. Decreto nº 8.327, de 16 de outubro de 2014. Promulga a Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias – Uncitral, firmada pela República Federativa do Brasil em Viena, em 11 de abril de 1980. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 out. 2014. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/decreto/d8327.htm. Acesso em: 20 abr. 2025.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Recurso Especial n.º 2.028.835/MG. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 04 mar. 2024. DJe 08 mar. 2024.
-248- Índice
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.133.459/ RS. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.ª Turma. Julgado em 21 ago. 2014. Diário da Justiça Eletrônico, 3 set. 2014.
CARLINI, Angélica; CARVALHAL, Glauce (coord.). Lei de seguros interpretada: Lei 15.040/2024 - artigo por artigo. Indaiatuba: Foco, 2025. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 20 abr. 2025.
CLARKE, Malcolm A.; YATES, David. Contracts of carriage by land and air. 2. ed. Londres, Routledge, 2014.
FRANÇA. Code des assurances: version consolidée au 21 avr. 2025. Paris: Légifrance, 2025. Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/ codes/id/LEGITEXT000006073984/. Acesso em: 21 abr. 2025
FURTADO, Gabriel Rocha. Mora no pagamento do prêmio. In: GOLDBERG, Ilan; JUNQUEIRA, Thiago (coord.). Temas Atuais de Direito dos Seguros. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, t. I.
JUNQUEIRA, Thiago. O risco no domínio dos seguros. In: GOLDBERG, Ilan; JUNQUEIRA, Thiago (coord.). Temas Atuais de Direito dos Seguros. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, t. II.
KRETZMANN, Renata Pozzi. Boa-fé no contrato de seguro: o dever de informar do segurador. In: GOLDBERG, Ilan; JUNQUEIRA, Thiago (coord.). Temas Atuais de Direito dos Seguros. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, t. II.
PORTUGAL. Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril. Estabelece o regime jurídico do contrato de seguro. Diário da República: 1.ª série, n.º 75, 16 abr. 2008. Disponível em: https://diariodarepublica.pt/dr/ detalhe/decreto-lei/72-2008-249804. Acesso em: 20 abr. 2025.
RAMOS, Maria Elisabete. D&O Insurance em Portugal: de apólice residual a instrumento estratégico na empresa. In: GOLDBERG, Ilan; JUNQUEIRA, Thiago (coord.). Temas Atuais de Direito dos Seguros. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, t. II.
REINO UNIDO. Insurance Act 2015: 2015 Chapter 4. Royal Assent em 12 fev. 2015. London: The Stationery Office, 2015. Dis-
ponível em: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/4. Acesso em: 20 abr. 2025.
ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe. Código Civil Comentado artigo por artigo. 6. Ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2025.
ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; FARIAS, Cristiano Chaves; Curso de direito civil. Contratos. Salvador: JusPodivm, 2025.
SARAIVA NETO, Pery. O seguro como instrumento econômico de garantia de reparação de danos ambientais. Revista IBERC, Belo Horizonte, v. 5, n. 2, p. 39–60, maio-ago. 2022.
SOUZA, Bárbara Bassani de. Novos rumos para o seguro de responsabilidade civil. In: GOLDBERG, Ilan; JUNQUEIRA, Thiago (coord.). Temas Atuais de Direito dos Seguros. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, t. II.
VEIGA COPO, Abel B. Referência especial à delimitação de risco em responsabilidade civil e seguro de ação direta. Revista IBERC, Belo Horizonte, v. 5, n. 2, p. 247–283, maio-ago. 2022.
Que Entidades Podem Pactuar Contratos de Seguro?
Exegese do art. 2º da Lei nº 15.040/2024 e do Decreto-Lei nº 73/1966 com a nova redação conferida pela Lei Complementar nº 213/2025
Ney Wiedemann Neto1
Resumo: O contrato de seguro não pode ser ofertado por qualquer pessoa jurídica, havendo no Brasil a necessidade de prévia autorização do poder público, cuja entidade reguladora exerça também a fiscalização e o controle da atividade. O presente artigo examina, à luz da Lei do Contrato de Seguro e demais diplomas legislativos em vigor, quais são as entidades que podem oferecer o contrato de seguro aos interessados.
Abstract: The insurance contract cannot be offered by just any legal entity, as prior authorization from public authorities is required in Brazil. The regulatory agency is also responsible for supervising and overseeing this activity. This article examines, considering the Insurance Contract Law and other current legislation, of which entities are authorized to offer insurance contracts to interested parties.
Palavras-chave: Contrato de seguro; atividade de seguros; controle e fiscalização.
Keywords: Insurance contract; Insurance business; Monitoring and regulation.
Sumário: 1. Introdução; 2. Que entidades podem pactuar contratos de seguro?; 3. Conclusão e Referências Bibliográficas.
1. Introdução
A atividade seguradora, por sua natureza intrinsecamente técnica e pela relevante função social que desempenha, caracteriza-se como uma
1 Desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Mestre em Poder Judiciário pela FGV DIREITO RIO. Professor de direito empresarial em cursos de pós-graduação.
operação de intermediação de riscos, exigindo dos seus operadores não apenas capacidade econômica, mas, sobretudo, qualificação jurídica, solidez institucional e permanente supervisão estatal. Trata-se de setor estratégico da economia, no qual são administrados recursos de terceiros, os prêmios pagos pelos segurados, com o objetivo de garantir proteção patrimonial e financeira diante da concretização de eventos incertos e danosos. Nesse cenário, a regulação não é apenas desejável, mas imperativa, a fim de preservar a higidez do mercado, assegurar a solvência das instituições e proteger os interesses dos consumidores e da coletividade.
O contrato de seguro, como instituto jurídico, estrutura-se sob a forma de um pacto bilateral e oneroso, cujo objeto central consiste na transferência de riscos do segurado para o segurador, mediante o pagamento de prêmio e com a contrapartida da promessa de indenização ou prestação equivalente caso ocorra o sinistro. Por envolver assunção de obrigações futuras com forte componente de mutualidade e confiança, este tipo contratual não pode ser celebrado por qualquer pessoa jurídica, sendo imprescindível que o ente legitimado a prestar a garantia securitária detenha autorização prévia do poder público. Dentro desse panorama, o ordenamento jurídico brasileiro impõe limites estritos quanto aos sujeitos que podem validamente operar no setor de seguros. A restrição não constitui mera formalidade burocrática, mas se funda em exigências de natureza prudencial, que visam garantir que apenas entidades dotadas de adequada estrutura técnico-operacional, solvência financeira e governança compatível com os riscos assumidos ingressem nesse mercado sensível.
Com a promulgação da Lei nº 15.040, de 2024, e, na sequência, da Lei Complementar nº 213, de 2025, esta última responsável por alterar substancialmente o Decreto-Lei nº 73, de 1966, inaugurou-se um novo marco regulatório da atividade seguradora. Em particular, destaca-se o art. 2º da Lei nº 15.040/2024, que estabelece, com clareza e precisão normativa, que somente podem pactuar contratos de seguro aquelas entidades previamente autorizadas pelo órgão competente, segundo os critérios legais e regulatórios. A norma, nesse ponto, opera como cláusula de exclusividade, vedando o acesso indiscriminado de agentes econômicos ao setor securitário e subordinando o exercício dessa atividade à autorização estatal fundada em parâmetros objetivos.
A Lei Complementar nº 213/2025, por sua vez, trouxe alterações relevantes ao art. 24 do Decreto-Lei nº 73/1966, ampliando a gama de pessoas jurídicas legitimadas a atuar em seguros privados. Entre as
Índice
-252-
inovações mais significativas, figura a ampliação do escopo das sociedades cooperativas de seguros, que, antes limitadas a ramos específicos (como seguros agrícolas, de saúde e de acidentes do trabalho), passam agora a poder operar em quaisquer ramos de seguros privados. Tal modificação representa não apenas uma abertura regulatória, mas também uma inflexão no modelo tradicional de organização do mercado securitário, o qual era, até então, rigidamente centrado em sociedades anônimas. Outro ponto trazido pela reforma foi a introdução das chamadas Administradoras de Operações de Seguro, figura jurídica inédita, cuja natureza e limites operacionais ainda demandam detalhamento regulamentar.
Diante desse novo arranjo normativo, impõe-se o exame dos dispositivos legais pertinentes, especialmente o art. 2º da Lei nº 15.040/2024 e o art. 24 do Decreto-Lei nº 73/66 em sua redação atualizada, com vistas a compreender os fundamentos jurídicos da restrição da atividade seguradora.
2. Que Entidades Podem Pactuar Contratos de Seguro?
A moderna concepção do contrato de seguro, como bem pontua Ernesto Tzirulnik2, rompe com a visão tradicionalmente restritiva que o enquadrava como mero pacto de indenização pecuniária. Segundo o renomado autor, “o contrato de seguro deixou de ser um simples contrato de indenização para se tornar um instrumento de proteção social e econômica, exigindo um regime jurídico que reconheça essa função expandida”. Trata-se de uma redefinição funcional do seguro no seio das relações privadas, que passa a ser compreendido como mecanismo jurídico essencial à gestão de riscos, à estabilidade econômica e à solidariedade social. A assertiva do autor revela a consolidação de uma concepção funcionalista do seguro, segundo a qual esse contrato não mais se limita à recomposição de danos, mas assume papel ativo na estruturação de redes de proteção coletiva e na mitigação dos efeitos econômicos decorrentes de riscos diversos.
A atividade seguradora insere-se no campo das atividades econômicas de relevante interesse público, em razão de seu papel na proteção
2 TZIRULNIK, Ernesto. O questionário de risco no contrato de seguro. Revista Jurídica de Seguros, v. 16, p. 31-52, 2022.
patrimonial e pessoal dos indivíduos, bem como na estabilidade dos mercados financeiros. Em razão disso, é submetida a regime jurídico especial, que impõe condições de ingresso, funcionamento e fiscalização. Dada essa relevância pública, a atuação no setor securitário está sujeita a um regime jurídico específico e rigoroso, que condiciona o ingresso, o exercício e a fiscalização dessa atividade a critérios técnicos e normativos estritos, sob a supervisão de órgãos especializados, como a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP).
Diante dessa relevância pública e da complexidade da atividade seguradora, é natural que o ordenamento jurídico imponha regras rígidas para definir quem pode atuar nesse setor. A exigência de autorização prévia e o controle por órgãos especializados não são meras formalidades, mas garantias essenciais para assegurar que apenas entidades idôneas, financeiramente sólidas e tecnicamente preparadas assumam a responsabilidade de oferecer seguros à população.
Nesse contexto, o artigo 2º da Lei do Contrato de Seguro3 (Lei nº 15.040/2024) reforça esse compromisso ao estabelecer, de forma expressa, que apenas entidades legalmente autorizadas podem celebrar contratos de seguro. Essa previsão traduz um princípio fundamental do sistema jurídico do seguro no Brasil: apenas empresas autorizadas e fiscalizadas pelo Estado podem atuar nesse mercado, justamente para proteger os consumidores e garantir a estabilidade do setor. A atuação nesse setor é prerrogativa de instituições submetidas à prévia regulação e supervisão estatal, visando à tutela da higidez do mercado e à proteção dos segurados.
Esse dispositivo reafirma o princípio da autorização prévia como requisito de legitimidade subjetiva para a atuação no setor segurador. Trata-se de uma cláusula de reserva legal, que impõe a prévia submissão da entidade interessada ao crivo da autoridade reguladora, atualmente, a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). A norma possui caráter vinculante, ou seja, nenhuma pessoa física ou jurídica pode oferecer ou subscrever contratos de seguro sem autorização legal. O objetivo é evitar a atividade securitária informal, que pode mascarar esquemas fraudulentos ou estruturalmente incapazes de garantir o pagamento das indenizações contratadas.
3 Art. 2º Somente podem pactuar contratos de seguro entidades que se encontrem devidamente autorizadas na forma da lei.
Índice
-254-
A atividade securitária configura-se como atividade econômica de relevante interesse público, sujeita a um regime jurídico próprio e restritivo quanto à forma de organização dos entes autorizados a operá-la. Essa limitação estrutural decorre da necessidade de garantir estabilidade técnica, financeira e institucional às entidades que atuam na cobertura de riscos alheios, o que pressupõe não apenas um arcabouço jurídico robusto, mas também uma governança capaz de assegurar a gestão adequada dos fundos mutualistas e a solvência das obrigações contratuais assumidas perante os segurados. A legislação securitária busca, portanto, proteger os interesses dos consumidores e preservar a confiança no mercado de seguros, instrumento essencial à segurança jurídica das relações econômicas.
O comando legal previsto no art. 2º da Lei nº 15.040/2024, ao estabelecer que apenas entidades previamente autorizadas podem pactuar contratos de seguro, consagra a reserva legal institucional da atividade securitária. A exigência de autorização prévia representa a materialização do princípio da legalidade estrita aplicado ao exercício de atividades econômicas reguladas, especialmente aquelas que envolvem administração de riscos de terceiros, formação de fundos mutualistas, pagamento de indenizações e benefícios e, por conseguinte, a proteção do interesse público subjacente.
O controle estatal sobre a entrada e a atuação no mercado securitário se legitima pela necessidade de assegurar a solvência, a transparência e a boa governança das entidades envolvidas. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado a nulidade de contratos firmados com entidades não autorizadas, sob o fundamento de violação à ordem pública e à regulação protetiva dos consumidores4.
4 DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COBERTURA NEGADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO A FAVOR DO CONSUMDIOR. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS QUE LIMITAM INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (...) 5. As associações de proteção veicular não são regulamentadas pela SUSEP e, portanto, não são seguradoras, carecendo da empresarialidade necessária aos contratos de seguro. Por outro lado, assim como os de seguro, são contratos firmados para proteger os associados de determinados riscos, garantindo-lhes cobertura. Na prática, e perante o consumidor leigo, as duas modalidades são similares. 6. Para os contratos de associação para proteção veicular, o risco estará coberto dentro dos limites estabelecidos pela associação e livremente aceitos pelo consumidor. 7. Inexiste abusividade na cláusula que limita as
Além disso, a vedação à atuação de entidades não autorizadas busca coibir a proliferação de modelos associativos informais, muitas vezes travestidos de “proteção mútua”, mas sem as garantias atuariais e financeiras exigidas do setor segurador formal. Tais práticas, quando identificadas, configuram exercício irregular da atividade securitária e podem ensejar sanções administrativas, civis e penais. Portanto, o art. 2º da nova Lei do Contrato de Seguro não apenas reafirma a exigência de autorização legal como requisito formal, mas concretiza um modelo de regulação pública protetiva, que articula interesses econômicos e sociais e busca garantir o equilíbrio e a confiança no mercado securitário.
O art. 2º da Lei 15.040/2024 traz uma diretriz normativa em perfeita consonância com o disposto no art. 245 do Decreto-Lei nº 73/1966, que define, nos termos de sua atual redação, alterada pela Lei Complementar 212/2025, que a exploração de seguros privados é reservada exclusivamente às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de sociedade por ações ou de sociedade cooperativa, sendo condição indispensável a prévia autorização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), órgão competente para a regulação, fiscalização e controle do setor. Importante lembrar que a modificação promovida pela Lei Complementar nº 213/2025 ampliou o espectro de atuação das cooperativas de seguros, que antes estavam restritas a ramos específicos, como o seguro agrícola, o seguro de saúde e o seguro de acidentes do trabalho, e agora podem operar em quaisquer ramos de seguros privados. coberturas no contrato de associação para proteção veicular. 8. A interpretação mais favorável ao consumidor não impede que as partes negociem os termos da contratação. 9. No recurso sob julgamento, apesar da aplicação da legislação consumerista à espécie, a indenização deve se limitar ao orçamento apresentado pela associação, pois, diferentemente daquele apresentado pelo recorrente, considera as limitações contratualmente previstas. IV. Dispositivo 10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie. Dispositivos citados: arts. 757, 760, Código Civil; arts. 2º, 3º, 47 e 51, Código de Defesa do Consumidor. (REsp n. 2.186.942/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)
5 Art. 24. Poderão operar em seguros privados apenas as pessoas jurídicas constituídas sob a forma de sociedade por ações ou de sociedade cooperativa previamente autorizadas pela Susep. (Redação dada pela Lei Complementar nº 213, de 2025)
-256- Índice
No que tange especificamente às cooperativas de seguros, embora lhes seja facultado operar no âmbito do Sistema Nacional de Seguros Privados, a atuação dessas entidades é limitada pelo mesmo art. 24, § 2º6, do Decreto-Lei nº 73/66, que veda sua participação em operações estruturadas segundo os regimes financeiros de capitalização e de repartição de capitais de cobertura. Tais regimes são privativos das sociedades seguradoras organizadas sob a forma de sociedade por ações, tendo em vista sua complexidade atuarial e a necessidade de manter reservas técnicas compatíveis com as projeções de longo prazo, o que demanda um modelo societário dotado de maior capacidade de mobilização de recursos e fiscalização institucional.
Contudo, essa liberalização não implica redução dos critérios, os quais continuam rigorosos, justamente para assegurar que as cooperativas mantenham capacidade operacional, reservas técnicas e governança compatíveis com os riscos assumidos. Nesse ponto, o modelo cooperativo passa a ser uma alternativa institucional regulada, cuja atuação está sujeita ao mesmo nível de fiscalização e conformidade aplicável às seguradoras tradicionais, o que evita assimetrias de supervisão.
A referida Lei Complementar 212/2025 também promoveu importantes inovações institucionais, como a criação das Administradoras de Operações de Proteção Patrimonial Mutualista7, que se
6 § 2º As operações de seguro estruturadas nos regimes financeiros de capitalização e de repartição de capitais de cobertura serão exclusivas de pessoas jurídicas constituídas sob a forma de sociedades por ações.
7 Art. 88-D. Considera-se operação de proteção patrimonial mutualista aquela que tenha por objeto a garantia de interesse patrimonial de um grupo de pessoas contra riscos predeterminados que sejam repartidos entre os seus participantes por meio de rateio mutualista de despesas. (Incluído pela Lei Complementar nº 213, de 2025)
§ 1º O rateio mutualista de despesas é o regime por meio do qual as despesas para a cobertura dos eventos ocorridos em um grupo de proteção patrimonial mutualista, em período predeterminado, são repartidas mutuamente entre os seus participantes na forma prevista em contrato de participação, por adesão. (Incluído pela Lei Complementar nº 213, de 2025)
§ 2º O CNSP definirá os danos materiais próprios dos participantes ou de terceiros afetados pelo evento coberto que estarão compreendidos nos riscos patrimoniais passíveis de serem garantidos nas operações de proteção patrimonial mutualista. (Incluído pela Lei Complementar nº 213, de 2025)
§ 3º A operação de proteção patrimonial mutualista destinada exclusivamente ao transporte de carga prevista neste Capítulo deverá ter regulamentação específica pelo
configuram como sociedades empresárias incumbidas da gestão de mecanismos mutualistas voltados à proteção patrimonial. Tais entidades, igualmente sujeitas à prévia autorização da Susep, desempenham funções essenciais como o processamento de adesões, arrecadação de contribuições e efetivação de pagamentos indenizatórios, com deveres fiduciários e de transparência compatíveis com a complexidade da atividade que exercem.
A Associação de Proteção Patrimonial Mutualista deverá ser instituída com a finalidade específica de realizar operações de proteção patrimonial mutualista, consistentes na constituição de um mecanismo de cobertura de riscos patrimoniais previamente delimitados, em benefício de um grupo de pessoas vinculadas à associação. Tal proteção será viabilizada mediante rateio das despesas decorrentes da ocorrência de eventos danosos, conforme critérios objetivos e proporcionais definidos no contrato de participação por adesão, instrumento jurídico que estabelece os direitos e deveres dos participantes e disciplina a dinâmica mutualista da operação. A associação poderá ser composta por pessoas naturais ou jurídicas, desde que unidas por interesses patrimoniais convergentes e sujeitas a riscos comuns, observando-se os limites legais e regulamentares incidentes sobre sua constituição e operação.
Paralelamente, houve a regulamentação das Associações de Proteção Patrimonial, especialmente aquelas que vinham atuando no segmento de proteção veicular sob o modelo da ajuda mútua. Nos termos da nova legislação, tais associações dispõem de prazo de 180 dias contados da publicação da norma para promover sua adequação ao modelo regulado, sob pena de serem compelidas a encerrar suas atividades. A medida representa um avanço na organização institucional do setor, ao combater práticas que, sob o manto do mutualismo, replicavam operações típicas de seguro sem o devido controle estatal.
A exigência de contratação obrigatória de uma administradora profissional visa assegurar a boa governança das operações mutualistas, a transparência na gestão dos recursos arrecadados entre os participantes e a mitigação de riscos operacionais e administrativos, contribuindo, assim, para a segurança jurídica e a confiabilidade do sistema mutualista de proteção patrimonial. Trata-se, portanto, de estrutura regulaCNSP. (Incluído pela Lei Complementar nº 213, de 2025)
-258- Índice
tória inovadora que conjuga a autonomia associativa com a supervisão técnico-institucional, em consonância com os princípios da livre iniciativa solidária, da subsidiariedade regulatória e da eficiência operacional, pilares centrais do novo regime normativo instituído pelas Leis nº 15.040/2024 e a Lei Complementar nº 213/2025.
Nesse novo contexto normativo, a SUSEP8 passa a exercer papel ainda mais incisivo como autoridade reguladora e fiscalizadora, com poderes ampliados para aplicar sanções administrativas, inclusive multas, suspensões e inabilitação de administradores, em casos de descumprimento das normas legais e regulamentares.
No plano contratual, o Código Civil também reforça esse regime ao dispor, no parágrafo único do art. 7579, que somente pode atuar como segurador a entidade expressamente autorizada por lei. A exigência de autorização legal transcende o aspecto meramente formal da constituição das partes no contrato: trata-se de instrumento de proteção sistêmica, voltado a assegurar que apenas entidades dotadas de capacidade técnica, solidez financeira e adequada governança assumam o compromisso de garantir riscos alheios10.
A razão de ser dessas exigências encontra amparo na natureza própria da atividade securitária, cuja empresarialidade11 constitui elemento intrínseco e indissociável. A atividade de seguro não se limita a uma função de redistribuição de riscos, mas compreende um processo econômico e técnico altamente especializado, que envolve desde a mensuração atuarial do
8 SCHMITT, Daniel. 11. A Responsabilidade dos Administradores no Âmbito do Processo Administrativo Sancionador no Setor Regulado de Seguros Privados (Susep – Crsnsp) In: GOLDBERG, Ilan; JUNQUEIRA, Thiago. Temas Atuais de Direito dos Seguros. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021.
9 Art. 757. (...) Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.
10 MIRAGEM, Bruno. Petersen, Luíza. Direito dos seguros, 1ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 181.
11 CARLINI, Angélica; CARVALHAL, Glauce. Lei de Seguros Interpretada –Lei 15.040/2024: artigo por artigo. São Paulo: Editora Foco, 2024. 196 p. ISBN 9786561204217. p. 2-3.
risco à subscrição criteriosa das coberturas, passando pela administração dos recursos financeiros do fundo mutual, pelo pagamento de indenizações, e pela adequação a um complexo aparato normativo regulatório.
No âmbito do contrato de seguro12, o elemento subjetivo essencial à sua configuração jurídica reside na presença da seguradora como parte contratante responsável pela assunção do risco. A seguradora, sob o prisma técnico-jurídico, deve ser compreendida como uma pessoa jurídica constituída sob forma empresarial, cuja atividade econômica específica consiste na constituição e gestão profissional de fundos mutualísticos, estruturados mediante a arrecadação de prêmios pagos por um grupo de segurados expostos a riscos semelhantes. Importa assinalar, todavia, que a presença da seguradora em uma relação jurídica, embora condição necessária para a configuração de um contrato de seguro, não é, por si só, suficiente para qualificá-lo como tal. A seguradora, na qualidade de ente empresarial, pode celebrar contratos que não guardam identidade com o seguro em sentido técnico, notadamente pela ausência dos elementos característicos desse instituto, como a aleatoriedade e a socialização do risco.
Exemplificativamente, o denominado seguro-garantia13, embora envolva a seguradora como garantidora, apresenta estrutura e finalidade diversas, aproximando-se, em muitos aspectos, da fiança bancária e da caução, sem reproduzir a lógica mutualística de repartição do risco entre segurados. De igual modo, produtos como o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e o Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), ainda que oferecidos por seguradoras e contratualmente denominados “seguros”, são instrumentos de natureza predominantemente atuarial e de capitalização. Durante o período de diferimento, na ausência de estipulação de renda, esses produtos não envolvem propriamente o risco, afastando-se do conceito clássico de seguro14.
12 COELHO, Fábio. Capítulo 35. Seguro In: COELHO, Fábio. Direito Civil. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-civil/1540361368.
13 COMPARATO, Fábio Konder Notas retificadoras sobre seguro de crédito e fiança. Revista de Direito Mercantil, São Paulo: RT, n. 51, p. 95/104, 1983.
14 TZIRULNIK, Ernesto & CAVALCANTI, Flávio de Queiroz & PIMENTEL, Ayrton. O contrato de seguro – novo Código Civil brasileiro. São Paulo: IBDS, 2002.
Índice
-260-
O contrato de seguro 15, por sua natureza, envolve posições jurídicas assimétricas, em que o segurado transfere um risco mediante o pagamento de prêmio e confia no cumprimento da obrigação futura por parte do segurador. Por isso, o exercício da atividade seguradora deve atender a requisitos rigorosos de solvência, gestão atuarial, constituição de provisões técnicas e transparência informacional, os quais são objeto de regulação e contínua fiscalização por parte da Susep. A autorização legal converte-se, assim, em mecanismo de proteção da confiança legítima depositada pelos consumidores na integridade do sistema. Tal normatividade coíbe a proliferação de contratos celebrados por entidades não autorizadas, cuja atuação compromete não apenas os direitos individuais dos segurados, mas a própria estabilidade do mercado. A vedação à atuação irregular de associações disfarçadas de seguradoras coíbe fraudes, evasões regulatórias e compromissos não garantidos, preservando a credibilidade do setor. Nesse sentido, o artigo 2º da Lei do Contrato de Seguro constitui verdadeiro pilar de segurança jurídica, estabelecendo um marco normativo claro e objetivo quanto à legitimidade das entidades que podem contratar seguros.
Assim, ao reafirmar a exigência de constituição societária específica e o controle técnico e institucional sobre as entidades autorizadas a operar com seguros, o legislador visa assegurar solidez, previsibilidade e confiança no setor securitário, atributos indispensáveis à sua função de amparo e compensação de perdas em contextos de risco. A estrutura empresarial qualificada deixa, portanto, de ser uma opção de mercado, assumindo a condição de requisito legal e funcional para o exercício legítimo da atividade securitária no Brasil.
Nesse contexto, com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 213/2025, que passou a regulamentar especificamente o funcionamento das cooperativas de seguros e as operações mutualistas de proteção patrimonial, tais entidades foram formalmente inseridas no Sistema Nacional de Seguros Privados. Diante disso, impõe-se o reconhecimento de que, naquilo que for compatível com suas peculiaridades estruturais e operacionais, essas organizações devem se submeter à disciplina da nova Lei do Contrato de Seguro.
15 MIRAGEM, Bruno; CARLINI, Angélica. Direito dos seguros: fundamentos de direito civil: direito empresarial e direito do consumidor. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2014.
A aplicabilidade supletiva da lei securitária às cooperativas e associações mutualistas justifica-se pelo fato de que essas entidades, embora organizadas sob regime jurídico distinto das seguradoras tradicionais, passam a oferecer produtos cuja essência técnica e funcional coincide com os elementos estruturantes do contrato de seguro. Tal convergência manifesta-se, notadamente, na constituição de fundos mutualistas, alimentados pelas contribuições periódicas dos cooperados ou mutualistas, destinados a garantir a indenização de prejuízos oriundos de riscos previamente convencionados.
Dessa forma, a relação jurídica estabelecida entre os cooperados, as sociedades cooperativas de seguro e os grupos de proteção patrimonial mutualista configura uma verdadeira relação securitária, não podendo se furtar às normas cogentes e protetivas previstas na legislação específica de seguros. Tal sujeição é essencial para assegurar a tutela adequada dos interesses dos participantes, a estabilidade do sistema, bem como a harmonização regulatória no âmbito do mercado securitário nacional.
Assim, a incidência, ainda que parcial e subsidiária, da Lei do Contrato de Seguro sobre essas novas formas de organização mutualista encontra respaldo no próprio espírito da norma e na necessidade de coerência e uniformidade sistêmica no tratamento jurídico das atividades de cobertura de riscos.
Todavia, cumpre distinguir, no plano conceitual, a atividade securitária típica da atuação legítima das associações civis de ajuda mútua, organizadas sob o regime do direito privado e sem finalidade lucrativa. Essas entidades, quando operam estritamente no âmbito do associativismo, com base em princípios de solidariedade, sem a constituição de reservas técnicas, sem a oferta pública de produtos securitários e sem promessa de indenização garantida mediante contraprestação econômica, não se confundem com seguradoras e, por conseguinte, não incidem na vedação legal.
Esse entendimento encontra respaldo não apenas na doutrina, mas também na jurisprudência, que distingue a legítima mutualidade da atuação irregular de entidades que, na prática, exercem atividade securitária sem autorização legal16.
16 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE
-262- Índice
Contudo, quando essas associações ultrapassam os limites do mutualismo genuíno, passando a operar com estrutura e finalidade próprias de seguradoras, como a cobrança periódica de contribuições fixas, promessa de pagamento em caso de sinistro, e constituição de fundos de reserva, configuram-se como seguradoras de fato, sujeitando-se à fiscalização da Susep e às sanções cabíveis por exercício irregular da atividade. Portanto, a legalidade17 das associações de ajuda mútua depen-
NÃO PODE SER COMPARADA À SEGURADORA. FUNDO DE AUXÍLIO DENOMINADO GRUPO DE RATEIO DE RISCO. SINISTRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE ASSOCIADO E ASSOCIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. APLICAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO. NECESSIDADE DE VISTORIA. NÃO REALIZADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Trata-se de ação de cobrança de indenização por danos materiais, lucros cessantes e morais, na qual postula a parte autora o pagamento dos danos decorrentes de sinistro envolvendo seu veículo caminhão, julgada improcedente na origem. A requerida é uma associação civil sem fins lucrativos. Inviável, portanto, equipará-la a uma seguradora, nos termos do artigo 757 do Código Civil. De igual forma, inaplicável ao caso telado as regras do CDC, pois inexistente relação de consumo entre o associado e a associação. A Associação se constituiu de um fundo fechado, formado pelos associados, e, no caso concreto, de uma cooperativa de transportadores/motoristas de caminhão, de ajuda mútua e assistência financeira entre seus associados, resultante da união de esforços para compartilhamento de riscos, a qual possui regras próprias, ditadas por seu Regimento Interno, sem a existência de um contrato de seguro com ideia de lucro, como existente nas relações firmadas com as seguradoras, que se utilizam da atividade comercial para obter vantagem patrimonial. As partes mantêm vínculo contratual através do “Contrato de Adesão de Rateio de Risco – G4” (fl. 20), que possui seu regulamento próprio e deverá ser fielmente cumprido por todos os associados, a fim de manter o equilíbrio da relação e sua própria existência. A discussão cinge-se na exclusão de cobertura do sinistro em face de a parte autora não ter levado o veículo à vistoria, após ter realizado o pagamento dos prêmios em atraso (3 mensalidades), no dia do sinistro, cuja regra estava devidamente estabelecida no art. 34, caput e parágrafo único do regimento interno. Aderindo o autor ao grupo de associados, de modo livre, submetendo-se, portanto, ao seu respectivo regramento, não pode pretender transmudar a natureza da relação negocial havida para ver aplicadas regras próprias de institutos diversos, de contornos jurídicos absolutamente distintos. Após o pagamento do prêmio em atraso, no dia do sinistro, a parte autora não submeteu o veículo a nova vistoria, na forma do Regimento Interno, o que afasta a responsabilidade da associação em efetuar o pagamento da indenização pleiteada. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME(Apelação Cível, Nº 70085098101, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 22-10-2021)
17 DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO DE VEÍCULOS. VENDA DE SEGUROS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA TANTO. SUSEP. COMANDO JUDICIAL ORDENANDO A NECESSIDADE DE ADE-
-263- Índice
QUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DIFUSOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO E FOMENTO JURÍDICO PARA TANTO. REPERCUSÃO DA CONDUTA PRATICADA PELA RÉ QUE NÃO MOSTRA-SE SUFICIENTE PARA AS CONDENAÇÕES PRETENDIDAS. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO E NO SITE DA DEMANDADA. QUESTÃO PREJUDICADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I - CASO EM EXAME 1. Apelações contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação coletiva de consumo intentada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul em face da Associação Cooral de Transportadores. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Insurgência autoral visando a condenação da associação demandada ao pagamento de indenização por danos individuais homogêneos, ao pagamento de indenização por danos morais difusos e à publicação da sentença em jornal de circulação e em seu sítio eletrônico. 3. Insurgência defensiva buscando o julgamento de total improcedência da contenda aforada em seu desfavor, para o fim de reformar o comando judicial que lhe determinou, “no prazo máximo de 180 dias, se adeque as normativas aplicáveis ao seguro mutual, aplicável extensivamente aos grupos restritos de ajuda mútua caracterizados pela autogestão (Decreto-Lei nº 2.063/40 e legislação correlata - Decretos-Leis 3.908/41, 4.609/42, 7.377/45 e 8.934/46), com posterior comprovação junto à SUSEP”. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. Trata-se, na origem, de ação civil de consumo, proposta pelo Ministério Público, sob alegação de defesa de possíveis consumidores lesados pela conduta da requerida, associação recorrente, ao oferecer proteção veicular, sob a forma de associativismo a motoristas a ela associados. 5. À luz do caderno processual, mantida deve ser a procedência parcial dos pedidos realizados pelo Ministério Público do RS, para o fim de que a associação ré realize os procedimentos administrativos e legais junto à Susep para, querendo, continuar realizando a atividade até então desempenhada. 6. Conclusão esta, inclusive, que já restou objeto de pronunciamento judicial, pelo TRT4, em grau recursal, processo 5009078-21.2014.4.04.7104, ao ter sido elencada a ilicitude de “objeto social das associações que oferecem proteção similar a um seguro sem a devida autorização” 7. Mister salientar, ainda, que inexiste vedação legal alguma na criação e pleno exercício de associação que vise ajuda mútua e recíproca de interesse dos associados, contudo, estes não podem contemplar a realização de atividades cuja prática seja objeto de limitação estatal por meio do preenchimento de requisitos legais. Portanto, sob qual ângulo, não vinga a pretensão recursal da associação de improcedência da ação coletiva em seu desfavor. 8. Igualmente, o apelo interposto pelo Ministério Público, parte autora, também não merece prosperar. 9. O pagamento, pela associação requerida, de indenização por danos individuais homogêneos, nos termos do art. 95 do CDC, via condenação genérica, não encontra amparo para sua procedência. 10. In casu, diante da inexistência, de não haver algum caso envolvendo a comprovação de danos materiais/ morais a qualquer consumidor envolvido na relação objeto da lide, nem mesmo que a atuação da associação demandada tenha ocasionado abalo no mercado de consumo, mas tão somente face ao reconhecimento da necessidade de regularização da atividade praticada, não há falar na indenização pretendida. 11. De igual sorte, o pagamento pretendido de indenização, sob alegação de direitos difusos lesados, na forma de dano moral, também não encontra amparo para o seu trânsito. 12. Efetuar o pagamento de indenização com fundamento em lesão a interesses difusos, nem mesmo sob a ótica da existência de danos hipotéticos a consumidores encontra
-264- Índice
de de sua adesão estrita ao modelo associativo, sem desvirtuamento de sua finalidade institucional. Uma vez descaracterizado esse modelo, por práticas mercantis típicas do setor securitário, a entidade deve ser tratada como seguradora de fato e submetida às exigências normativas impostas às empresas do setor regulado.
A promulgação da Lei nº 15.040/2024 reafirma, em conjunto com a Lei Complementar nº 213/2025, a política pública de delimitação clara da atividade seguradora e de fortalecimento do sistema regulatório, sem prejuízo da preservação da legitimidade das formas associativas autênticas. O reconhecimento jurídico da distinção entre atividades empresariais reguladas e entidades associativas legítimas é fundamental tanto para a proteção dos consumidores quanto para a integridade e previsibilidade do mercado segurador nacional.
Em suma, o artigo 2º da nova Lei do Contrato de Seguro materializa, de forma precisa e atualizada, a política de reserva legal da atividade seguradora, garantindo que apenas entidades legalmente habilitadas, tecnicamente aptas e financeiramente sólidas possam assumir obrigasuporte fático e fomento jurídico para tanto. Ao demais, como o Inquérito Civil que ampara a presente tutela coletiva foi instaurado em face de reclamação advinda do Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul, sob expressa afirmação de que a conduta da associação ré estaria afetando seus associados negativamente em seus interesses econômicos, não há prática abusiva da Associação Cooral que a condene por indenizar por direitos difusos lesados. 13. Da prova coligida nos autos, não é possível extrair absolutamente nenhuma reclamação de qualquer usuário dos serviços então ofertados pela associação quanto a prejuízo suportado em face da relação mantida. 14. Assim sendo, em que pese a requerida tenha atuado de forma ilegal, especialmente no que se refere ao mercado de seguros, a repercussão de seu ato não é suficiente para sua condenação, neste ponto, como pretendido. 15. Portanto, o desprovimento de ambos os recursos é medida acertada.IV - DISPOSITIVO 16. Recursos desprovidos. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 2063/40, CDC, art. 95. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.616.359/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018; TRF/4, Apelação/Remessa Necessária Nº 5009078-21.2014.4.04.7104/RS - a Egrégia 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação - Julgado em 26/04/2023; TJRS, AI 502319096.2020.8.21.7000, Rel. Desa. Lusmary Fatima Turelly da Silva; Apelação Cível, Nº 70038657243, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 24-11-2011.(Apelação Cível, Nº 50279287520208210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em: 30-10-2024)
-265- Índice
ções securitárias perante terceiros, promovendo, assim, a estabilidade, a confiança e a funcionalidade do mercado de seguros no Brasil.
Em síntese, podemos apresentar o seguinte quadro comparativo das alterações advindas no Decreto-Lei n. 73/1966, por força da Lei Complementar nº 213/2025:

Como se vê, a Lei Complementar nº 213/2025 representa um marco regulatório inovador, alterando o Decreto-Lei nº 73/1966 e permitindo que cooperativas e associações mutualistas operem diversos ramos do seguro privado com supervisão, solvência e regras de mercado; as associações de proteção veicular sejam regularizadas como entidades mutuais, sob supervisão da Susep; surjam as administradoras de operações de proteção patrimonial mutualista, com estrutura jurídica e regulação específica.
3. Conclusão
A interpretação sistemática do art. 2º da Lei nº 15.040/2024, à luz da disciplina histórica conferida pelo Decreto-Lei nº 73/1966, conforme atualizado pela Lei Complementar nº 213/2025, revela um robusto arcabouço normativo destinado a resguardar a segurança jurídica, a estabilidade econômica e a higidez técnica do mercado securitário nacional. Ao condicionar a celebração de contratos de seguro à autorização legal e ao enquadramento institucional das entidades pactuan-
Índice
-266-
tes, o legislador reafirma a natureza regulada da atividade seguradora e sua sujeição a um regime jurídico especial, alicerçado em requisitos de solvência, governança e transparência compatíveis com o relevante interesse público que a atividade tutela.
Essa reserva legal, longe de configurar restrição arbitrária, constitui mecanismo imprescindível de proteção sistêmica, que visa não apenas à defesa dos segurados individualmente considerados, mas à preservação da confiança legítima no sistema securitário enquanto instituição promotora de estabilidade social e econômica. Em um setor marcado pela assimetria informacional e pela assunção de obrigações futuras de elevado impacto financeiro, a filtragem das entidades aptas a operar contratos de seguro pela via da autorização estatal converte-se em instrumento de racionalização dos riscos coletivos e de prevenção a práticas lesivas, como a oferta clandestina de pseudo-seguros por associações que atuam à margem da legalidade.
Nesse novo paradigma normativo, destaca-se a formal incorporação das cooperativas de seguros e das associações de proteção patrimonial mutualista ao Sistema Nacional de Seguros Privados, mediante submissão a critérios técnicos e institucionais proporcionalmente adaptados à sua estrutura. Embora organizadas sob regimes jurídicos distintos das seguradoras tradicionais, tais entidades passaram a ocupar espaço funcionalmente análogo no mercado de cobertura de riscos, o que justifica sua sujeição, ainda que supletiva, à disciplina da Lei do Contrato de Seguro. A convergência funcional dessas figuras jurídicas com o modelo clássico de seguro impõe a necessidade de compatibilização regulatória, sob pena de desestruturação do regime protetivo e comprometimento da equidade concorrencial.
Por outro lado, a lei também distingue, com a devida precisão, as atividades empresariais de seguro da legítima atuação das associações civis de ajuda mútua, fundadas em princípios solidaristas e operantes fora da lógica contratual securitária. Essa diferenciação conceitual, chancelada pela jurisprudência e pela doutrina, evita o risco de criminalização indevida de formas genuínas de associativismo, ao mesmo tempo em que coíbe fraudes perpetradas sob aparente legalidade.
Em síntese, o novo marco normativo consagrado pelas Lei nº 15.040/2024 e Lei Complementar nº 213/2025 consolida uma política pública de fortalecimento institucional do setor segurador, pautada pela seletividade regulatória, pela tecnificação das estruturas operacionais e pela proteção do consumidor. O art. 2º da Lei 15.040/2024, ao
estabelecer com clareza as entidades legitimadas a celebrar contratos de seguro, não apenas reafirma a reserva legal da atividade, mas delimita, com segurança jurídica, os contornos funcionais do próprio contrato de seguro, como instituto jurídico fundado na confiança, na solvência institucional e na regulação estatal eficaz.
Bibliografia
CARLINI, Angélica; CARVALHAL, Glauce. Lei de Seguros Interpretada – Lei 15.040/2024: artigo por artigo. São Paulo: Editora Foco, 2024. 196 p. ISBN 9786561204217. p. 2-3.
COELHO, Fábio. Capítulo 35. Seguro In: COELHO, Fábio. Direito Civil. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-civil/1540361368.
COMPARATO, Fábio Konder Notas retificadoras sobre seguro de crédito e fiança. Revista de Direito Mercantil, São Paulo: RT, n. 51, p. 95/104, 1983.
MIRAGEM, Bruno; CARLINI, Angélica. Direito dos seguros: fundamentos de direito civil: direito empresarial e direito do consumidor. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2014. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-dos-seguros-fundamentos-de-direito-civil-direito-empresarial-e-direito-do-consumidor/1341523087.
MIRAGEM, Bruno. Petersen, Luíza. Direito dos seguros, 1ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 181.
SCHMITT, Daniel. 11. A Responsabilidade dos Administradores no Âmbito do Processo Administrativo Sancionador no Setor Regulado de Seguros Privados (Susep – Crsnsp) In: GOLDBERG, Ilan; JUNQUEIRA, Thiago. Temas Atuais de Direito dos Seguros. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021.
TZIRULNIK, Ernesto & CAVALCANTI, Flávio de Queiroz & PIMENTEL, Ayrton. O contrato de seguro – novo Código Civil brasileiro. São Paulo: IBDS, 2002.
TZIRULNIK, Ernesto. O questionário de risco no contrato de seguro. Revista Jurídica de Seguros, v. 16, p. 31-52, 2022.
-268- Índice
Primeiras reflexões sobre o Marco Legal dos
Seguros: publicidade versus confidencialidade na divulgação de decisões arbitrais
Oksandro Gonçalves1
Renan Matheus Nerone Lacerda2
Resumo: O artigo examina os impactos do Marco Legal dos Seguros (MLS), Lei nº 15.040/2024, que entrará em vigor em dezembro de 2025, sobre a arbitragem em contratos de seguro. Tradicionalmente, a arbitragem é valorizada por sua agilidade, flexibilidade e confidencialidade. Contudo, o MLS inova ao determinar a divulgação obrigatória de conflitos e decisões arbitrais em repositório público administrado pela SUSEP, rompendo com o sigilo usualmente adotado pelas partes. Essa exigência visa criar um sistema de precedentes que aumente a transparência e previsibilidade no mercado securitário, permitindo a adaptação de práticas, contratos e produtos. Entretanto, gera desafios jurídicos, como a proteção de dados pessoais em conformidade com a LGPD, a definição de quem será responsável pela anonimização das informações e os limites da atuação infralegal da SUSEP. O estudo discute também questões de direito intertemporal, defendendo que a obrigatoriedade de publicidade não deve retroagir, preservando atos jurídicos perfeitos e cláusulas compromissórias firmadas antes da vigência da Lei. Além disso, questiona a competência da SUSEP para impor às câmaras arbitrais ou às partes a manutenção e gestão do repositório, apontando lacunas normativas e riscos de insegurança jurídica. Conclui-se que, embora a publicização possa fortalecer o mercado e formar jurisprudência, sua implementação deve ser cautelosa, garantindo equilíbrio entre transparência e sigilo. É fundamental respeitar a autonomia privada, proteger informações estratégicas e evitar que a imposição legal desestimule o uso da arbitragem, comprometendo sua relevância como meio eficiente de resolução de conflitos no setor securitário.
1 Pós-Doutorado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (Bolsa CAPES), Doutor em Direito pela PUCSP, Mestre em Direito pela PUCPR. Professor Titular na PUCPR. Professor Visitante na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Advogado. Árbitro. Membro do Conselho Diretor da CAMFIEP – Câmara de Arbitragem da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (2025-2026).
2 Mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Advogado. Primeiro lugar no Prêmio IBDiC (Instituto Brasileiro de Direito da Construção, 2025, com a dissertação intitulada “O Contrato de Engineering, Procurement and Construction (EPC) no Direito Brasileiro: Natureza Relacional e Aplicabilidade do Silver Book”.
Abstract: This article examines the impacts of the Insurance Legal Framework (ILF), Law n. 15.040/2024, which will come into force in December 2025, on arbitration in insurance contracts. Traditionally, arbitration is valued for its speed, flexibility, and confidentiality. However, the ILF introduces an innovation by requiring the mandatory disclosure of disputes and arbitral awards in a public repository managed by SUSEP, breaking with the confidentiality usually adopted by the parties. This requirement aims to create a system of precedents that enhances transparency and predictability in the insurance market, allowing the adaptation of practices, contracts, and products. Nevertheless, it raises legal challenges, such as the protection of personal data in compliance with the Brazilian General Data Protection Law (LGPD), the definition of which party will be responsible for data anonymization, and the limits of SUSEP’s regulatory authority. The study also addresses intertemporal law issues, arguing that the obligation of publicity should not have retroactive effect, thereby preserving vested rights and arbitration clauses executed before the law’s effective date. Moreover, it questions SUSEP’s competence to impose on arbitral institutions or parties the duty to maintain and manage the repository, highlighting regulatory gaps and risks of legal uncertainty. The article concludes that, although publicity may strengthen the market and contribute to the development of arbitral jurisprudence, its implementation must be cautious, ensuring a balance between transparency and confidentiality. It is essential to respect party autonomy, protect strategic information, and avoid discouraging the use of arbitration, thereby preserving its role as an efficient mechanism for resolving disputes in the insurance sector.
Sumário: 1. Introdução. 2. A autonomia privada e a arbitragem. 3. Confidencialidade versus transparência? 3.1. Sinalização para o mercado: a criação de um sistema de precedentes arbitrais em matéria securitária. 3.2. A administração da base de dados. 3.3. Direito intertemporal. 3.4. Obrigação de divulgação. 4. Conclusões. 5. Bibliografia
1. Introdução
Com o advento do Marco Legal dos Seguros (MLS), instituído pela Lei n. 15.040, de 9 de dezembro de 2024, cuja entrada em vigor está prevista para o dia 11 de dezembro de 2025, reforçou-se a possibilidade da utilização da arbitragem como forma de resolução de litígios nos contratos de seguros. Nesse sentido, o artigo 129 do MLS estabeleceu de forma expressa que “nos contratos de seguro sujeitos a esta Lei, poderá ser pactuada, mediante instrumento assinado pelas partes, a resolução de litígios por meios alternativos, que será feita no Brasil e submetida às regras do direito brasileiro,
inclusive na modalidade de arbitragem”. Reconheceu-se, assim, uma praxe que há muito vigorava no mercado de seguros, especialmente naqueles mais sofisticados e de valores mais elevados, que envolviam contratações complexas e estruturadas.
Entretanto, alguns aspectos controvertidos envolvem o tema da arbitragem 3, destacando-se, para o presente texto, a questão da divulgação obrigatória dos conflitos e a criação de um repositório de decisões que poderá ser consultado, nos termos previstos no parágrafo único do artigo 129 do MLS, o qual estabelece que “a autoridade fiscalizadora disciplinará a divulgação obrigatória dos conflitos e das decisões respectivas, sem identificações particulares, em repositório de fácil acesso aos interessados”. O repositório será disciplinado pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados através de ato infralegal.
Com efeito, tem-se um aparente conflito, na medida em que a confidencialidade da arbitragem é um dos principais atrativos para que os agentes privados a escolham como mecanismo para resolução de conflitos contratuais envolvendo direitos patrimoniais disponíveis. Nada obstante, o artigo 129, parágrafo único, do MLS, pretende impor a divulgação dos conflitos arbitrais e das decisões respectivas em relação aos contratos de seguros sujeitos à nova Lei.
Diante desse contexto, o artigo aborda alguns aspectos dessa nova normatização, seus impactos para o sistema arbitral brasileiro, compatibilidade e possível ilegalidade nas suas disposições que podem levantar questionamentos.
2. A autonomia privada e a arbitragem
Uma das máximas da arbitragem reside justamente na autonomia privada das partes envolvidas em delimitar as bases sobre as quais um eventual litígio será decidido. Ao escolherem a arbitragem, as partes
3 Além do tema da confidencialidade, que será o objeto deste artigo, pode-se citar também potencial problemática relacionada ao fato de que o Marco Legal dos Seguros retira a liberdade das partes, ao impor que aos contratos de seguro, em suas distintas modalidades, aplica-se exclusivamente a lei brasileira (art. 4º, §1º) e impõe que, independentemente do método de resolução de conflito a ser escolhido, o litígio deverá ser resolvido no Brasil (art. 129, caput).
fazem uma opção por um modelo que diverge daquele modelo tradicional deixado aos cuidados do Poder Judiciário4.
Nestes termos, a Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996 - LArb) estabelece logo em seu artigo 1º que “as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis”. Geralmente, sendo as partes capazes e versando a disputa sobre direito patrimonial disponível, poderão optar pela arbitragem em detrimento do Poder Judiciário para resolver a disputa.
Assim, a arbitragem é um espaço de autorregulação das partes que podem executar opções customizadas para um determinado litígio através da escolha dos árbitros, da lei aplicável, do local, questões procedimentais e outros aspectos. Essa escolha leva em conta justamente a autonomia privada das partes, que decidem solucionar litígios decorrentes da sua relação jurídica-contratual à luz de outra premissa além daquela puramente estatal. Sobre o tema, Francisco José Cahali destaca o prestígio da vontade das partes em “seu grau máximo” pela arbitragem:
Preenchidos os pressupostos para sua escolha (capacidade de contratar a respeito do direito patrimonial disponível), é prestigiada a vontade das partes na arbitragem em seu grau máximo: começa com a liberdade para indicação da arbitragem como forma de solução de litígio; e, prossegue, com a faculdade de indicarem todas as questões que gravitam em torno dessa opção. Assim, estabelecem quem e quantos será(ão) o(s) árbitro(s), de forma direta ou indireta,
4 “A arbitragem – meio alternativo de solução de controvérsias através da intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada, decidindo com base nela, sem intervenção estatal, sendo a decisão destinada a assumir a mesma eficácia da sentença judicial – é colocada à disposição de quem quer que seja para solução de conflitos relativos a direitos patrimoniais acerca dos quais os litigantes possam dispor. Trata-se de mecanismo privado de solução de litígios, através do qual um terceiro, escolhido pelos litigantes, impõe sua decisão, que deverá ser cumprida pelas partes”. CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à lei n.º 9.307/1.996. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009. p. 31.
-272- Índice
e como será desenvolvido o procedi mento arbitral (por exemplo, relativamente a prazos, locais para a prática dos atos, eventual restrição para a apreciação de medidas de urgência ou tutelas antecipadas sem ouvir a parte contrária etc.). Até mesmo as regras de direito que serão aplicadas podem ser definidas pelas partes, podendo convencionar que a arbitragem se dará por equidade, ou “se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio” (art. 2º, §§ 1º e 2º da Lei 9.307/1996). 5
Assim, a arbitragem é um meio extrajudicial de solução de litígios que possibilita ao contratante levá-los a um terceiro particular, o qual recebe seus poderes de uma convenção privada, decidindo com base nela, sem intervenção estatal, sendo a decisão destinada a assumir a mesma eficácia da sentença judicial.6-7 É um mecanismo privado de solução de litígios, no qual um terceiro, escolhido pelos litigantes, impõe sua decisão, que deverá ser cumprida pelas partes8.
Uma vez que a solução do litígio é prestada por um ente privado, a função do Estado frente à arbitragem é limitada, se resumindo à execução forçada das convenções de arbitragem, a assegurar a execução forçada da sentença e a continuar o guardião da ordem públi -
5 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, p. 143/14
6 RECHSTEINER, Beat. Arbitragem privada internacional no Brasil: depois da nova Lei 9.307, de 23.09.1996: teoria e prática. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 16
7 Nos termos do artigo 31 da LArb: “a sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo”.
8 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo – Um comentário à lei nº 9.307/96. São Paulo: Ed. Atlas S.A., 2.ed. 2004, p 51-52.
ca, com a observância das disposições legais 9 e análise de potenciais nulidades taxativas contidas no pronunciamento arbitral 10
A opção pela submissão do litígio ao juízo arbitral pode ocorrer porque esse, frente ao juízo estatal, possui uma gama de vantagens.
Sabidamente, a arbitragem confere uma solução mais ágil ao litígio, pois, na ausência de disposição em sentido contrário, tem o órgão julgador, sob pena de nulidade, que proferir uma decisão no prazo de até seis meses contados da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro11. Os contratantes que submetem a lide à arbitragem saberão, desse modo, que eventual inadimplemento obrigacional não tardará a ser remediado.
Ainda, em regra, o procedimento arbitral será confidencial, o que permite que contratações sensíveis permaneçam restritas apenas aos sujeitos interessados, sem desnecessária publicidade a terceiros 12. Tal sigilo também é importante para criar entre as
9 STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr, 1996, p. 273
10 Nesse sentido, o artigo 32 da Lei de Arbitragem delimita as hipóteses taxativas de nulidade da sentença arbitral proferida, que podem ser declaradas pelo Poder Judiciário nos casos de error in procedendo. Em relação às sentenças arbitrais proferidas fora do território nacional, o Juízo é meramente delibatório, sem que se possa avançar sobre o mérito, nos termos do artigo 38 da LArb.
11 Sobre o prazo para que seja proferida a sentença arbitral, o artigo 23 da LArb é claro ao estabelecer que: “a sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada tendo sido convencionado, o prazo para a apresentação da sentença é de seis meses, contado da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro”
12 As exceções à confidencialidade dos procedimentos arbitrais residem nas hipóteses em que as próprias partes escolham torná-lo público ou que, por força de Lei, o procedimento deva ser publicizado, como ocorre nos casos em que a administração pública é parte, nos termos do artigo 2º, §3º, da Lei de Arbitragem, que estabelece que “a arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio de publicidade”.
-274- Índice
partes uma atmosfera favorável à conciliação, sem que se precise levar o conflito às últimas consequências. 13
A adoção da arbitragem igualmente permite às partes a promoção de alterações na sequência dos atos procedimentais a serem seguidos até a prolação da sentença, evitando-se intervenções desnecessárias. Há, assim, uma maior flexibilidade na arbitragem, visto que as partes podem, desde que respeitados limites constitucionais cogentes, fixar parâmetros materiais e processuais para a solução de litígios.14
Posto isso, havendo o interesse na adoção da arbitragem para a solução da lide contratual, podem as partes proceder de duas formas diferentes: a) primeiro, em um momento ex ante, na formalização do negócio, quando os contratantes, em comum acordo, preveem no instrumento contratual a chamada cláusula compromissória15, a qual, quando vazia, se aperfeiçoa com o compromisso arbitral16; b) a segunda oportunidade é quando não há a prévia estipulação em contrato, mas as partes, em ocasião ex post, também em comum acordo, decidem levar um litígio já acontecido ao conhecimento do juízo extrajudicial com a formalização direta do “compromisso arbitral”.
13 SANTOS, Ricardo Soares Stersi dos. Noções gerais de arbitragem. Florianópolis: Boiteux, 2004, p. 39
14 REISDORFER, Guilherme. A estrutura e a flexibilidade do procedimento arbitral, in: PEREIRA, Guimarães; Talamini, Eduardo (Org.) Arbitragem e poder público. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 301.
15 BRASIL. Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996. Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.
16 BRASIL. Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996. Art. 9º O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. § 1º O compromisso arbitral judicial celebrar-se-á por termo nos autos, perante o juízo ou tribunal, onde tem curso a demanda. § 2º O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito particular, assinado por duas testemunhas, ou por instrumento público.
A cláusula compromissória define-se como a convenção por meio da qual as partes comprometem-se, por escrito, a submeter à arbitragem os litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis que possam vir a surgir, relativamente a um contrato.17 É a estipulação ex ante de que os eventos circunscritos àquele contrato serão dirimidos por um juízo arbitral.
A referida cláusula pode ser formatada tanto de forma “cheia” quanto “vazia”. Diz-se cheia quando o próprio instrumento contratual estabelece qual será o rito procedimental da arbitragem - dizendo a sequência dos atos, os árbitros e prazos – ou quando faz referência a uma instituição arbitral específica, cujas regras procedimentais es- tejam pautadas em seu regulamento . É o caso, por exemplo, de uma cláusula compromissória que prevê que eventual inadimplemento “será dirimido pela câmara arbitral ‘X’ conforme seu regulamento à época da instauração da arbitragem”. A cláusula “vazia” é a previsão contratual abstrata de que litígios oriundos daquela relação jurídica serão resolvidos através da arbitragem, sem, contudo, fazer menção ao procedimento a ser adotado ou ao órgão julgador.
Havendo cláusula “cheia”, a instauração da dissidência autoriza ao prejudicado que dê início ao procedimento arbitral nos termos estabelecidos em contrato ou consoante o regulamento do juízo arbitral escolhido.
Em caso de cláusula abstrata – ou “vazia” – a parte interessada deve requerer a citação da segunda para firmar o “compromisso arbitral” em Juízo, nos termos do artigo 7º da Lei de Arbitragem.
Há a possibilidade, também, da instituição de um compromisso arbitral após a deflagração do litígio, quando então as partes, no exercício da sua autonomia privada, resolvem que o litígio deve ser solucionado via arbitragem, ainda que essa condição não tenha sido prevista inicialmente.
De um modo ou de outro, a adoção da cláusula compromissória ou celebração do compromisso arbitral implica em renúncia à resolução do conflito perante o Poder Judiciário, e torna impossível que uma
17 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e Arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 103.
-276- Índice
das partes, isoladamente, renuncie à utilização da arbitragem após a instauração do litígio. Nesses casos, desde que uma das partes tenha interesse na execução da cláusula, o Poder Judiciário tem a capacidade de substituir a vontade do contratante recalcitrante, firmando o compromisso arbitral em seu lugar, dando guarida ao princípio da autonomia da vontade e o que foi convencionado se torna obrigatório.18
3. Confidencialidade versus transparência?
Conforme anteriormente referido, a confidencialidade da arbitragem é um dos principais atrativos para que agentes econômicos sofisticados a escolham para dirimir determinado litígio, em especial no ambiente empresarial, em que o sigilo de informações relacionadas à atividade econômica desenvolvida é essencial para garantir diferencial competitivo.
Apesar disso, e ao contrário do que normalmente se imagina, a confidencialidade não é inerente ao procedimento arbitral. Sobre o tema, Renato Grion aponta que não há no direito brasileiro comando legal expresso no sentido de que procedimentos arbitrais serão obrigatoriamente sigilosos, de tal forma que a atribuição de confidencialidade à arbitragem depende de acordo entre as partes, mais uma vez apontando para a prevalência da autonomia da vontade19. No mesmo sentido, Hermes Marcelo Huck sustenta que “confidencialidade pode ser útil e utilizada, mas não é inerente ao procedimento arbitral”20 .
Ocorre que a práxis aponta no sentido de que a maioria dos procedimentos arbitrais são confidenciais, eis que é de interesse dos agentes econômicos manter fora do conhecimento do mercado detalhes de 18 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Manual de arbitragem. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 79.
19GRION, Renato Stephan. Procedimento II. p. 197 a 216. Curso de arbitragem. LEVY, Daniel; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (Coord.). São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 207-212.
20 HUCK, Hermes Marcelo. As intermitências da confidencialidade arbitral. p. 349 a 359. In: Arbitragem e outros temas: homenagem a Pedro A. Batista Martins. 1. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2023. p. 359.
disputas complexas e com relevantes valores envolvidos. Exemplo disso é o fato de que os regulamentos das principais instituições arbitrais em cenário nacional preveem que, salvo disposição legal ou convenção das partes em contrário, o procedimento arbitral será confidencial21 .
Isso estabelecido, e como ponto de partida para a discussão ora proposta, tem-se que destacar o disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei n. 15.040/2024 (MLS), que assim passa a prever:
Art. 129. Nos contratos de seguro sujeitos a esta Lei, poderá ser pactuada, mediante instrumento assinado pelas partes, a resolução de litígios por meios alternativos, que será feita no Brasil e submetida às regras do direito brasileiro, inclusive na modalidade de arbitragem.
Parágrafo único. A autoridade fiscalizadora disciplinará a divulgação obrigatória dos conflitos e das decisões respectivas, sem identificações particulares, em repositório de fácil acesso aos interessados.
O dispositivo (a) torna obrigatória a divulgação dos conflitos arbitrais envolvendo contratos de seguro; (b) torna obrigatória a divulgação das decisões; (c) cria um repositório de jurisprudência arbitral em matéria securitária.
A obrigatoriedade instituída pelo legislador acaba por conflitar com um dos cânones da arbitragem que é justamente o sigilo
21 A título exemplificativo, o artigo 39 do Regulamento de Arbitragem do CAMCCBC estabelece que “a arbitragem será confidencial, exceto nas hipóteses previstas em lei, em outras normas jurídicas aplicáveis ou por acordo expresso das partes”. Disponível em: https://www.ccbc.org.br/cam-ccbc-centro-arbitragem-mediacao/ resolucao-de-disputas/arbitragem/regulamento-de-arbitragem-2022/. Acesso em 07 de setembro de 2025. No mesmo sentido, o artigo 13.1 do Regulamento de Arbitragem da CAMARB prevê que “O procedimento arbitral será rigorosamente sigiloso, sendo vedado à CAMARB, aos árbitros, demais profissionais que atuarem no caso e às próprias partes, divulgar quaisquer informações a que tenham acesso em decorrência de seu ofício ou de sua participação no processo, sem o consentimento de todas as partes, ressalvados os casos em que haja obrigação legal de publicidade e o disposto no presente regulamento”. Disponível em: https://camarb.com.br/regulamento/regulamento-de-arbitragem-2019/. Acesso em 07 de setembro de 2025.
-278- Índice
ou confidencialidade , decorrente da autonomia privada das partes. Neste caso, as partes podem ter um litígio relevante para ser decidido, todavia, como o princípio recorrente nos processos judiciais é o da publicidade, dentre outras circunstâncias, com vistas ao estabelecimento de precedentes, poderão ser expostas ao público em geral as questões relativas ao litígio. Isso pode trazer sérias consequências como, por exemplo, a desvalorização de ações da empresa litigante cotadas em bolsa de valores. Portanto, o descumprimento ou cumprimento parcial de um contrato pode ter repercussões negativas se violado o sigilo da demanda que aprecia a discussão envolvendo as partes.
Além disso, o litígio pode envolver uma estratégia empresarial que restará comprometida se a questão for exposta, ou mesmo pode levar a um marketing negativo sobre a confiabilidade das práticas negociais da empresa litigante. Sendo assim, as partes submetem a desavença a uma arbitragem sigilosa, impedindo o efeito da publicidade, sem prejudicar o exercício dos respectivos direitos.
Exemplo do respeito à confidencialidade atribuída pelas partes ao procedimento arbitral, reside em especial no artigo 189, inciso IV, do Código de Processo Civil, que prevê de forma expressa como exceção à publicidade dos atos processuais e hipótese de segredo de justiça os processos que “versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o Juízo”. Sobre o tema, Eduardo Talamini e Luiz Rodrigues Wambier explicam que
Nesses casos de confidencialidade estabelecida por via contratual também se põem razões de intimidade: se as partes optaram por manter reservado um conjunto de fatos, não é dado ao Poder Público ou a quem quer que seja interferir nessa escolha, desde que os fatos em questão não se revistam de interesse geral22.
22 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo, volume 1. 17. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. p. 499.
Para Adriana Braghetta, a confidencialidade é uma decorrência natural de a arbitragem ser um processo privado de solução de litígios.23 As partes podem desejar que o objeto daquela negociação, fruto da autonomia privada no exercício da contratação, seja mantida em sigilo. Nada há de errado em procurar manter o litígio sigiloso ao público em geral.
O sigilo é, portanto, um importante motivo para a escolha da arbitragem, porque protege o agente econômico de uma série de inconvenientes como a divulgação do know-how ou de informações que de alguma forma sejam sensíveis à concorrência, estratégias empresariais ou mesmo valoração das empresas envolvidas.
Essa premissa da confidencialidade não guarda necessariamente medida com a regra da publicidade estabelecida para os processos judiciais em geral. A publicidade processual clássica junto ao Poder Judiciário parte da premissa de que os atos judiciais praticados no processo devem ser controlados pela sociedade. Essa regra comporta exceções podendo se dar o segredo de justiça por exigência do interesse público ou em matérias que digam respeito de casamento, filiação, separação dos cônjuges, alimentos e guarda de menores, ou seja, arrola como cláusulas do sigilo situações referentes a intimidade como dever de honra, perigo de ação penal, que pela profissão estejam protegidos, deixando ao arbítrio do magistrado avaliar outros motivos graves que justifiquem a exibição.
Ainda na esfera do sigilo, não é possível deixar de destacar que existem limites para essa confidencialidade. Primeiro, somente se as duas partes, de comum acordo, abrirem mão é que não se falará em confidencialidade. Basta que uma delas não concorde para prevalecer a confidencialidade em detrimento da publicidade, caso esteja contratada ou estipulada como regra da Câmara Arbitral escolhida. Segundo ponto, a confidencialidade pode se estender para o caso de surgir a necessidade de executar judicialmente o laudo arbitral pelo descumprimento da outra parte.
Com o advento do Marco Legal dos Seguros, ao menos em matéria securitária, o cenário sofre uma profunda mudança porque substitui a confidencialidade pela publicidade, ao estabelecer que a divulgação será obrigatória .
23 BRAGHETTA, Adriana. Notas sobre a confidencialidade na arbitragem. In Revista do Advogado da AASP, ano XXXXIII, n. 119, abril de 2013, p. 7-13.
-280- Índice
A partir dessa nossa premissa, passa-se a elencar alguns pontos que parecem ser dignos de nota e reflexão, ainda que o tema possa suscitar muitas outras discussões.
3.1 Sinalização para o mercado: a criação de um sistema de precedentes arbitrais em matéria securitária
Um dos objetivos da norma foi promover uma sinalização para o mercado securitário. A arbitragem não é estranha ao mundo dos seguros, constando de vários contratos, especialmente naqueles de maior complexidade, como obras de infraestrutura, por exemplo. Como há confidencialidade nessas disputas, o mercado não dispunha de nenhum instrumento de acesso a dados para parametrizar condutas a partir do conhecimento do resultado de uma arbitragem securitária.
Dessa forma, aparentemente o legislador buscou criar esse arcabouço informacional para permitir que o mercado securitário possa, a partir do conhecimento de uma certa orientação jurisprudencial, mudar ou aperfeiçoar procedimentos, contratos e até mesmo adaptar produtos securitários às decisões proferidas.
Nesse contexto, concorda-se que a publicização das lides e sentenças arbitrais não é de todo prejudicial. Nada obstante, deveria o legislador ter-se atentado ao contexto de mercado, em que diversas câmaras que administram procedimentos arbitrais já disponibilizam aos interessados base de dados com sentenças arbitrais.
É o caso, por exemplo, do CAM-CCBC, que possui um repositório de sentenças arbitrais públicas disponíveis ao público, no qual constam decisões proferidas em lides envolvendo matéria societária, contratos comerciais, construção civil e outros24. O mesmo ocorre, e de maneira ainda mais ampla, com a Câmara de Comércio Internacional (CCI), que anonimiza e publica todas as decisões proferidas em procedimentos arbitrais por ela administrados25.
24 Disponível em: https://www.ccbc.org.br/cam-ccbc-centro-arbitragem-mediacao/ sentencas-arbitrais-publicas/. Acesso em 07 de setembro de 2025.
25 Disponível em: https://iccwbo.org/dispute-resolution/resources/publication-of-icc-arbitral-awards-jus-mundi-not-icc-publication/. Acesso em 07 de setembro de 2025.
A propósito, utilizando o exemplo da Câmara de Comércio Internacional (CCI), Hermes Marcelo Huck já exarou conclusão no sentido de que a publicização das sentenças pelas instituições que administram procedimentos arbitrais possui o condão fortalecer o sistema arbitral, ao dotá-lo de maior previsibilidade e transparência:
A Câmara de Comércio Internacional (CCI) divulga publicamente as decisões dos tribunais compostos sob sua égide. A análise dessas decisões arbitrais adotadas por painéis arbitrais de composição variada, demonstra que há entre elas coerência, certa identidade de formulação, o que o resulta em previsibilidade. A prática de divulgação pelas câmaras arbitrais de decisões adotadas em procedimentos por elas administrados é de ser incentivada, quando não tornada obrigatória. Preservando-se a identidade das partes, além de dados confidenciais ou sensíveis, as sentenças arbitrais devem ser amplamente divulgadas, inclusive - e especialmente - com a identificação dos árbitros que a prolataram.
(...)
Confidencialidade pode ser útil e utilizada, mas não é inerente ao procedimento arbitral. Confidencialidade pode ser apanágio da arbitragem, mas deve ser usada com temperança. De grande importância seria que as decisões fossem obrigatoriamente divulgadas pelas câmaras, não só para consolidar uma jurisprudência arbitral acessível a todos, mas também para evitar o descaso de árbitros preguiçosos, tendenciosos ou incompetentes26.
Ocorre que apesar de pretender gerar um ambiente de maior previsibilidade, a previsão contida no artigo 129, parágrafo único, do Marco Legal dos Seguros no sentido de impor a “divulgação obrigatória dos conflitos e das decisões respectivas decisões” acaba ignorando a
26HUCK, Hermes Marcelo. As intermitências da confidencialidade arbitral. p. 349 a 359. In: Arbitragem e outros temas: homenagem a Pedro A. Batista Martins. 1. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2023. p. 359.
-282- Índice
tendência de publicização, já vigente no contexto das arbitragens institucionais, e soterra por completo a autonomia das partes, que não poderão optar pela confidencialidade do procedimento arbitral em razão da imposição legal em sentido diverso.
Há, portanto, uma potencial tensão que precisará ser tratada de forma técnica e arrazoada pela autoridade fiscalizadora responsável por disciplinar o comando do artigo 129, parágrafo único, do MLS, no caso, a SUSEP. E isso porque, uma publicação ampla e irrestrita, de todos os detalhes inerentes ao litígio e apesar da discordância dos envolvidos, pode inclusive gerar um ambiente em que nos contratos de seguro a arbitragem venha a ser preterida em favor da resolução judicial do conflito, apesar de suas outras vantagens.
Assim, tem-se que apesar de operacionalizar a divulgação das sentenças arbitrais em lides securitárias, é necessário que a SUSEP discipline de maneira adequada hipóteses específicas envolvendo segredos industriais, informações sensíveis e até mesmo riscos reputacionais, de modo a permitir que as partes tornem ao menos certos detalhes da disputa confidenciais, eis que não há nenhum interesse público envolvido no conhecimento pleno de todos os detalhes do litígio27. Caso contrário, haverá um inevitável e injustificável comprometimento da liberdade das partes, conforme já havia sido antevisto pela doutrina quando o Marco Legal dos Seguros tramitava como Projeto de Lei n. 29 de 201728.
3.2 A administração da base de dados
Ao pretender criar um “repositório de fácil acesso aos interessados”, com a ressalva de que não haverá a identificação dos particulares en-
27 No caso das arbitragens envolvendo a administração pública, obrigatoriamente o conflito e as decisões proferidas serão públicos por ocasião do interesse público envolvido e do princípio da publicidade, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal.
28 CARLINI, Angélica; LEÓN, Gustavo Amado. Breves comentários acerca da arbitragem em resseguro no Projeto de Lei n. 29 de 2017. In: DIGE - Direito Internacional e Globalização Econômica - DOI: 10.23925/2526-6284/2023. v11n11.63592 http://revistas.pucsp.br/index.php/DIGE - ISSN: 2526-6284 - v.11, n.11 / 2023 – pág. 78-85. p. 82.
volvidos nos conflitos, gera-se um potencial problema envolvendo o tratamento de dados pessoais dos envolvidos.
Sabe-se que normalmente lides arbitrais envolvem discussões complexas, relacionadas a contratos de longa duração e que, geralmente, compreendem inúmeros particulares que detém conhecimento dos fatos, como funcionários e prestadores de serviços, que acabam sendo arrolados como testemunhas pelas partes interessadas para subsidiar a sentença a ser proferida. Tome-se como exemplo um litígio envolvendo o acionamento de seguro-garantia vinculado a uma obra complexa de infraestrutura: é natural que sejam diversas as testemunhas ouvidas para refutar ou corroborar os fatos aventados pelas partes e embasar o proferimento da sentença arbitral.
Nesse contexto é que a SUSEP, ao criar o repositório de que trata o artigo 129 do MLS, se deparará com os limites impostos pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709 de 14 de agosto de 2018 - LGPD) para tratar os dados dos particulares envolvidos no conflito.
E isso porque o artigo 7º da LGPD estabelece que o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado, dentre outras hipóteses, “mediante fornecimento de consentimento pelo titular” e “para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador”.
Ainda, o §5º arremata que “o controlador que obteve o consentimento referido no inciso I do caput deste artigo que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta Lei”.
Como se sabe, nas arbitragens institucionais os agentes privados que participam do procedimento precisam fornecer a autorização de que trata o artigo 7º, inc. I, da LGPD, para que a instituição arbitral processe seus dados. O mesmo ocorre com as testemunhas ou terceiros que farão parte e serão referenciados no procedimento.
Portanto, será necessário que ao atender o comando do artigo 129 da MLS, a SUSEP regulamente, nos termos da LGPD, como ocorrerá a transferência dos dados pessoais dos particulares envolvidos no litígio arbitral pelas instituições arbitrais, a fim de evitar qualquer responsabilização das instituições, na medida em que nos termos do artigo 8º, §5º, da LGPD, o titular pode, a qualquer tempo, revogar o consentimento para tratamento de seus dados.
-284- Índice
Em outros termos, para evitar-se a responsabilização das instituições, seria necessário criar hipótese legal que as obrigue a disponibilizar os dados pessoais dos particulares à SUSEP, a fim de que haja o enquadramento da conduta na hipótese do artigo 7º, inc. II, da LGPD, sob pena de insegurança jurídica, eis que a qualquer momento poderiam as instituições ser responsabilizadas pela transferência desautorizada dos dados.
Também será necessário que fique claro de quem será a responsabilidade pela anonimização dos dados pessoais dos envolvidos, se das instituições que administram o procedimento, ou da SUSEP, após receber tais informações.
De fato, trata-se de questão sensível pois a previsão contida no artigo 129 do MLS é lacônica, e a ausência de regulamentação suficiente sobre a transferência e anonimização dos dados para criação do repositório público de que trata o parágrafo único do referido dispositivo gerará insegurança jurídica e necessidade de adaptação das instituições que administram procedimentos arbitrais.
3.3 Direito intertemporal
Eis outra questão que emerge do MLS: poderá a SUSEP emitir uma normativa que determine às partes informar os litígios arbitrais existentes preteritamente à vigência do MLS?
A SUSEP tem poderes para emitir normas de caráter infralegal, ou seja, no caso do artigo 129, parágrafo único, do MLS, haverá uma disciplina que está posicionada hierarquicamente inferior à lei. O ato poderá detalhar e explicar como o dispositivo será executado, mas não pode inovar ou contrariar a lei.
Como se viu, não há na Lei de Arbitragem qualquer disposição que torne a confidencialidade dos procedimentos arbitrais obrigatória, com exceção daqueles que envolvem a administração pública. Sendo assim, a regulamentação a ser efetivada pela SUSEP tenderia a conflitar com a confidencialidade pactuada contratualmente pelas partes na convenção de arbitragem, no termo de arbitragem ou em instrumento apartado, após o início do procedimento arbitral.
Neste caso, como a SUSEP irá emanar ordem de caráter infralegal para regulamentar o que foi previsto no artigo 129 do MLS, entende-
-se que não há possibilidade de retroação em período anterior à vigência da Lei, sob pena de violação do ato jurídico perfeito. Explica-se.
O Marco Legal dos Seguros entrará em vigor após decorrido 1 (um) ano de sua publicação oficial, ou seja, em 10 de dezembro de 2025. Até essa data, o previsto no artigo 129 da Lei não irá emanar seus efeitos no plano jurídico e, ainda assim, depois dessa data, dependerá de regulamentação a ser efetivada pela SUSEP.
Nos termos do artigo 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, finalizado antes de seu advento. Com base nesse fundamento, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 946.834/RS, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em relação aos planos de saúde, que
“(...) as disposições da Lei 9.656 /1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”29.
Entende-se que a mesma lógica se aplica ao caso em tela. Nas hipóteses em que as partes já tenham celebrado instrumento prevendo a confidencialidade do procedimento arbitral em momento anterior à vigência do MLS, estará caracterizado ato jurídico perfeito formalizado antes da vigência da nova lei, que não pode ser afetado por previsão legislativa posterior, que impõe a publicidade das decisões a serem lá proferidas. Nos casos de arbitragens já instaladas, em que as partes avençaram no termo de arbitragem a confidencialidade, também não poderá o MLS ser aplicado na matéria afeta ao artigo 129, parágrafo único, devendo prevalecer o sigilo.
Nestas hipóteses, mesmo no caso em que a SUSEP emane norma regulatória que preveja de forma diversa, por não possuir força de Lei,
29 STF - RE: 948634 RS, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/11/2020.
-286- Índice
não estão as partes sujeitas à eventual imposição infralegal que viole o ato jurídico perfeito celebrado. Assim, entende-se que as pactuações de sigilo firmadas antes do advento do MLS não são afetadas pela publicização imposta pelo artigo 129 da referida Lei.
3.4 Obrigação de divulgação
O artigo 129, parágrafo único, do MLS, não previu com clareza a quem compete divulgar a existência de litígios e o conteúdo das decisões arbitrais.
Constou da normativa que a autoridade fiscalizadora, neste caso, a SUSEP, disciplinará a divulgação. A questão é: poderá a SUSEP emitir uma normativa determinando que as Câmaras Arbitrais organizem esse repositório em matéria securitária?
A SUSEP é uma Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pelo Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Ela, por sua vez, é membro do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, órgão responsável por fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados, juntamente com representantes do Ministério da Fazenda, do Ministério da Justiça, do Ministério da Previdência e Assistência Social, do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários.
Ao se analisar o Decreto-lei n. 73/1966, com as alterações da Lei
Complementar n. 213/2025, é possível verificar uma série de competências da SUSEP nos artigos 36 e 36-A, das quais não é possível, ao menos diretamente, extrair a competência da autarquia para determinar que as próprias Câmaras Arbitrais organizem um repositório jurisprudencial específico para o tema seguros. Eventualmente, o inciso IV, do artigo 36-A, pode servir de fundamento, porque prevê que compete à SUSEP “regulamentar o conteúdo informacional a ser registrado e os seus prazos nas operações de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros”. Mesmo assim, esse ponto está mais relacionado a aspectos do próprio mercado de seguros, fruto da alteração perpetrada pela Lei Complementar n. 213/2025 que basicamente dispôs, dentre outras matérias, sobre as sociedades cooperativas de seguros e as operações de proteção patrimonial mutualista, bem como sobre o termo de compromisso e o processo administrativo sancionador.
Índice
É importante destacar que existem várias iniciativas de criação de repositórios jurisprudenciais arbitrais por diversas Câmaras, mas sempre com autorização expressa das partes envolvidas no litígio. Diferente é a situação vivenciada pelo MLS, que torna a divulgação obrigatória, a despeito de uma vontade das partes em sentido oposto.
Eventualmente, pode-se extrair do conteúdo do art. 5º, do Decreto-lei n. 73/1966, com as alterações da Lei Complementar n. 213/2025, uma Política Pública coordenada para o mercado securitário que envolve aspectos como, por exemplo, a expansão dos mercados para sua integração no processo econômico e social do País; promover o aperfeiçoamento das instituições operadoras dos mercados supervisionados; preservar a liquidez e a solvência das instituições operadoras dos mercados supervisionados; assegurar a proteção e a defesa dos clientes dos mercados supervisionados, por meio, inclusive, da adequação dos produtos e serviços a suas necessidades e interesses, do tratamento não discriminatório e do acesso a informações claras e completas sobre as condições dos produtos e da prestação de serviços. Para tanto, é necessário vislumbrar como uma arbitragem poderia impactar o mercado de seguros a ponto de justificar a publicidade em detrimento do sigilo ordinário da arbitragem. Como toda política pública, ela também é genérica e precisa ser preenchida teleologicamente, segundo nuances próprios desse mercado específico. Por se tratar de um mercado altamente regulado, há interesse público envolvido porque o resultado de arbitragens pode impactar sobre a entidade seguradora, pode ensejar um aperfeiçoamento regulatório, pode prejudicar a liquidez e a solvência de uma seguradora, pode sinalizar para os clientes que uma determinada seguradora costumeiramente descumpre o contrato e invoca a arbitragem, dentre outras reflexões possíveis nesses pontos.
Em oportunidade que antecedeu a aprovação do MLS, o CBAR pronunciou-se a respeito, tecendo importantes ponderações sobre o tema:
11. Quinto, porque entendemos que a disposição do parágrafo único, embora seja de finalidade louvável, apenas deveria prevalecer caso houvesse igual obrigação na Lei de Arbitragem, que é a lei especial que regula o instituto como um todo. Ao incluir a obrigação de que o “responsável pela resolução de litígios é obrigado a divulgar (...) os resumos dos conflitos e das decisões respectivas”, entendemos que o PLC n.º 29/2017 traz, para as disputas envolvendo seguros
-288- Índice
privados, obrigação que não subsiste para os procedimentos envolvendo outras matérias, criando, assim, verdadeira discriminação inversa. 12. Além do mais, a redação do artigo 63, parágrafo único, gera uma série de problemas práticos, sem, contudo, apontar qual seriam as soluções para eles. Afinal, ao utilizar o termo “responsável” de forma genérica e sem qualquer precisão técnica, o PLC n.º 29/2017 não esclarece a quem ele imputa a obrigação de divulgar o resumo dos conflitos. Acaso a obrigação ali prevista recairia sobre a Câmara Arbitral? Ou essa seria das partes ou dos árbitros? Como acomodar o dispositivo em caso de arbitragens ad hoc? Como se dará o modo de divulgação dessas informações e em que periodicidade? E mais: é razoável exigir que Câmaras Arbitrais menores e com recursos escassos mantenham estrutura específica a permitir essa divulgação, que será destinada apenas às arbitragens envolvendo seguros privados? Novamente, parece-nos que a questão deveria ser regulada pela lei especial, e que o PLC n.º 29/2017 pretende, de forma inadequada, criar obrigação que não encontra igual previsão na Lei de Arbitragem, gerando, assim, uma série de dificuldades de ordem prática. Por essas razões, recomenda-se a supressão desse dispositivo.30
De modo geral, contudo, permanece a dúvida a respeito da competência regulatória da SUSEP para impor às Câmaras Arbitrais a obrigatoriedade de manterem repositórios jurisprudenciais públicos de litígios e decisões em arbitragens relacionadas ao mercado de seguros.
Abre-se, então, uma segunda questão, derivada da primeira: poderá a SUSEP determinar que as partes deverão informar a abertura de litígios arbitrais e suas respectivas decisões?
Como mencionado anteriormente, as partes, no exercício da autonomia privada, costumam estabelecer a confidencialidade como regra na arbitragem. Somente em situações absolutamente especiais, como
30 BRASIL. https://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2018/04/Parecer-PLC-n%C2%BA-29.2017.pdf
é o caso das arbitragens envolvendo a administração pública, é que se pode cogitar da publicidade.31
Assim, conclui-se que a divulgação é um entrave pesado a ser superado e que merece ser tratado com cuidado, sob pena de vir a ser questionada a sua legalidade.
4. Conclusões
A partir das primeiras reflexões, é possível apresentar as seguintes conclusões preliminares:
a) Avanço normativo com desafios práticos: O Marco Legal dos Seguros (MLS) representa importante avanço ao reconhecer expressamente a arbitragem nos contratos de seguro, mas sua implementação traz desafios significativos, principalmente no equilíbrio entre transparência e confidencialidade;
b) Conflito entre publicidade e sigilo: A obrigatoriedade de divulgação de litígios e decisões arbitrais, prevista no art. 129, parágrafo único, do MLS, rompe com a tradição do sigilo, um dos principais atrativos da arbitragem, podendo desestimular sua utilização no setor securitário;
c) Finalidade de criar precedentes: A medida busca formar um sistema de precedentes que traga previsibilidade e aperfeiçoe produtos e práticas do mercado segurador, mas deve ser executada de forma a proteger informações sensíveis e estratégicas das partes;
d) Proteção de dados pessoais: A criação do repositório pela SUSEP deve observar rigorosamente a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD),
31 BRASIL. Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996. Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de eqüidade, a critério das partes. (...) § 3o A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade.
-290- Índice
com regras claras sobre anonimização, consentimento e responsabilidade pela guarda e tratamento das informações;
e) Limites de retroatividade: A publicidade não pode retroagir para afetar arbitragens ou cláusulas compromissórias celebradas antes da vigência do MLS, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica;
f) Competência regulatória da SUSEP: É necessário esclarecer se a SUSEP pode impor às câmaras arbitrais ou às partes a obrigação de manter o repositório, evitando sobrecarga institucional e lacunas normativas;
g) Necessidade de regulamentação equilibrada: A regulamentação deve ser cautelosa, garantindo que a busca por transparência não comprometa a autonomia privada, a confidencialidade e a credibilidade da arbitragem como meio eficiente de resolução de conflitos.
5. Bibliografia
BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e Arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2012.
BRAGHETTA, Adriana. Notas sobre a confidencialidade na arbitragem. In Revista do Advogado da AASP, ano XXXXIII, n. 119, abril de 2013, p. 7-13.
CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, p. 143/144.
CARLINI, Angélica; LEÓN, Gustavo Amado. Breves comentários acerca da arbitragem em resseguro no Projeto de Lei n. 29 de 2017. In: DIGE - Direito Internacional e Globalização Econômica - DOI: 10.23925/2526-6284/2023.v11n11.63592 http://revistas.pucsp.br/in-
-291- Índice
dex.php/DIGE - ISSN: 2526-6284 - v.11, n.11 / 2023 – pág. 78-85.
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à lei n.º 9.307/1.996. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009.
GRION, Renato Stephan. Procedimento II. p. 197 a 216. Curso de arbitragem. LEVY, Daniel;
PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (Coord.). São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.
HUCK, Hermes Marcelo. As intermitências da confidencialidade arbitral. p. 349 a 359. In: Arbitragem e outros temas: homenagem a Pedro A. Batista Martins. 1. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2023.
RECHSTEINER, Beat. Arbitragem privada internacional no Brasil: depois da nova Lei 9.307, de 23.09.1996: teoria e prática. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.
REISDORFER, Guilherme. A estrutura e a flexibilidade do procedimento arbitral, in: PEREIRA, Guimarães; Talamini, Eduardo (Org.) Arbitragem e poder público. São Paulo: Saraiva, 2010.
SANTOS, Ricardo Soares Stersi dos. Noções gerais de arbitragem. Florianópolis: Boiteux, 2004.
STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr, 1996.
SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio. Manual de arbitragem. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.
WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo, volume 1. 17. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters, 2018.
-292- Índice
O Dever do Segurado de Avisar o Sinistro: Da Nova Sistemática Introduzida Pela Lei
15.040/2024 à Luz dos Deveres Acessórios do Princípio da Boa-Fé
Pery Saraiva Neto1
Iryni Mariah Helário Meintanis2
Vicente Silva Saraiva3
Resumo: Com uma abordagem conceitual, o presente artigo tem por objetivo nossas primeiras análises sobre as novas disposições acerca do aviso de sinistro à luz do Marco Legal dos Seguros (Lei 15.040/2024). Para tanto, inicialmente, estabelece-se o conceito de aviso de sinistro, considerando, para além da nova legislação, entendimentos consolidados da doutrina e da jurisprudência. Sequencialmente, trata-se do princípio da boa-fé aplicado à realidade do direito securitário brasileiro, resgatando, para isso, aspectos fundamentais do direito civil. Ademais, apresentam-se propostas interpretativas voltadas à fixação de um prazo para a comunicação do sinistro, com fundamento na nova lei. Por fim, analisam-se as consequências decorrentes da ausência e do tardio aviso de sinistro. Quer-se com isso construir um panorama geral sobre o instituto do aviso de sinistro, situando-o no âmbito da nova lei, e propondo hipóteses interpretativas à luz do Marco Legal dos Seguros, à vista dos entendimentos já consolidados sobre o tema.
Abstract: This article offers a conceptual approach to present an initial analysis of the new provisions concerning the notice of claim under the Legal Framework for Insurance (Law No. 15.040/2024). It begins by defining the concept of a notice of claim, drawing not only from the new legislation
1 Advogado. Pós-Doutor pela UNISINOS/PEPEEC/CAPES (Emergências Climáticas, Eventos Extremos e Acidentes Ambientais). Doutor em Direito/PUCRS, com estágio doutoral na Universidade de Coimbra - FDUC (PDSE/CAPES). Mestre em Direito/UFSC. E-mail: contato@perysaraivaneto.com.br
2 Advogada graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC. MBA Holding e Planejamento Societário pela Faculdade EbPós - Escola Brasileira de Pós Graduação. E-mail: iryni@perysaraivaneto.com.br
3 Advogado graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). E-mail: vicente@perysaraivaneto.com.br
but also from consolidated understandings from doctrine and jurisprudence. Subsequently, it examines the principle of good faith as applied to the Brazilian insurance law, grounding the discussion in key aspects of civil law. The article then proposes interpretative approaches aimed at determining an appropriate timeframe for notifying a claim, based on the new law. Finally, it analyzes the legal consequences of failure to notify or of delayed notification. The goal is to construct a comprehensive overview of the notice of claim, situating it within the scope of the new legal framework, while proposing interpretative hypotheses in light of both the new law and existing legal understandings on the matter.
Palavras chave: Seguros. Aviso de sinistro. Limitações. Boa-fé.
Keywords: Insurance. Claim notice. Limitation. Bona Fide.
Sumário: 1. Introdução; 2. Aspectos Conceituais do Aviso de Sinistro; 3. A Boa-Fé e suas Funções no contrato de Seguro; 4. Perspectivas e Possibilidades Hermenêuticas; 4.1. Interpretação Sistemática do Artigo 66; 4.2. Prazo Decadencial Convencional; 4.3. Equidade e Analogia; 4.4. Seguros Massificados e Relações de Consumo; 5. Consequências do Descumprimento de Informar Prontamente; 6. Da Necessidade do Aviso Célere; 7 Considerações Finais.
1. Introdução
Sendo certo que uma das principais e mais elementares condições à sustentabilidade atividade seguradora seja o provisionamento e gestão de reservas para fazer frente às indenizações que tenha que vir a pagar aos seus segurados, diante de sinistros, não é crível, ou mesmo admissível, que uma lei de seguros crie hipótese de perpetuação de prazos para que o segurado comunique o sinistro ao segurador, o que termina por postergar, indefinidamente, o marco inicial da prescrição e, por conseguinte, gerar ao segurador o dever de manutenção “infinita” de suas reservas.
Com o perdão pelo exagero, naturalmente, mas se não há prazo decadencial definido (o direito/dever de avisar o sinistro é um direito potestativo), há uma situação de perpetuação do seu exercício.
Para refletir sobre a problemática à luz do cenário jurídico brasileiro, tem-se que o Marco Legal dos Seguros (MLS - Lei 15.040/2024), objeto de estudo deste artigo, limita o tema da nossa preocupação acima exposta - de possibilidade da perpetuação do exercício do aviso de sinistro - apenas na expressão “prontamente”, tratando-se as-
-294- Índice
sim de conceito jurídico aberto, clara cláusula geral, cuja vagueza somente pode ser preenchida na casuística e tipicidade inerente a um determinado caso concreto. A novel legislação poderia ter sido mais enfática na promoção da segurança jurídica e previsibilidade, pois, por certo, o problema trazido não é daqueles que seja recomendável recorrer ao uso de cláusulas gerais.
A redação introduzida pela MLS acerca do tema estabelece:
Art. 66. Ao tomar ciência do sinistro ou da iminência de seu acontecimento, com o objetivo de evitar prejuízos à seguradora, o segurado é obrigado a:
I - tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos;
II - avisar prontamente a seguradora, por qualquer meio idôneo, e seguir suas instruções para a contenção ou o salvamento;
III - prestar todas as informações de que disponha sobre o sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela seguradora.
§ 1º O descumprimento doloso dos deveres previstos neste artigo implica a perda do direito à indenização ou ao capital pactuado, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora.
§ 2º O descumprimento culposo dos deveres previstos neste artigo implica a perda do direito à indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.
§ 3º Não se aplica o disposto nos §§ 1º e 2º, no caso dos deveres previstos nos incisos II e III do caput deste artigo, quando o interessado provar que a seguradora tomou ciência oportunamente do sinistro e das informações por outros meios.
§ 4º Incumbe também ao beneficiário, no que couber, o cumprimento das disposições deste artigo, sujeitandose às mesmas sanções.
§ 5º As providências previstas no inciso I do caput deste artigo não serão exigíveis se colocarem em perigo interesses relevantes do segurado, do beneficiário ou de terceiros, ou se implicarem sacrifício acima do razoável.
Como dito, não é crível que a novel legislação crie tal possibilidade, mas ocorrerá se não houver um marco decadencial claro para a comunicação do sinistro ao segurador, que é procedimento elementar para abertura da regulação do sinistro cujo desfecho será: a liquidação do sinistro, ou a abertura do prazo prescricional em caso de encerramento sem cobertura ou sem indenização, já que o marco inicial da prescrição será “contado da ciência da recepção da recusa expressa e motivada da seguradora”, nos termos do artigo 126 da nova Lei. Começo, meio e fim, delimitados. Segurança jurídica e previsibilidade, pressupostos para o exercício de qualquer atividade econômica.
O problema é que, segundo doutrina abalizada, parece este ser o caso: a insegurança. De fato, “é possível que sinistros venham a ser avisados após o prazo de um ano da sua ocorrência, criando, além de insegurança jurídica — a função principal de combate do instituto da prescrição — um cenário de incerteza quanto ao prazo de provisionamento pelas companhias seguradoras”4, ou mesmo que “em uma interpretação literal, chega-se à conclusão de que, no caso de um seguro de veículo, por exemplo, o segurado poderia fazer o pedido de cobertura securitária décadas após a data do acidente, pois a prescrição ainda não teria começado a fluir”5. No limite, “a consequência é que o
4 ARZA, Thais e HADDAD, Marcelo Mansur. Será que realmente precisamos de uma nova lei de seguros? Recém-aprovado marco legal estabelece regras que criam insegurança jurídica para seguradoras e deve sobrecarregar o Judiciário. Disponível em https://www.jota.info/artigos/sera-querealmente-precisamos-de-uma-nova-lei-de-seguros. Acesso em 09/01/2025.
5 GAGLIANO, Pablo Stolze. A Lei nº 15.040/2024 (Marco Legal dos Seguros) e a Prescrição. Disponível em https://www.migalhas.com.br/depeso/422449/a-lei-15-040-24-marco-legal-dos-seguros-e-a-prescricao. Acesso em 09/01/2025.
-296- Índice
segurado pode, a qualquer tempo, exercer o direito potestativo a deflagrar o procedimento administrativo de regulação e liquidação do sinistro. Assim, teoricamente, daqui cem anos, venha a querer abrir o procedimento administrativo de regulação e liquidação do sinistro”6.
Propomo-nos, neste estudo a abordar algumas reflexões sobre a nova sistemática estabelecida pelo Marco Legal dos Seguros, uma vez que, conforme elucidado, a lacuna legislativa acerca do tema haverá de ser preenchida, sobretudo, pela doutrina e pela jurisprudência, senão pela regulação do órgão competente.
Nesse contexto, o presente estudo se propõe a analisar o dever do segurado de avisar o sinistro, com base nos fundamentos e nas características do aviso de sinistro à luz da Nova Lei. Com essa finalidade, iniciamos a abordagem ao conceito de aviso de sinistro, para a seguir examinar o princípio da boa-fé nos contratos de seguro. Em seguida nos dedicamos a elencar propostas hermenêuticas para a estipulação de um prazo para o aviso de sinistro, tendo em conta a redação do Marco Legal dos Seguros. Por fim, abordamos as consequências da ausência deste aviso, ou o aviso tardio, e suas implicações.
2. Aspectos Conceituais do Aviso de Sinistro
O aviso de sinistro consiste, essencialmente, na comunicação formal por meio da qual o segurado comunica à seguradora a ocorrência de um evento potencialmente abrangido pela apólice. Ou seja, “o aviso do sinistro consiste no modo pelo qual o segurado ou terceiro interessado na garantia – seja o beneficiário nos seguros de vida, seja a vítima do acidente nos seguros de responsabilidade civil – interpela o segurador a respeito da ocorrência do evento que torna exigível a prestação de cobertura”7.
6 ELIAS DE OLIVEIRA, Carlos Eduardo. LEI 15.040/2024 (MARCO LEGAL DOS SEGUROS): DIRETRIZES HERMENÊUTICAS E O PROBLEMA DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O SEGURADO E O TERCEIRO BENEFICIÁRIO PLEITEAREM A COBERTURA. Disponível em https://www.migalhas. com.br/coluna/migalhas-notariais-e-registrais/422523/lei-15-040-24-problemas-para-pleitearem-a-cobertura. Acesso em 09/01/2025.
7 MIRAGEM, Bruno. PETERSEN, Luiza. Regulação do Sinistro: Pressupostos e efeitos na execução do contrato de seguro. São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 1025/2021 | p. 291 - 324 | Mar / 2021 DTR\2021\1948.
Esse aviso é o marco inicial para todo o processo de regulação e liquidação do sinistro; a partir de então é que a seguradora inicia as análises pertinentes, correlacionando as previsões da apólice, o dano experimentado, e suas origens e consequências. Trata-se, portanto, do “marco zero” da regulação, a partir de quando seguirão as providências e trâmites previstas nos artigos 75 e seguintes no NLS.
É indiscutível a relevância do tema para o âmbito securitário, pois o Código Civil vigente não estabelece, de forma detalhada, os prazos e procedimentos relacionados ao aviso de sinistro, tampouco define, de maneira precisa, o momento em que a comunicação deve ser realizada, os requisitos formais a serem observados ou as consequências jurídicas decorrentes do descumprimento desses deveres.
3. A Boa-Fé e suas Funções no Contrato de Seguro
A boa-fé, que constitui princípio geral dos contratos8, é ressaltada nos contratos de seguro como condição e elemento fundamental, como preconizava o agora revogado artigo 765 do Código Civil, tendo em vista que a sinceridade e a verdade constituem a base primeira da declaração de vontade que o origina. É a partir das declarações dos segurados que as bases contratuais são fixadas (estipulação do valor do prêmio e taxa atuarial da apólice), de modo que o princípio deve ser observado não somente durante a vigência do contrato, mas também nas fases preliminares e posteriores.
No contrato de seguro, principalmente, a boa-fé constitui um dos seus elementos nucleares, estando presente em todas as suas disposições, uma vez que impõe às partes o dever contínuo de veracidade e lealdade9.
Sobre a boa-fé no contrato de seguro, anota Andrade que “com a adoção deste preceito, expressa-se a importância do princípio da boa-fé para o contrato de seguro, decorrente da relevância dos deveres – como o de informação – a serem atendidos pelas partes na sua relação contratual. Precisa-
8 Código Civil. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
9 TEIXEIRA, Antonio Carlos. Contrato de seguro, danos, risco e meio ambiente Rio de Janeiro: Funenseg, 2004, p. 12.
-298- Índice
mente por este fundamento que se considera o contrato de seguro como o vínculo de boa-fé por excelência, como anteriormente ressaltado. O fundamento para a determinação do dever de informar decorre da própria estrutura do contrato de seguro, o qual visa à garantia contra um risco, que decorre de dados preexistentes das próprias partes. Para que o vínculo possua um equilíbrio, cumpre então que se atente à realidade do que se declara no contrato10.
Deve-se analisar tal contrato como relação jurídica ampla, onde a obrigação tende a ser compreendida como uma série de deveres não apenas de prestação, mas também de conduta. O mandamento de conduta, além de englobar todos os participantes da relação contratual, estabelece entre eles um elo de cooperação, no intuito de alcançar o objetivo final visado por todos. Assim, o princípio da boa-fé tem por escopo contribuir para a determinação da obrigação de cada parte, delimitando o que é e como deve ser prestada a obrigação, bem como fixando o limite da prestação11.
Para a doutrina, três são as formas de boa-fé: subjetiva, objetiva e hermenêutica.
A boa-fé subjetiva é aquela que se manifesta internamente. Relaciona-se à índole do pensamento das pessoas, manifestando-se de acordo com a moral interior do homem, suas experiências de vida e valores frente às escolhas que faz.
A boa-fé objetiva manifesta-se externamente, por meio de atos concretos, declarações de vontade e comportamentos, levando-se em consideração sua inerência contida na obrigação de boa conduta12.
Já pela perspectiva da hermenêutica a boa-fé decorre do entendimento formado pela doutrina e jurisprudência com relação à intenção das
10 ANDRADE, Fábio Siebeneichler de. O desenvolvimento do contrato de seguro no direito civil brasileiro atual. Revista de Derecho Privado. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, n. 28, enero-junio, 2015, p. 222-223.
11 SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006.
12 GRAVINA, Maurício Salomoni. Princípios jurídicos do contrato de seguro Rio de Janeiro: Funenseg, 2015, p. 61.
partes no momento de celebrar ou executar o contrato13. Ainda com relação a esta, a boa-fé serve como via de realização da valoração pretendida pelo legislador, preenchendo lacunas verificadas no texto contratual, por meio de princípios jurídicos materiais e axiomas constatados no sistema legal, possibilitando ao juiz uma atividade criadora e integrativa, destinada a complementar vaguezas existentes nos contratos.
Ademais, em termos práticos [e econômicos] significa que, num cenário de aplicabilidade ideal da boa-fé contratual, há uma redução de custos de transação, uma vez que simplificam a elaboração dos contratos, em decorrência da relação de confiança que advém da boa-fé, e torna mais eficiente a solução de problemas que surjam durante sua execução em eventuais conflitos ao permitir ao Judiciário suprir lacunas ou descumprimentos com flexibilidade, de modo a operar na construção da situação originalmente desejada pelas partes14.
Percebe-se, então, que a boa-fé atua como criadora de deveres jurídicos ao impor obrigações laterais ou acessórias de conduta, com repercussões que atravessam a perspectiva puramente jurídica e obrigacional.
A limitação ao exercício de direitos subjetivos acarreta a sistematização do recurso da boa-fé objetiva, caminho que se insere na tendência atual que busca especificar os casos de aplicação da mesma, tornando o princípio menos fluido e de acentuado caráter técnico.
Diferentemente do que acontecia no passado, o contrato não é mais perspectivado, unicamente, pelo dogma da autonomia da vontade. Considera-se que é informado pela função social que lhe é atribuída pelo ordenamento jurídico, seja o pacto de direito público ou privado.
Sob esta ótica, apresenta-se a boa-fé como norma que não admite condutas que contrariem o preceito de atuação com lealdade e correção, pois só assim se estará a atingir a função social que lhe é cometida.
13 DELGADO, José Augusto. Comentários ao novo Código Civil, volume XI: das várias espécies de contrato do seguro. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 195.
14 BENES SENHORA, Victor Augusto. A doença preexistente no seguro de vida: análise da Súmula 609 do STJ à luz do direito & economia. São Paulo: Editora Roncarati, 2024, p. 85.
-300- Índice
Assim, objetivar a boa-fé no curso da contratação, ou, em outras palavras, agir com boa-fé, significa lisura e probidade na esfera íntima e cooperação na exteriorização. Lealdade e honestidade efetivas e permanentes entre as partes contratantes, para que esta junção de boas e concretas intenções caminhem lado a lado, auxiliando e cedendo, quando necessário for, para que a finalidade do contrato seja alcançada. Evita-se, por consequência, que uma das partes sofra prejuízos ou desvios dos propósitos firmados durante o caminho.
Na etapa pré-contratual significa não se valer da fragilidade do outro para obter vantagens com estipulação de cláusulas desproporcionais, impossibilitando, ainda que tentador, o locupletamento ilícito ou indevido, eis que isso acarretaria prejuízo à outra parte.
Especificamente na seara securitária, a boa-fé na fase pré contratual inicia-se na declaração dos riscos que serão objeto da apólice, possibilitando que o segurador avalie eventuais riscos da forma mais fidedigna possível, para que a atribuição de prêmio seja correspondente ao que será segurado:
A compreensão dos riscos a partir de declarações pressupõe a validação dessas declarações, ou seja, a asseguração de que as informações prestadas são suficientemente úteis e fidedignas. [...]. Não é por outra razão que a boa-fé, enquanto princípio jurídico, tem particular relevância para os seguros. Em um mundo altamente complexo, [...], a confiança permite uma redução da complexidade social15.
Em síntese, o dever de prestar informações verdadeiras e colaborativas integra a própria estrutura do contrato de seguro, o qual “visa à garantia contra um risco que decorre de dados preexistentes das partes contratantes. Para que o vínculo preserve seu equilíbrio, é necessário que as declarações constantes do contrato correspondam à realidade dos fatos”16.
15 SARAIVA NETO, Pery. Seguros Ambientais: Elementos para um sistema de garantias de reparação de danos socioambientais estruturado pelos seguros, p. 186–187.
16 ANDRADE, Fábio Siebeneichler de. O desenvolvimento do contrato de seguro no direito civil brasileiro atual, Revista de Derecho Privado, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, n. 28, enero-junio, 2015, p. 223.
Quando da execução, deve-se ponderar acerca de fatores externos que porventura possam dificultar ou inviabilizar a contraprestação. Deve-se levar em conta, porém, que a conduta que não estiver de acordo com o contrato não é, necessariamente, reflexo da vontade ou má vontade da outra parte, mas decorrência de obstáculos. Sendo assim, superar estes obstáculos é ônus de ambos, já que caminham juntos na busca da realização das vontades manifestadas no contrato.
Significa, igualmente, agir conforme o ordenamento, ou mais, conforme o Direito, pois se há limitações positivadas, sendo o outro conhecedor ou não delas, o atrelamento é obrigatório, uma vez que é obrigação de todos, a qualquer tempo e em qualquer situação, obediência à lei. Como explica Andrade,
[...] o seguro se qualifica como contrato de boa-fé, ou uberrimae fidei, ou seja, contrato em que a noção de boa-fé deve estar presente no mais alto grau. A premissa para esta noção decorre da percepção de que o contrato de seguro exigiria, de forma especial, o intercâmbio de informações relativas ao contrato, na medida em que, a partir das referências emanadas pelo segurado, possua o segurador as condições para estabelecer a avaliação dos riscos e a fixação do valor do prêmio 17 .
A boa-fé, porém, não apenas orienta a conduta das partes e suas obrigações contratuais, como também constitui preceito fundamental para a própria viabilidade econômica da atividade seguradora. Nesse contexto, o exercício da boa-fé assume contornos funcionais, operacionais e reflexos materiais, na medida em que “o dever de boa-fé recíproco exige que cada parte se comporte com lealdade, cooperando para que a outra tenha condições de cumprir
17 ANDRADE, Fábio Siebeneichler de. O desenvolvimento do contrato de seguro no direito civil brasileiro atual. Revista de Derecho Privado. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, n. 28, enero-junio, 2015, p. 215.
-302- Índice
sua prestação, de modo que ambas possam real izar seus legítimos interesses, preservando-se a finalidade econômica do contrato” 18 .
Há que se considerar ainda que mesmo que o contrato finde com a resolução, seja por adimplemento seja por inadimplemento, seus efeitos e reflexos podem perdurar no tempo. Logo, a vinculação prossegue e a boa-fé, como não poderia deixar de ser, também.
Sendo assim, agir com boa-fé é ter como premissa a lealdade, a probidade, a cooperação, a transparência, a informação e a honestidade para com o parceiro contratual.
Em matéria contratual, o princípio da boa-fé objetiva tem o intuito de tornar o contrato equilibrado. Ou seja, não se admite contrato em que há imposição demasiada de prestações para uma das partes e de menos para outra, visto que viola a boa-fé objetiva, a qual não é compatível com contrato injusto, desequilibrado19.
Logo, nota-se que a boa-fé do Código Civil é de caráter objetivo, uma vez que exige das partes atitudes, comportamentos de lealdade, afastando-se, assim, da mera boa-fé subjetiva, a qual corresponde à ignorância ou não conhecimento de uma determinada situação.
Em suma, o princípio da boa-fé, norteador dos contratos de seguro, é um dos princípios que sustentam este tipo contratual. Tal princípio, portanto, “obriga as partes a atuarem com a máxima honestidade na interpretação dos termos do contrato e na determinação do significado dos compromissos assumidos. O segurado se obriga a descrever com clareza e precisão a natureza do risco que deseja cobrir, assim como ser verdadeiro em todas as declarações posteriores, relativas a possíveis alterações do risco ou à ocorrência de sinistro. O segurador, por seu lado, é obrigado a dar informações exatas sobre o contrato e a redigir o seu conteúdo de forma clara para que o segurado possa compreender os compromissos assumidos
18 BENES SENHORA, Victor Augusto. A doença preexistente no seguro de vida: análise da Súmula 609 do STJ à luz do direito & economia. São Paulo: Editora Roncarati, 2024, p. 85.
19 DELGADO, José Augusto. Comentários ao novo Código Civil, volume XI: das várias espécies de contrato do seguro. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 197
por ambas as partes. A boa-fé determina, igualmente, que o segurador evite o uso de fórmulas ou interpretações que limitem sua responsabilidade perante o segurado”20.
O contrato de seguro, como já visto, é o pacto pelo qual o segurador se obriga, mediante o pagamento de um prêmio, a ressarcir o segurado, dentro do limite, nele convencionado e ao qual está subordinado o princípio da boa-fé, pois a ausência desta é uma das formas mais graves de ilicitude21. Sendo assim, a boa-fé atua no contrato como um indicativo de validade do interesse e do consentimento contratual, tendo como funções a proteção e a penalização do comportamento das partes em caso de falsidade, lesão ou onerosidade.
4. Perspectivas e Possibilidades Hermenêuticas
4.1 Interpretação Sistemática do Artigo 66
Conforme assinalado pela própria alcunha, o método de interpretação sistemática parte da premissa da existência de um sistema - no caso em análise, o ordenamento jurídico brasileiro. Para proceder-se à uma interpretação sistemática de uma norma, portanto, deve-se ter como pressuposição não apenas a existência de um sistema prévio, mas que este sistema seja coeso e coerente, de modo que as normas, em seus variados níveis e aspectos, coexistam de modo harmônico; desta forma, “A lei não pode, assim, ser entendida isoladamente, como elemento destacado do sistema a que pertence; só é possível entendê-la em função do conjunto”22.
A partir desse axioma, pode-se entender que a interpretação sistemática permite que “o intérprete situe o dispositivo a ser interpretado dentro do contexto normativo geral e particular, estabelecendo as conexões internas que
20 IRB – Brasil Re. Dicionário de seguros: vocabulário conceituado de seguros. 3. ed. rev. e amp. Antonio Lober Ferreira de Souza [et al]; técnico de documentação Teresinha Castello Ribeiro. Rio de Janeiro: Funenseg, 2011, p. 29
21 DELGADO, José Augusto. Comentários ao novo Código Civil, volume XI: das várias espécies de contrato do seguro. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 201
22 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica jurídica clássica, p.37.
Índice
-304-
enlaçam as instituições e as normas jurídicas”23, compatibilizando aquela norma com um conjunto maior e, também, compatíveis entre si.
Em resumo, ao interpretar uma norma dentro deste sistema, o intérprete não pode olvidar que aquela norma, singularmente, traz consigo toda a coerência interna e normativa do sistema no qual está inserida.
Feitas tais considerações, passa-se à leitura - lembre-se, sistemática - do início do art. 66 do Marco Legal de Seguros:
Art. 66. Ao tomar ciência do sinistro ou da iminência de seu acontecimento, com o objetivo de evitar prejuízos à seguradora, o segurado é obrigado a:
I - tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos;
II - avisar prontamente a seguradora, por qualquer meio idôneo, e seguir suas instruções para a contenção ou o salvamento;
III - prestar todas as informações de que disponha sobre o sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela seguradora.
Há, nos incisos do artigo 66, uma clara sucessão de providências que deverão ser tomadas pelo segurado – “com o objetivo de evitar prejuízos à seguradora”, logo, também à mutualidade, o que perpassa por não afrontar a gestão das reservas técnicas – cuja prioridade é “tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos”, ou seja “do sinistro ou da iminência de seu acontecimento”. Solvida tal situação, leia-se, contido o sinistro, passada a emergência, restabelecida a normalidade e a segurança possíveis, o passo seguinte é um só: “avisar prontamente a seguradora”.
Depois, “seguir suas instruções para a contenção ou o salvamento”, bem como “prestar todas as informações de que disponha sobre o sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela seguradora”.
23 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora, p. 127
Voltemos. Segundo a lógica proposta de sucessividade, contida no artigo 66, esta última etapa não agrega ao raciocínio que aqui se propõe. Assim, após contido o sinistro, o passo seguinte é um só: “avisar prontamente a seguradora”. Se não há um prazo decadencial, há claramente um marco decadencial inicial, sem grandes margens a subjetividades interpretativas.
Afinal, contido o sinistro, no mesmo dia ou no dia seguinte (útil ou não), o segurado – segundo a lógica polêmica, mas útil, daquilo que se espera do “homem médio” – levando-se em conta a conectividade permanente da sociedade contemporânea, teria condição de enviar uma mensagem por um aplicativo para tal fim, acessar o sistema do segurador, enviar um e-mail, fazer uma ligação, enviar uma carta ou mesmo telefonar para o seu corretor? Se a resposta for positiva, aí está o marco inicial decadencial para exercer seu direito potestativo de avisar o sinistro ao segurador. Eis aí a caracterização do agir “prontamente”. O que, aliás, não é só um direito, mas também uma obrigação.
O êxito da solução proposta, contudo, encontra dependência intrínseca na boa-fé das partes – principalmente no que tange aos deveres definidos de modo esparso, a exemplo do agir “prontamente” –, boa-fé esta que, inclusive, perde o seu papel abstrato de princípio contratual norteador e passa a ter função atuante e operacional, uma vez que essencial para que se evite o cenário hipotético projetado ao início desta redação, de dever de manutenção infinita de reservas financeiras.
Ainda, para além da inquietação no que tange à manutenção prolongada das reservas, é de se mencionar, também, que eventual demora no aviso de sinistro - e neste caso, sequer há necessidade de que esta demora seja prolongada - pode impedir uma investigação cuidadosa e atual das circunstâncias que culminaram na ocorrência do evento danoso, impactando de forma relevante o processo de regulação
Afinal, em inúmeros casos, a realização de diligências imediatas no local do sinistro, sobre o bem sinistrado e acerca dos eventuais indivíduos envolvidos na dinâmica do ocorrido, revela-se imprescindível à colheita de elementos probatórios, cuja preservação se encontra diretamente condicionada ao fator tempo. Tais elementos podem influenciar de modo substancial a aferição de responsabilidade pelo dano causado, seja pela obtenção de provas materiais que o decurso do tempo poderia afetar ou dissipar, seja pela identificação de indícios que possam conduzir à identificação de possíveis responsáveis, que poderiam ativamente sabotar as apurações.
-306- Índice
Esta aferição de responsabilidade influencia não somente na análise de cobertura e eventual liquidação do sinistro, mas, também em posterior direito de regresso da seguradora em face do autor do dano, de modo que afeta toda a cadeia do direito dos seguros; e, em que pese a previsão de consequências para o descumprimento do aviso célere de sinistro, assunto que abordar-se-á adiante, estas não se mostram aplicáveis quando a seguradora, responsável pelo ônus probatório dos próprios prejuízos decorrentes da demora, é obstada de fazê-lo pela ação do tempo ante às provas.
4.2 Prazo Decadencial Convencional
Embora a possibilidade de convenção de prazo decadencial entre as partes possa ser questionável em relações de consumo, como ocorre, sobretudo, nos contratos massificados, o contrário, será plenamente possível nos contratos paritários, portanto, nos seguros de grandes riscos.
Inclusive há previsão legal no Código Civil para que o prazo decadencial seja convencionado pelas partes:
Art. 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação.
A propósito, direito essencial para o exercício das liberdades econômicas – fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, na forma do artigo 170 da Constituição Federal – os termos da Lei 13.874/2019, assim determinam:
Art. 3º São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal: (...)
VIII - ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avençado, exceto normas de ordem pública;
Absolutamente legítimo, portanto, que as partes estipulem o prazo decadencial, seja de 10 dias, de 30 dias, de 01 ano ou seja qual for.
De acordo com a possibilidade consensual, ou seja, da livre disposição entre as partes, nada impede inclusive a instituição de mecanismos de incentivo à comunicação mais célere pelo segurado ao segurador.
4.3 Equidade e Analogia
Do mesmo modo que ressalvado no tópico anterior, também a solução a seguir proposta, constitui possibilidade questionável em relações de consumo, em especial nos contratos massificado; será plenamente possível e aceitável nos contratos paritários, i.e., nos seguros de grandes riscos.
Ocorrido o sinistro, e iniciada sua regulação, diversos prazos são estipulados ao segurador, muitos deles com consequências contra este, em caso de descumprimento. Assim:
Art. 77. A regulação e a liquidação do sinistro devem ser realizadas simultaneamente, sempre que possível.
Parágrafo único. Apurando a existência de sinistro e de quantias parciais a pagar, a seguradora deverá adequar suas provisões e efetuar, em favor do segurado ou do beneficiário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, adiantamentos por conta do pagamento final.
Art. 86. A seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para manifestar-se sobre a cobertura, sob pena de decair do direito de recusá-la, contado da data de apresentação da reclamação ou do aviso de sinistro pelo interessado, acompanhados de todos os elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura.
Art. 87. Reconhecida a cobertura, a seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para pagar a indenização ou o capital estipulado.
Dessa forma, à luz dos conceitos da analogia e da equidade, é possível suprir a omissão normativa relativa ao prazo para aviso de sinistro, valendo-se, para tanto, dos prazos previstos em outros dispositivos do Marco Legal dos Seguros aplicáveis às seguradoras. Tal interpretação equitativa não apenas confere coerência ao ordenamento, mas também
-308- Índice
assegura a preservação do equilíbrio contratual, prevenindo eventuais prejuízos indevidos a qualquer das partes envolvidas.
Entender diferente disso seria ignorar os velhos elementos de interpretação preconizados por Savigny e Ihering. Seja sob o prisma gramatical, onde a regra reivindica uma aplicação extensiva, pois carece de amplitude, ou seja, diz menos do que deveria dizer, devendo o intérprete verificar quais os reais limites da norma. Também sob o aspecto teleológico, que nos dizeres do Min. Barroso24 “visa à realização dos fins previstos na norma, à concretização, no mundo dos fatos, do propósito abrigado na Constituição”, o que, exatamente sobre este viés, é que se percebe a harmoniosa aplicação do dispositivo reivindicado acima, exatamente para suprir a lacuna apontada.
Por fim, mas não menos importante, o elemento histórico em que foi criada a lei objeto do estudo demonstra que o espírito do legislador foi exatamente assegurar o máximo de segurança jurídica entre as partes, de modo que, o apontamento interpretativo sugerido, propõe estabelecer com precisão quais são os limites da responsabilidade entre os polos contratantes, atendendo ao caráter sinalagmático da relação jurídica.
Afinal de contas, na lição de Francesco Ferrara, “a missão do intérprete é justamente descobrir o conteúdo real da norma jurídica, determinar em toda a plenitude o seu valor, penetrar o mais possível (como diz Windsccheid) na alma do legislador, reconstruir o pensamento legislativo.”25
Entender de forma diferente, é dar interpretação restritiva, limitar o sentido da norma, mesmo havendo amplitude da sua expressão literal, através do uso de considerações teleológicas e axiológicas.
Por isso, o critério a ser adotado deve levar em conta uma interpretação extensiva, buscando a mens legis , ampliando o sentido da norma para além do contido em sua letra, demonstrando que a extensão do sentido está contida no espírito da lei, considerando
24 MS 32326 MC/DF – Min. Roberto Barroso, Julgamento: 02/09/2013.
25 FERRARA, Francesco. Como aplicar e interpretar as leis. Belo Horizonte: Líder, 2002, p. 24.
que a norma diz menos do que queria dizer. No mesmo sentido, se socorrendo de uma interpretação declarativa especificadora, também se chega a essa conclusão, a partir do “pressuposto de que o sentido da norma cabe na letra de seu enunciado”, ou seja, segundo a teoria dogmática “na interpretação especificadora, a letra da lei está em harmonia com a mens legis ou o espírito da lei, cabendo ao intérprete apenas constatar a coincidência” 26 .
No nosso sentir, cumpre ampliar a expressão literal contida no art. 77, 86 e 87, filtrando o seu emprego hermenêutico por meio do uso de considerações teleológicas e axiológicas, levando em consideração sempre o critério da mens legis (vontade da lei).
4.4 Seguros Massificados e Relações de Consumo
Tratando-se de relação de consumo, as soluções apontadas nas hipóteses 2 e 3 supra, não são perfeitamente aplicáveis, como sugerido, por força das incidências das normas protetivas do direito do consumidor, insculpidas no CDC.
A fixação de um prazo para o aviso de sinistro, a contar do acidente/ evento, não parece que poderá ser tida como abusiva, ou contrária à lei, se tal prazo for suficientemente amplo e que dê folga ao segurado para fazê-lo, sempre, claro, a contar da sua ciência sobre o acidente/evento.
A solução que nos parece apropriada, à luz dos argumentos 2 e 3 supra, devidamente mitigados e flexibilizados às relações de consumo, é a de fixação de um prazo, no contrato, preferencialmente destacado e já no frontispício da apólice, com o devido destaque – equivalente ao dobro daquele geralmente fixado à seguradora - de 30 dias, conforme previstos nos artigos 77, 86 e 87 na novel legislação - de 60 dias.
Por certo, não há previsão legal para o que se sugere, mas o que se está a defender aqui, não é um prazo de 60, 90 ou 120 dias, mas o entendimento de que nos parece legítimo ao segurador incluir previsão contratual de um prazo decadencial para o aviso de sinistro, desde que este seja suficientemente amplo a modo de não
26 COELHO, Luiz Fernando. Lógica jurídica e interpretação das leis. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981.
-310- Índice
cercear qualquer direito do segurado consumidor. E que, sendo suficientemente amplo, mitiga-se a possibilidade de interpretação judicial por sua abusividade.
Sem prejuízo, permanece a noção de que tal providência deve ser tomada prontamente, inclusive considerando-se que, em se tratando de consumidor (hipossuficiente e vulnerável) será do seu interesse abrir o sinistro o mais rapidamente possível, de modo que brevemente tenha sua indenização/reembolso pago pelo segurador e seu patrimônio restabelecido.
5. Consequências do Descumprimento de Informar Prontamente
A respaldar a proposição de que a partir do Marco Legal a boa-fé contratual passa a ter um papel militante na dinâmica de contratos de seguro e, principalmente, no âmbito da regulação de sinistro, a nova lei preocupou-se em prever consequências que poderão incidir em caso de descumprimento de obrigação de um aviso de sinistro célere.
Em síntese, o art. 66 preceitua que, em caso de descumprimento doloso de informar o aviso de sinistro prontamente, o resultado é a perda da garantia securitária; enquanto quando decorrente de culpa, o resultado é a perda do direito ao recebimento da indenização pelos danos decorrentes desta omissão. Em ambos os casos, frisa-se, para além da conduta culposa ou dolosa, é necessário que a seguradora venha a experimentar algum prejuízo derivado desta demora, de modo que uma inércia deflagrada pelo segurado, que não enseje em dispêndios, não é suficiente para fazer surgir uma sanção.
O mencionado artigo, no entanto, não traz previsão inédita, mas trata de positivação de um entendimento que já se consolidava através da jurisprudência:
A sanção de perda da indenização securitária não incide de forma automática na hipótese de inexistir pronta notificação do sinistro, visto que deve ser imputada ao segurado uma omissão dolosa, injustificada, que beire a má-fé, ou culpa grave, que prejudique, de forma desproporcional, a atuação da seguradora, que não poderá se beneficiar, concretamente, da redução dos prejuízos indenizáveis com possíveis medidas
de salvamento, de preservação e de minimização das consequências (REsp 1.546.178/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe de 19/9/2016).
O espaço para a discussão e quantificação destes prejuízos, todavia, parece continuar a ser o Judiciário - o que, a princípio, estende (ou ao menos não faz esforço ativo para diminuir) o encerramento definitivo das discussões acerca do sinistro e da finalização do pagamento ao segurado.
6. Da Necessidade do Aviso Célere
Além das controvérsias e incertezas que, a partir do advento do Marco Legal dos Seguros, passarão a gravitar ao redor do tema do aviso de sinistro – as quais demandarão futuras adequações provenientes da doutrina, da jurisprudência e das normas infralegais – o art. 66, § 3º, introduz, ainda, nova previsão acerca dos sinistros de elevada importância social, pois preceitua:
“§ 3º Não se aplica o disposto nos §§ 1º e 2º, no caso dos deveres previstos nos incisos II e III do caput deste artigo, quando o interessado provar que a seguradora tomou ciência oportunamente do sinistro e das informações por outros meios”.
Em que pese não haver rol exemplificativo do que seriam “outros meios” de comunicação, a escolha pelo plural na redação da frase pretende indicar que estes não se limitam às comunicações pontuais feitas por terceiros.
Ora, para além de todas as subjetividades que já permeiam a discussão acerca da expectativa de conduta de um “homem médio”, aqui representado pelas seguradoras, bem como do que seria razoável exigir quanto ao grau de ciência que estas poderiam ter sobre sinistros amplamente noticiados - o que é ainda mais subjetivo, uma vez que presume-se não só que há disponibilidade da seguradora para acompanhamento em tempo integral destes eventos, mas também para averiguar, diariamente, se há apólice respectiva a cada um deles - outra inferência chama atenção: a de que, nestes casos, há afastamento expresso do inciso III.
-312- Índice
Ora, em que pese a – questionável – possibilidade de o segurador tomar conhecimento do sinistro por outros meios que não o aviso de sinistro formal, hipótese que poderia afastar as sanções previstas nos §§ 1º e 2º em razão da ausência de dolo ou culpa, não há justificativa plausível para que o segurado deixe de prestar todas as informações de que disponha sobre o sinistro, suas causas e consequências, uma vez verificada a ciência inequívoca do evento pela seguradora e realizado o primeiro contato. Afinal, o afastamento deste dever de informação iria de encontro, inclusive, a já retratada boa-fé objetiva, premissa que jamais poderia coexistir pacificamente com o restante do ordenamento jurídico brasileiro.
A análise que se propõe neste estudo visa uma reflexão sobre se, resumidamente, definir um prazo para cada uma das ações pré-estabelecidas no art. 66 está ou não de acordo com os deveres anexos ao princípio da boa-fé objetiva.
O princípio da boa-fé objetiva, na lição de TARTUCE, referendada na obra de lição de Judith Martins Costa e Clóvis do Couto e Silva27, acarreta os seguintes deveres adicionais:
- dever de cuidado em relação à outra parte negocial;
- dever de respeito;
- dever de informar a outra parte quanto ao conteúdo do negócio;
- dever de agir conforme a confiança depositada;
- dever de lealdade e probidade;
- dever de colaboração ou cooperação;
- dever de agir conforme a razoabilidade, a equidade e a boa razão.
27 TARTUCE, Flávio. Direito civil, v. 3: teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 125.
Por certo, seria apropriado aprofundar cada um destes deveres e sua incidência na matéria em estudo, contudo, pelos limites do presente artigo, trataremos de tal questão em oportunidade vindoura.
Não se pode deixar de referir, no entanto, na esteira do que estabelece o art. 2.035, § único do CC de que “Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos”, forçoso sendo reconhecer que a imposição do prazo reclamado é uma necessidade alinhada com o princípio da boa-fé objetiva e seus desdobramentos jurídicos.
Acredita-se, contudo, que a questão será esclarecida e consolidada pela doutrina e pela jurisprudência, bem como, de modo especialmente relevante, pela conduta colaborativa das partes, que tenderão a cooperar para o adequado desenvolvimento da nova técnica atinente à regulação de sinistros.
7. Considerações Finais
A análise empreendida ao longo deste estudo permitiu identificar que o dever do segurado de avisar prontamente o sinistro, positivado no art. 66 da Lei 15.040/2024, inaugura uma nova etapa no direito securitário brasileiro, mas ainda se mostra carente de precisão normativa. O legislador, ao optar pela utilização de conceito jurídico aberto e indeterminado – “prontamente” –, transferiu ao intérprete e ao aplicador do direito a tarefa de concretizar um conceito jurídico indeterminado, cuja vagueza inevitavelmente gera insegurança jurídica tanto para seguradores quanto para segurados.
Restou constatado, que o aviso de sinistro não é mera formalidade procedimental, mas sim marco essencial para a abertura do processo de regulação, o que repercute diretamente no provisionamento das reservas técnicas, na liquidação das indenizações e na delimitação do termo inicial do prazo prescricional. A ausência de definição objetiva para o dever de comunicar o sinistro pode acarretar, como alertado, a perpetuação do direito potestativo de deflagrar o procedimento de regulação a qualquer tempo, cenário que compromete a previsibilidade e a estabilidade do setor securitário.
Para enfrentar essa lacuna, o artigo delineou diferentes perspectivas hermenêuticas. Destacou, primeiramente, a interpretação sistemática,
-314- Índice
pela qual a lógica de sucessividade do art. 66 conduz à conclusão de que, uma vez contido o sinistro, o aviso deve ocorrer de forma imediata, compatível com a conduta esperada do homem médio em uma sociedade permanentemente conectada. Em segundo plano, vislumbrou-se a possibilidade de estipulação de prazo decadencial convencional em contratos paritários, em consonância com a liberdade negocial e com a legislação civil e empresarial. Ademais, sustentou-se que os critérios de equidade e analogia permitem a utilização dos prazos já impostos ao segurador pelo Marco Legal dos Seguros (arts. 77, 86 e 87), como parâmetro para fixação de prazo também ao segurado.
No âmbito das relações de consumo, reconheceu-se a necessidade de adaptação das soluções propostas, preservando-se a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor. Defendeu-se, nesse contexto, que a previsão contratual de prazo para o aviso de sinistro pode ser legítima, desde que seja suficientemente amplo para não cercear os direitos do segurado, sugerindo-se, inclusive, que tal estipulação figure de forma clara e destacada na apólice, como mecanismo de transparência e de reforço à boa-fé.
As consequências do descumprimento do aviso célere também foram examinadas, sendo inequívoco que a nova lei incorporou soluções já sedimentadas na jurisprudência: a perda da indenização não decorre automaticamente da ausência ou da demora na comunicação, mas exige a demonstração de dolo ou culpa relevante, bem como de efetivo prejuízo à seguradora. A previsão normativa, ao positivar esse entendimento, reforça a centralidade da boa-fé como elemento estruturante dos contratos de seguro.
Nesse panorama, a boa-fé objetiva revela-se não apenas como princípio norteador, mas como verdadeiro operador funcional da nova sistemática, impondo deveres anexos de lealdade, cooperação, informação e cuidado, aptos a equilibrar a relação contratual. Ao mesmo tempo, evidencia-se que o próprio funcionamento econômico do contrato de seguro – baseado na mutualidade e no equilíbrio atuarial –depende da conduta transparente e diligente de ambas as partes.
Conclui-se, portanto, que a Lei 15.040/2024 representa um avanço significativo ao disciplinar de modo mais detalhado os deveres do segurado, mas não solucionou de forma integral o problema da indefinição quanto ao prazo de comunicação do sinistro. Caberá à doutrina, à jurisprudência e à regulação infralegal suprir essa lacuna, fixando
parâmetros objetivos e razoáveis que assegurem, ao mesmo tempo, a proteção do segurado e a previsibilidade necessária às operações das seguradoras. Até que tal consolidação ocorra, o papel da boa-fé objetiva, interpretada de forma sistemática e equitativa, permanece como o principal instrumento de equilíbrio contratual e de efetividade prática da nova legislação securitária.
Bibliografia
ANDRADE, Fábio Siebeneichler de. O desenvolvimento do contrato de seguro no direito civil brasileiro atual. Revista de Derecho Privado. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, n. 28, enero-junio, 2015.
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 5. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2003.
BENES SENHORA, Victor Augusto. A doença preexistente no seguro de vida: análise da Súmula 609 do STJ à luz do direito & economia. São Paulo: Editora Roncarati, 2024.
IRB – Brasil Re. Dicionário de seguros: vocabulário conceituado de seguros. 3. ed. rev. e amp. Antonio Lober Ferreira de Souza [et al]; técnico de documentação Teresinha Castello Ribeiro. Rio de Janeiro: Funenseg, 2011.
DELGADO, José Augusto. Comentários ao novo Código Civil, volume XI: das várias espécies de contrato do seguro. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
GRAVINA, Maurício Salomoni. Princípios jurídicos do contrato de seguro. Rio de Janeiro: Funenseg, 2015.
MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica Jurídica Clássica. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002.
MIRAGEM, Bruno; PETERSEN, Luiza. Regulação do sinistro: pressupostos e efeitos na execução do contrato de seguro. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 1025, p. 291–324, mar. 2021.
-316- Índice
SARAIVA NETO, Pery. Seguros Ambientais: Elementos para um sistema de garantias de reparação de danos socioambientais estruturado pelos seguros. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2019.
SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006.
TARTUCE, Flávio. Direito civil, v. 3: teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.
TEIXEIRA, Antonio Carlos. Contrato de seguro, danos, risco e meio ambiente. Rio de Janeiro: Funenseg, 2004.
Os Intervenientes no Contrato de Seguro à Luz da Nova Lei de Seguros – Lei nº 15.040 de 9 de dezembro de 2024, Também Conhecida como o Marco Legal dos Seguros.
Ricardo Bechara Santos1
Resumo: O presente artigo tem por objetivo comentar os dispositivos da nova lei de seguros que cuidam das figuras dos intervenientes no contrato de seguro , com observações acerca de suas funções, vinculações, responsabilidades, deveres de lealdade e boa-fé, inclusive com relação à completude e veracidade das informações sobre todas as questões de sua alçada, seja na formação do contrato seja na sua execução, e das consequências pelo descumprimento de tais obrigações, de seus erros e omissões. Ao citar os representantes e prepostos das seguradoras e os corretores de seguro a que a lei se refere nominalmente como intervenientes, além de apresentar os conceitos de tais figuras, vai mais além no sentido de mostrar que outras figuras também podem ser legal e juridicamente consideradas como intervenientes no contrato de seguro , fazendo-se inclusive referência aos estipulantes e aos agentes.
Abstract: This article aims to comment on the provisions of the new insurance law that address the roles of intervening parties in insurance contracts, with observations regarding their functions, affiliations, responsibilities, and duties of loyalty and good faith. This includes the completeness and truthfulness of the information provided on all matters within their scope, both during the formation and execution of the contract, as well as the consequences of failing to fulfill such obligations, including errors and omissions. By referring to the representatives and agents of insurers and insurance brokers—explicitly named in the law as intervening parties—the article not only presents the definitions of these roles but also goes further to demonstrate that other figures may also be legally and juridically considered as intervening parties in insurance contracts, including stipulators and agents.
1 Consultor jurídico especializado em direito de seguros. Membro efetivo da Associação Internacional de Direito de Seguros – AIDA-Brasil. Autor das obras: Direito de Seguro no Cotidiano, Direito de Seguro no novo Código Civil e legislação Própria (ambas forense Rio) e Coletâneas de Jurisprudência STJ/STF Seguros, Previdência Privada e Capitalização editada pela CNSEG. Coautor de diversas obras sobre seguro. Autor de inúmeros artigos sobre seguros em revistas especializadas.
-318- Índice
Palavras-chave: Intervenientes. Representantes de seguradoras. Prepostos de seguradoras. Corretor de seguros. Agentes. Estipulantes. Boa-fé. Lealdade. Vinculação. Segurado. Beneficiário. Segurador. Formação e execução do contrato. Responsabilidades. Obrigações. Regulação. Renovação e prorrogação do contrato. Intermediário. Comissão. Comitente. Comissário. Estipulação própria e imprópria. Mandato. Angariador. Agenciador. Dolo. Culpa. Interpretação da lei.
Keywords: Insurance, Law 15.040/24, duties, loyalty, good faith, regulation, liability.
Sumário: 1. Alocação do tema na lei. 2. A figura do agente de seguros e sua diferença em ralação ao corretor de seguros, em cuja expressão podem ser subsumidos os intervenientes no contrato de seguro. 3. O corretor e o agente/representante de seguradora ante o art. 39, inciso IX, do Código de Defesa do Consumidor. 4. O Estipulante como interveniente no contrato de seguro, embora a nova lei de seguros a ele como tal não se refira. A jurisprudência consolidada do STJ. 5. Os intervenientes do contrato de seguro na formação do contrato. 6. Considerações finais.
1. Alocação do Tema na Lei
Os chamados intervenientes no contrato de seguro são tratados no Capítulo I, Disposições Gerais, Seção VII, da nova Lei de Seguros, assim dispostos, in litteris:
“Art. 37. Os intervenientes são obrigados a agir com lealdade e boa-fé e prestar informações completas e verídicas sobre todas as questões envolvendo a formação e a execução do contrato.
Art. 38. Os representantes e os prepostos da seguradora, ainda que temporários ou a título precário, vinculam-na para todos os fins quanto a seus atos e omissões.
Art. 39. O corretor de seguro é responsável pela efetiva entrega ao destinatário dos documentos e outros dados que lhe forem confiados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.
Parágrafo único. Sempre que for conhecido o iminente perecimento de direito, a entrega deve ser feita em prazo hábil.
Art. 40. Pelo exercício de sua atividade, o corretor de seguro fará jus à comissão de corretagem.
Parágrafo único. A renovação ou a prorrogação do seguro, quando não automática ou se implicar alteração de conteúdo de cobertura ou financeiro mais favorável aos segurados e aos beneficiários, poderá ser intermediada por outro corretor de seguro, de livre escolha do segurado ou do estipulante.”
Daí já se pode inferir da pouca referência aos intervenientes na nova lei de seguros, sendo eles literalmente os representantes e prepostos das seguradoras e os corretores de seguros. Todavia, desse rol não poderia escapar a figura do estipulante, que na verdade também de algum modo participa como parte interveniente no contrato de seguro seja nos contratos coletivos ou individuais. Até porque a nova lei dos contratos de seguro decerto não poderia descer a detalhes em relação à disciplina dos intervenientes considerando que cada qual possui seus regimes jurídico e disciplinar próprios.
Ao dispor sobre os intervenientes, o legislador coerentemente estabelece como condição absoluta a mesma postura exigida das partes do contrato - segurado e segurador e tomador -, qual a de agirem com lealdade e boa-fé, prestando informações completas e verídicas sobre todas as questões envolvendo a formação e a execução do contrato, é dizer, desde a proposta e conclusão do contrato até o sinistro e sua regulação. Não sem dizer que os atos e omissões dos representantes e prepostos das seguradoras (igualmente dos segurados e proponentes, ainda que a Lei não disponha expressamente), mesmo que temporários, tem vinculação com elas, como sempre ocorreu e como deve ser, mesmo porque eles agem em nome das seguradoras como é natural nas relações entre preponentes e prepostos, entre representantes e representados. Realmente, quanto aos erros e omissões dos representantes e prepostos de seguradora, responderá por eles, ainda que solidariamente, o segurador, enquanto os erros e omissões do corretor de seguros que age representando o segurado propiciarão a este, quando prejudicado, o devido direito de reparação.
Como se nota, restou mantida a boa-fé objetiva como elemento específico do contrato de seguro, mesmo sendo cláusula geral para os demais, exigida em todas as fases do contrato, inclusive na liquidação do sinistro (reclamações de má-fé). Até porque, consoante o artigo 422 do Código
-320- Índice
Civil (não revogado pela nova lei do seguro), a aplicação do princípio da boa-fé deve ocorrer nas fases pré e pós contratual. E mais, na interpretação da cláusula geral da boa-fé levar-se-á em conta o sistema do Código Civil, da Nova Lei de Seguros por que não, e conexões sistemáticas com outros estatutos, dentre os quais o Código de Defesa do Consumidor (art. 4º. III), em perfeita sintonia com o princípio do diálogo de fontes. (Enunciados 25 e 27 da Jornada de Direito Civil no STJ em 13/09/02).
A boa-fé desempenha função das mais importantes no contrato de seguro sendo, talvez, o seu fundamento mais eloquente, sua principal peculiaridade, tanto que “contrato de extrema boa-fé”, “da mais estrita boa-fé”, “de máxima boa-fé”. De uberimae bona fide, como já diziam os romanos e, tão antiga entre nós, que a primeira seguradora instalada no Brasil, nos idos de 1.808, em homenagem a esse elemento essencial do contrato de seguro, denominava-se “Boa Fé Seguros”, por isso ela é exigida não só das partes do contrato como também dos intervenientes citados.
O contrato de seguro está de tal forma fundado na boa-fé que sua ausência é suficiente para retirar-lhe a eficácia. Tanto assim que mereceu a atenção do Código Penal, no inciso V do § 2º do artigo 171, que trata da fraude para recebimento de indenização ou valor do seguro, pelo segurado e seus representantes intervenientes, refletindo a situação que se produz quando o segurado procura intencionalmente a ocorrência do sinistro ou exagera suas consequências, com ânimo de obter enriquecimento sem causa, o que é em síntese um atentado ao princípio da boa-fé subjetiva. Não se perca de vista que seguro é contrato de finalidade social, devendo o intérprete levar em conta princípios da eticidade, socialidade, boa-fé objetiva, privilegiando mais o aspecto coletivo que o individualista.
Com efeito, a nova lei de seguros, além de estabelecer expressamente as consequências de declarações inverídicas, inexatas e omissas, em seus artigos 44 e 452, estabelece princípios que também abrangem e
2 Art. 44. O potencial segurado ou estipulante é obrigado a fornecer as informações necessárias à aceitação da proposta e à fixação da taxa para cálculo do valor do prêmio, de acordo com o questionário que lhe submeta a seguradora.
§ 1º O descumprimento doloso do dever de informar previsto no caput deste artigo importará em perda da garantia, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora.
§ 2º O descumprimento culposo do dever de informar previsto no caput deste artigo implicará a redução da garantia proporcionalmente à diferença entre o prêmio pago
reforçam essa possibilidade, sabido que a força dos princípios são até mais eloquentes que a dos simples dispositivos de lei, pois a própria norma se fundamenta pelos princípios, máxime considerando que o princípio da boa-fé é atávico e visceral para o seguro desde sempre, desde que o seguro existe, tanto que o artigo 56 da nova lei é suficientemente claro ao estabelecer que “o contrato de seguro deve ser interpretado e executado segundo a boa-fé”. Por isso, em caso de declarações inexatas ou omissões que possam influenciar na aceitação da proposta ou no valor do prêmio, seja pelo proponente/segurado direto seja pelo interveniente, a seguradora pode e deve negar a indenização ou capital segurado de acordo com os dispositivos e princípios gerais estabelecidos na lei. Decerto que, por ser uma lei recente ainda em vacatio legis, encontra-se em fase de interpretação pela jurisprudência e doutrina, que pode trazer nuances e detalhes adicionais sobre as consequências de declarações inexatas inclusive dos intervenientes.
Enfim, interpretando de forma conjunta e sistemática os artigos 37 (dever de lealdade e boa-fé dos intervenientes), 41 (possibilidade do corretor representar o proponente na formação do contrato) e 45 (obrigação dos terceiros intervenientes de responderem os questionamentos da seguradora a respeito do interesse e do risco), todos os atores que atuam no cenário do contrato de seguro se vinculam ao princípio da boa-fé, não só as partes como também os intervenientes.
O Representante de Seguros, ou representante de seguradoras, pois, costuma ser definido como “a pessoa jurídica que assumir a obrigação de promover, ofertar ou distribuir produtos de seguro, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, à conta e em nome da sociedade seguradora”. Conceito esse que também se presta para os agentes de seguro, inclusive para aqueles definidos no Código Civil em capítulo específico não revogado pela nova lei. Nesse conseguinte, não pode figurar simultaneamente no mesmo contrato de seguro como repree o que seria devido caso prestadas as informações posteriormente reveladas. § 3º Se, diante dos fatos não revelados, a garantia for tecnicamente impossível, ou se tais fatos corresponderem a um tipo de interesse ou risco que não seja normalmente subscrito pela seguradora, o contrato será extinto, sem prejuízo da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora.
Art. 45. As partes e os terceiros intervenientes no contrato, ao responderem ao questionário, devem informar tudo de relevante que souberem ou que deveriam saber a respeito do interesse e do risco a serem garantidos, de acordo com as regras ordinárias de conhecimento.”
-322- Índice
sentante de seguros e como estipulante ou sub estipulante de apólice coletiva, sob pena de tergiversação (tampouco o agente e toda forma de representação da sociedade seguradora, já que o estipulante, por definição, representa os proponentes e segurados na relação bilateral e contraposta que caracteriza o contrato de seguro).
O Representante de Seguro pode atuar nas suas dependências físicas ou por meios remotos conforme regulamentação específica, com ou sem a intermediação de um corretor ou preposto de corretor, sendo considerada contratação direta quando sem corretor. Não se costuma exigir do representante exclusividade podendo atuar inclusive por conta própria, desde que não concorra com a sociedade seguradora (o contrato com a seguradora deverá disciplinar não só quanto à exclusividade, mas também sobre a forma, a remuneração, a delimitação da zona de atuação, rescisão, vigência, se determinado ou indeterminado, dentre o mais).
Ao referir-se ao corretor de seguros como interveniente, o legislador foi claro ao estabelecer a sua responsabilidade pela efetiva entrega ao destinatário, notadamente ao segurador, dos documentos e outros dados que lhe forem confiados, pelo segurado ou quem quer que seja, no prazo de cinco dias úteis, e, diante de conhecido e iminente perecimento de direito, deverá fazê-lo em prazo hábil.
Ainda em relação ao corretor de seguros, a nova lei reitera o seu direito ao recebimento da comissão de corretagem que lhe é devida, mas devendo ser lembrado que o corretor de seguros se diferencia dos demais intermediários de negócios, por isso sua remuneração não se restringe à intermediação, mas também à sua função de assessoramento aos segurados. E na renovação ou prorrogação do seguro, desde que não seja daquelas automáticas que apenas mantém o contrato sem alterações de conteúdo (nestas, por interpretação a contrário senso do parágrafo único do artigo 40 da Nova Lei), o corretor original não pode ser alterado sem a sua anuência expressa, mas poderá haver intermediação por outro corretor de seguro, de livre escolha do segurado ou do estipulante, conforme dispõe a nova lei de seguros.
2. A Figura do Agente de Seguros e sua Diferença em Relação ao Corretor de Seguros, em Cuja Expressão Podem ser Subsumidos os Intervenientes no Contato de Seguro
Diversas são as maneiras, sentidos, formas e expressões pelas quais pode ser entendida e designada a figura do AGENTE. Multifários po-
dem ser os significados e denominações desse termo polissêmico por natureza: agente comercial, agente consular, agente diplomático, de polícia, de crime etc. E quando empregado como “agência” terá sempre o sentido de dependência de estabelecimento comercial localizada fora da sede e a esta subordinada. Nos primeiros exemplos, aquele que age como representante ou em função de determinada atividade, enquanto, no último, no sentido de direito penal, o autor de um delito. No direito civil costuma-se dizer da pessoa incumbida de cuidar de negócios ou interesses alheios, ou pessoa que pratica ato jurídico, tendo responsabilidade por ele. No direito administrativo, aquele que exerce função pública, ou está encarregado de uma delegação pública. No direito comercial, aquele que é encarregado da gerência, direção ou administração de uma empresa. Em medicina legal, a força ou substância mórbida ou curativa capaz de agir sobre o organismo humano. Enfim...
Mas na operação de seguro ele tem significado todo próprio e peculiar, podendo de pronto se afirmar que em nada se confunde com a figura do corretor, cada qual com a sua função específica, ambos, no entanto, exercendo importante papel na atividade de seguros e que, como figuras tradicionais desse mercado, sempre contribuíram, contribuem e ainda podem contribuir para o seu desenvolvimento, razão pela qual podem e devem coexistir e conviver em perfeita harmonia. A figura do agente de seguros, pode-se assim dizer que hoje se confunde com a figura do representante ou preposto da seguradora. O próprio artigo 775 do CC de 2002, cujo capítulo que regula o contrato de seguro estará revogado pela nova lei de seguros em dezembro deste ano de 2025 face a vacatio legis determinada em seu artigo 134, estabelece literalmente que os agentes autorizados do segurador se presumem seus representantes para todos os atos relativos aos contratos que agenciarem, podendo-se de aí extrair um conceito que restará válido mesmo a despeito da revogação do citado artigo 775.
Em se transportando tal premissa para a figura do representante ou preposto da seguradora, que diferentemente do corretor de seguros não se caracteriza como intermediário (pessoa que atua como ponte entre duas ou mais partes), pode-se inferir que enquanto o representante de seguradora, como o próprio nome indica, atua no mercado representando o segurador, vendendo seguro, o Corretor de Seguro, sem perder a característica de intermediário, atua no mercado representando o proponente segurado, comprando seguro, buscando entre as diversas seguradoras o “produto” que melhor convenha aos interesses de seu cliente - o segurado -, daí se estabelecendo uma relação mais equilibrada entre consumidor de seguro e seguradora.
-324- Índice
Existe uma diferença marcante entre estas duas figuras, sendo o agente/representante, de um lado, vendedor representante do segurador - tanto que a comercialização de seguro realizada por ele é considerada como venda direta a que alude o artigo 18 da lei nº 4.594/64, não havendo dupla intermediação se a venda ocorrer com a intermediação do corretor junto ao agente/representante, posto não ser este um intermediário propriamente dito e por estarem em polos distintos – e, de outro lado, o corretor de seguros, intermediário comprador e representante do segurado, fazendo deste um consumidor diferenciado, eis que, por poder contar com um representante assessor e conhecedor de seguro, não tem a mesma hipossuficiência ou vulnerabilidade técnica dos consumidores em geral, já que o consumidor de seguros sempre contará com a assessoria técnica do seu corretor, profissional avaliado, aprovado em cursos especializados e habilitado pela SUSEP, por isso empregando esse conhecimento técnico especializado em prol do segurado desde a fase pré-contratual, na conclusão do contrato, na sua vigência e na sua execução, auxiliando-o na regulação e liquidação do sinistro.
O Sistema de Seguros Privados Brasileiro conhece, de há muito, também as figuras do Agente e do Representante, que são produtores externos das seguradoras regulamentados pelo CNP e pela SUSEP com desenhos semelhantes aos do agente de que tratam os artigos 710 a 721 do Código Civil, mas que ao contrário dos corretores de seguros agem em nome das seguradoras, valendo insistir, em reforço das diferenças entre agente/representante de seguradora e corretor de seguros e da possibilidade de convivência harmônica entre essas duas entidades.
Guardadas suas devidas características, o segurado é um como que comitente do corretor, este que se torna comissário daquele, na medida em que a comissão de corretagem é o preço não só da intermediação como também da assessoria técnica e comercial que o corretor lhe presta na representação de seus interesses perante o segurador, eis que a comissão de corretagem integra a tarifa do prêmio devido pelo segurado. A legislação que regula a atividade do corretor de seguro (Lei 4.494/64 e DL 73/66) é clara ao estabelecer essa relação, tanto que, ademais, dá ao corretor o poder de assinar a proposta de seguro, não havendo nada mais eloquente para demonstrar essa representação já que é na proposta que constarão as informações e declarações necessárias para a aceitação do risco pelo segurador, fazendo do corretor de seguro, vale repetir, um profissional que se distancia léguas dos demais intermediários de negócios e do segurado um consumidor diferenciado dos demais consumidores, fazendo-o não tão hipossuficiente assim
-325- Índice
como os outros, que normalmente não contam com igual assessoria, equilibrando dessa forma a relação com o segurador.
O segurado só não é um comitente puro do corretor de seguro porque, a uma, o Código Civil passou a disciplinar o contrato de corretagem (artigos 722/727 do CC e legislação específica do corretor de seguro) e o contrato de comissão (artigos 693/709), separadamente, como também o contrato de agência (artigos 710/721), e o mandato (artigos 653/692), pelas características que cada um tem em relação ao outro. Na verdade, o corretor de seguro, espécie de comissário, recebe de certo modo um “mandato” do segurado, como o agente/representante de seguradora recebe um “mandato” do segurador. A duas, porque o contrato típico de comissão, tratado nos artigos 693/709 do CC tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário, o que não sucede na corretagem de seguro, mas o comissário, assim como o corretor, é obrigado a agir de conformidade com as instruções do comitente, com os cuidados e diligências para evitar prejuízo.
Insta, no entanto, não confundir agenciador com agente, nem angariador com corretor, nem uns com os outros entre si. A confusão pode ser explicada: a uma pelo fato de o termo agenciador guardar relação semântica com a palavra agente passando a impressão de que agenciador é o mesmo que agente, quando em verdade não é, pois o agenciamento praticado pelo agenciador não é o mesmo praticado pelo “agente de seguros”, tampouco é trabalho de intermediação/corretagem, mas trabalho de convencimento feito junto a pessoas seguráveis a fim de que elas firmem adesão às apólices coletivas de seguro sobre a vida e a integridade física (nova terminologia dos seguros de pessoa), por isso o agenciador, que não se confunde com o “agente de seguros/representante de seguradora”, muito menos com o “corretor de seguros”, costuma ser o profissional, autônomo ou assalariado, especializado na angariação de adesões de componentes às apólices referidas, apólices essas já intermediadas por corretor habilitado, ou contratadas sem intermediação (os chamados seguros diretos a que alude o artigo 18 da Lei 4.594/64), daí o trabalho do agenciador ser apenas o de alimentar tais apólices, existindo, isto sim, uma sinonímia entre agenciador e angariador, que afinal se confundem em uma só figura, tanto assim que na terminologia dos Dicionários e Vocabulários de seguro, Agenciador é o título que se dá à pessoa devidamente autorizada e remunerada pelo segurador, para promover a adesão de pessoas a uma apólice coletiva, sendo o agenciamento o termo utilizado para definir o trabalho executado pelo Agenciador ao promover as referidas adesões (In Dicionário de
-326- Índice
Seguros, Alexandre Del Fiori, Editora Manuais Técnicos de Seguros, 1996); a duas, pelo fato de constar na definição de “corretor de seguros” a palavra angariar conforme artigo 1º da Lei 4.594/64 (“... intermediário autorizado a angariar e a promover contrato de seguro entre...”).
3. O Corretor e o Agente/Representante de Seguradora Ante o Art. 39, Inciso IX, do Código de Defesa do Consumidor
Insta considerar que duas e distintas são as relações de consumo que se instalam entre (1) o consumidor de seguro e o segurador e (2) o consumidor de seguro e o corretor, inexistindo, portanto, relação de consumo entre o corretor e o segurador. Na primeira, o que se consome é o seguro, firmado mediante contrato pelo qual o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, mediante o recebimento do prêmio, que é o preço da garantia (artigo 1º da nova lei de seguros, correspondente ao artigo 757 do CC). Na segunda, o serviço consumido, multifacetado, é o de intermediação, angariação e promoção do seguro, e mais o de assessoramento técnico e de representação fornecido pelo corretor ao segurado, cuja remuneração se denomina comissão de corretagem, por isso o corretor que der causa a prejuízos ao segurado enquanto consumidor, responderá autônoma e independentemente da responsabilidade da seguradora (DL 73/66, artigos 126 e 127), cuja independência das relações de consumo afasta a responsabilidade solidária de um para com o outro, sabido que se o corretor for pessoa física a sua responsabilidade dependerá da apuração de culpa (responsabilidade civil subjetiva), enquanto que se pessoa jurídica a sua responsabilidade será objetiva, embora não se trate de uma responsabilidade objetiva pura. Em outro giro, os danos ao segurado que o agente/ representante de seguradora der causa, por eles responderá o segurador ainda que solidariamente, com direito de regresso contra o causador.
Cabe de aí indagar se haveria abusividade na prática de se realizar contrato de seguro sem a intermediação do corretor. Para responder, vale transcrever o citado art. 39, inciso IX do CDC: “Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: ... IX - recusar a venda de bens ou prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis específicas...” (os grifos não são do original).
O inciso em referência, que faz parte de um elenco de itens indicados como práticas abusivas, se restringe à hipótese de recusa de oferta, pelo fornecedor, sem intermediação, ou seja, venda de produtos
ou prestação de serviços diretamente entre consumidor e fornecedor, sem intermediários, como, aliás, admite a lei que regula a atividade de corretagem de seguro (Lei 4.594/64, artigo 18).
Todavia, consta do dispositivo do CDC a ressalva da regulação por leis especiais (e a corretagem de seguro é regulada por lei especial), sabido mais que a intermediação é praxe na comercialização de seguros, embora se admita a contratação direta. Portanto, não veria como abusiva a prática, mais que consagrada pelo costume e pelas leis especiais, de recusa de oferta pelo segurador em face da natureza própria do contrato de seguro, considerando, ademais, que o corretor de seguro supre a suposta vulnerabilidade técnica do segurado enquanto consumidor, representando-o e assessorando-o perante o segurador nessa complexa operação chamada seguro.
Não seria abusiva também porque o segurador não estaria obrigado a aceitar a proposta sem o corretor, considerando que na dicção do artigo 18 da Lei 4.594/64 duas opções são estabelecidas, a juízo do segurador (como gestor da mutualidade e sujeito da oração) para aceitação de uma proposta de seguro - com ou sem corretor - tratando-se, portanto, de uma faculdade segundo a sua política de aceitação. Mas o tema não estaria livre de interpretação oposta, considerando ser o corretor um representante do segurado e, daí, não ser razoável pretender-se impor a alguém um representante que ele não queira.
O dispositivo citado do CDC, por certo, não alcança o agente/representante ou preposto de seguradora, posto não ser este, como dito, intermediário nos termos da legislação vigente.
4. O Estipulante como Interveniente no Contrato de Seguro, Embora a Nova Lei de Seguros a Ele como Tal não se Refira. A Jurisprudência Consolidada do STJ
Pela própria definição que se tem do estipulante de seguros, não se poderia descartar a sua caraterística de um representante interveniente no contrato de seguro, sendo ele, no contexto de seguros coletivos, a pessoa física ou jurídica que contrata a apólice de seguro em nome de um grupo de segurados, ficando investido dos poderes de representação destes perante a seguradora (artigo 21 do Decreto-Lei 73/66), ou, em outras palavras, o estipulante é quem intermedia a relação entre a seguradora e os segurados, especialmente em seguros coletivos, comunicando, informando, realizando atualizações e intercedendo em
-328- Índice
caso de sinistro, figurando por isso mesmo como um intermediário interveniente entre a seguradora e o grupo de segurados, facilitando a comunicação e a negociação.
A Resolução CNSP 382/2020, que regula, dentre outros temas, as práticas de conduta adotadas pelas sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de previdência complementar e intermediários, no que se refere ao relacionamento com o cliente, deixa clara a condição do estipulante como um interveniente da relação entre a seguradora e os segurados, ao prever no seu artigo 13 que “o estipulante, definido nos termos da legislação vigente, equipara-se ao intermediário.
O estipulante, como parte interveniente, tem a importante função na relação entre a seguradora e os segurados por ela representados, tendo a Segunda Seção do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, (Tema 1.112), definido que é do estipulante o dever de informar sobre cláusulas de seguro coletivo, ao definir atribuições do estipulante – empresa ou associação que faz a contratação em favor de seus empregados ou associados – em matéria de seguros sobre a vida e integridade física coletivos. A primeira tese firmada estabeleceu que, nessa modalidade de contrato de seguro, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais, quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestra. Em complementação, o colegiado decidiu que não se incluem no âmbito do tema repetitivo as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas, nesses casos, devem ser consideradas apólices individuais no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.
Com o julgamento, que confirmou a jurisprudência já consolidada no STJ, voltam a tramitar os processos sobre a mesma questão jurídica que estavam suspensos à espera da fixação das teses e que acreditamos subsistirá em que pese a vigência da Lei 15.040/24, cujo precedente qualificado deverá ser observado pelos tribunais de todo o país na análise de casos idênticos. Extrai-se da decisão, que as seguradoras não têm como saber das informações prévias dos segurados, tendo o relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator do Tema 1.112, explicado que a seguradora e o estipulante, ao firmarem o contrato principal, ou contrato mestre, negociam entre si os riscos cobertos,
valores dos prêmios e das indenizações e prazos de carência, entre outras disposições, inclusive aquelas relativas às eventuais restrições de direito dos futuros segurados. É que, na fase de adesão dos segurados, a relação ocorre entre o potencial grupo de clientes e o estipulante, responsável por prestar informações acerca do produto contratado, pois até o momento que antecede essa etapa, a seguradora não tem como identificar com precisão os indivíduos que efetivamente integrarão o grupo segurado, sendo incompatível com a estrutura do contrato coletivo atribuir a ela o dever de informação prévia ao segurado – a não ser quando provocada especifica e individualmente para isso, daí que na adesão à apólice coletiva, os segurados não têm relação com a seguradora, eis que ao aderir à apólice coletiva, o segurado ainda não tem interlocução com a seguradora, recaindo o dever de informação sobre o estipulante intermediador.
Cumpre ressaltar, aliás, que sobre esse tema a Lei 15.040/24 não foi omissa, eis que em seu artigo 32 estabelece, in litteris, que “o estipulante de seguro coletivo representa os segurados e os beneficiários durante a formação e a execução do contrato e responde perante eles e a seguradora por seus atos e omissões”.
Mas consoante o parágrafo único do mesmo dispositivo, para que possam valer as exceções e as defesas da seguradora em razão das declarações prestadas para a formação do contrato, o documento de adesão ao seguro deverá ter seu conteúdo preenchido pessoalmente pelos segurados ou pelos beneficiários. Quanto a isso a nova lei de seguros não inova ante o que já dispõe a Resolução nº 434/21 do CNSP3, com a sutil diferença de que esta exige não só o preenchimento pessoal do proponente como também a sua assinatura, enquanto a nova lei de seguros apenas exige o preenchimento pessoal, sem fazer menção à assinatura, mas é claro que se subentende que para valer o preenchimento pessoal decerto que deve constar também a assinatura ou qualquer outra forma de comprovação da autoria e autenticidade, como por exemplo a gravação de áudio de telemarketing.
3 Art. 6º A contratação de seguros por meio de apólice coletiva deve ser realizada mediante proposta de contratação assinada pelo estipulante e, se houver, pelo sub-estipulante. Parágrafo único. A adesão à apólice coletiva deverá ser realizada mediante preenchimento e assinatura de proposta de adesão pelo proponente, seu representante legal ou corretor de seguros.
-330- Índice
Tal, no entanto, não tem o condão de neutralizar a referida decisão do STJ no Tema 1.112 segundo a qual, repita-se à exaustão, é responsabilidade exclusiva do estipulante, como mandatário legal do grupo de segurados antes da formação do contrato, posto que a referida obrigação se refere ao vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria) em tese desconhecidos da seguradora, qual a de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestra.
5. Os Intervenientes do Contrato de Seguro na Formação do Contrato
A nova lei também reserva aos intervenientes alguma participação no cenário da formação do contrato de seguro, pelo que se infere de seus artigos 41 e seguintes, a começar por estabelecer que a proposta de seguro poderá ser feita diretamente, pelo potencial segurado ou estipulante ou pela seguradora, ou por intermédio de seus representantes, estabelecendo mais que o corretor de seguro poderá representar o proponente na formação do contrato, na forma da lei, sendo que a proposta feita pelo potencial segurado ou estipulante não exige forma escrita, deixando claro que o simples pedido de cotação à seguradora não equivale à proposta, mas as informações prestadas pelas partes e por terceiros intervenientes integram o contrato que vier a ser celebrado.
Em seu artigo 44, como já algures mencionado, a nova lei de seguros estabelece que o potencial segurado ou estipulante é obrigado a fornecer as informações necessárias à aceitação da proposta e à fixação da taxa para cálculo do valor do prêmio, de acordo com o questionário que lhe submeta a seguradora, decorrendo daí que caberá ao estipulante, quando caso, a responsabilidade pelas informações incorretas que prestar à seguradora induzindo-a a erro na formação do preço do seguro, estabelecendo que o descumprimento doloso do dever de informar previsto neste artigo importará em perda da garantia, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora. Mas o descumprimento culposo do dever de informar implicará na redução da garantia proporcionalmente à diferença entre o prêmio pago e o que seria devido caso prestadas as informações posteriormente reveladas. E que, se, diante dos fatos não revelados, a garantia for tecnicamente impossível, ou se tais fatos corresponderem a um tipo de interesse ou risco que não seja normalmente subscrito pela seguradora, o contrato será extinto, sem prejuízo da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora.
Nessa senda, reza o artigo 45 da nova lei, ainda em sede da formação do contrato e em complemento ao aludido artigo 44 (estes dois artigos devem ser lidos em conjunto), que as partes e os terceiros intervenientes no contrato, ao responderem ao questionário, devem informar tudo de relevante que souberem ou que deveriam saber a respeito do interesse e do risco a serem garantidos, de acordo com as regras ordinárias de conhecimento, tudo sob pena da perda da garantia se incidirem na quebra do princípio da boa-fé, subjetiva e objetiva, que continua a prevalecer como elemento visceral no contato de seguro, seja por ato comissivo ou omissivo.
6. Considerações Finais
Enfim, vale repisar que a lei, afinal, seja para essa ou aquela parte, precisa ser tocada pela interpretação, dando força à jurisprudência dos tribunais para solução de situações lacunosas da lei, pois já estamos vivendo, não o sistema do common law, praticado nos países de origem saxônica, mas o do civil law, mais apropriado aos países de origem latina, do direito codificado, como o nosso. Demais, assim como a partitura não esgota a música, a lei não esgota o direito.
Com efeito, resta aguardar, esperar e ver como se dará a intercessão ou conexão desta nova lei de seguros, que revoga todo o capítulo do CC de 2002 que trata do contrato de seguro, diante da ampla reforma desse mesmo Código cujo anteprojeto, já concluído pela Comissão de Juristas, foi entregue ao Congresso Nacional para a devida tramitação, não sem lembrar de que, no mínimo, demandará ajustes de modo a se conciliar para não se conflitar com o texto que resultar do anteprojeto, até porque, como lei posterior à Lei nº 15.040 de 09/12/24 aqui comentada, poderá, quem sabe, produzir as respectivas revogações naquilo que for incompatível com a lei de seguros, pela regra estabelecida no artigo 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (DL nº 4.657 de 1942), segundo o qual, “a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”. A não ser que a lei que resultar do anteprojeto de reforma do Código Civil, estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes na lei de seguros, caso em que não revogaria nem modificaria a lei anterior (LINDB, artigo 2º, § 2º).
-332- Índice
A Disciplina do Seguro de Responsabilidade
Civil na Lei do Contrato
de Seguro
Thiago Junqueira1
Resumo: O artigo realiza um exame panorâmico e preliminar de todos os dispositivos que integram a Seção II do Capítulo 2 da Lei nº 15.040/2024 (Lei do Contrato de Seguro – LCS), dedicada ao seguro de responsabilidade civil. A nova legislação introduz, nos arts. 98 a 107, um conjunto normativo específico para essa modalidade, sistematizando aspectos essenciais da cobertura, como a definição do interesse segurado, a caracterização do risco e os deveres das partes envolvidas. Entre os pontos analisados, destacam-se a ampliação da proteção legal ao terceiro prejudicado, a aceitação de múltiplas bases contratuais para definição da responsabilidade, e a imposição de vinculações de colaboração e informação ao segurado. O estudo também analisa a legitimidade processual do terceiro, os limites das defesas oponíveis pela seguradora, e a possibilidade de acordos diretos entre seguradora e o terceiro prejudicado. Trata ainda das regras aplicáveis em caso de pluralidade de lesados e da inclusão dos acessórios legais incidentes sobre a dívida do responsável na indenização securitária. A conclusão ressalta que a LCS não rompe com o regime anterior, mas inaugura um novo regramento com alterações relevantes e que exigirão esforços interpretativos e ajustes operacionais para sua aplicação.
Abstract: This article presents a comprehensive and preliminary examination of the legal framework established by Section II, Chapter 2 of Law No. 15,040/2024 (Brazilian Insurance Contract Act – LCS), which specifically governs liability insurance. Articles 98 to 107 of the Act introduce a structured and detailed set of rules applicable to this class of insurance, addressing core legal elements such as the scope of the insured interest, the characterization of covered risks, and the reciprocal obligations of the insured and the insurer. Particular emphasis is given to the expanded protection granted to aggrieved third parties, the legal recognition of multiple contractual bases for determining coverage, and the statutory imposition of cooperation and disclosure duties on the insured. The study further explores the procedural
1 Thiago Junqueira é Doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Mestre em Ciências Jurídico-Civilísticas pela Universidade de Coimbra. Sócio-fundador do escritório Junqueira & Gelbecke Advogados, é Professor de Direito do Seguro e Resseguro na FGV e Professor convidado da FGV Conhecimento e da Escola de Negócios e Seguros. Atualmente, exerce as funções de Diretor da AIDA Brasil e de Diretor de Relações Internacionais da Academia Brasileira de Direito Civil. Contato: thiago@junqueiragelbecke.adv.br.
standing of third-party claimants, the extent to which contractual and legal defenses may be raised by the insurer, and the permissibility of direct settlement agreements between the insurer and third parties. Additional topics include the distribution of indemnities in cases involving multiple claimants and the inclusion of statutory accessories within the insurer’s indemnity obligation. The article concludes that, although the LCS does not entirely break from the previous legal regime, it establishes a significantly more elaborate framework – one that demands refined interpretation and operational adaptation from all market participants.
Palavras-chave: Seguro de responsabilidade civil, Lei nº 15.040/2024, deveres, direitos, partes, terceiros.
Keywords: Liability insurance, Brazilian Insurance Contract Act, insured obligations, insured rights, aggrieved third parties.
Sumário: 1. Introdução; 2. Seguro de Responsabilidade Civil: aproximação; 3. Estrutura normativa: ampliação do interesse segurado; 4. Critérios de caracterização do risco e modalidades de contratação; 5. Vinculação de colaboração e limites à autonomia do segurado; 6. Dever de informação da existência e do conteúdo do seguro aos terceiros prejudicados: alcance, limites e incertezas; 7. Legitimidade ativa do terceiro e litisconsórcio; 8. Oposição de defesas pela seguradora ao terceiro prejudicado; 9. Possibilidade de celebração de acordo da seguradora com o terceiro prejudicado; 10. Pluralidade de terceiros prejudicados e prestação das indenizações pela seguradora; 11. Acessórios legais da indenização no seguro de responsabilidade civil; 12. Conclusão. Referências bibliográficas.
1. Introdução
A promulgação da Lei nº 15.040/2024, conhecida como Lei do Contrato de Seguro (LCS), implicou uma atualização relevante da disciplina do seguro de responsabilidade civil no Brasil, com a introdução de um conjunto de dispositivos específicos (arts. 98 a 107) que detalham o regime aplicável à modalidade. O presente artigo examina, de forma objetiva, os principais aspectos do seguro de responsabilidade civil facultativo e as inovações presentes na seção II do capítulo 2 da LCS.2
2 Advirta-se, por oportuno, que, embora a LCS tenha trazido relevantes alterações em diversos institutos – como a declaração inicial do risco, o agravamento do risco e a regulação e liquidação do sinistro –, com impacto profundo nos seguros de responsabilidade civil, este estudo irá se concentrar nos dispositivos contidos na seção mencionada anteriormente. Ressalte-se, ainda, que este trabalho retoma, consolida e
-334- Índice
2. Seguro de Responsabilidade Civil: Aproximação
A vida em sociedade expõe tanto pessoas físicas quanto jurídicas à constante possibilidade de causar danos a terceiros ou de ser por eles prejudicadas. A resposta do Direito, na seara civil, dá-se por meio do instituto da responsabilidade civil, que, em linhas gerais, consiste na obrigação de reparar o dano causado a terceiros, desde que presentes determinados requisitos legais. Quando uma conduta, por ação ou omissão, resulta em um dano injusto a outra pessoa e houver nexo de causalidade, surge o dever de indenizar.
Os regimes variam conforme a modalidade de responsabilidade civil aplicável: pode ser subjetiva, quando exige a comprovação de culpa do agente, ou objetiva, quando, em virtude de lei ou por envolver atividade de risco, o dever de indenizar decorre apenas da existência do dano e do vínculo causal, independentemente de culpa. Além dessa distinção, é comum verificar se a responsabilidade é contratual ou extracontratual, pois o regime jurídico aplicável a cada uma apresenta diferenças práticas relevantes, notadamente quanto ao prazo prescricional.
Nesse contexto, o seguro de responsabilidade civil surge como um instrumento de mitigação de riscos, ao proteger o patrimônio do segurado contra os efeitos financeiros de uma imputação de responsabilidade fundada na lei ou em contrato. Trata-se de mecanismo que visa a atenuar o impacto econômico decorrente do dever de indenizar e, muitas vezes, das despesas com a defesa, funcionando como uma salvaguarda frente a obrigações impostas por decisão judicial, arbitral ou por acordo previamente autorizado pela seguradora.3
aprofunda reflexões já desenvolvidas pelo autor em dois artigos previamente publicados em sua Coluna Seguros em Movimento, nos seguintes termos: JUNQUEIRA, Thiago. Seguro de Responsabilidade Civil na Lei do Contrato de Seguro – Parte 1. Disponível em: https://www.editoraroncarati.com.br/v2/Artigos-e-Noticias/Artigos-e-Noticias/Seguro-de-Responsabilidade-Civil-na-Lei-do-Contrato-de-Seguro-%E2%80%93-Parte-1.html; e JUNQUEIRA, Thiago. Seguro de Responsabilidade Civil na Lei do Contrato de Seguro – Parte 2. Disponível em: https://www.editoraroncarati.com.br/v2/Artigos-e-Noticias/Artigos-e-Noticias/Seguro-de-Responsabilidade-Civil-na-Lei-do-Contrato-de-Seguro-%E2%80%93-Parte-2.html. Acesso em: 29 jul. 2025.
3 Sobre o tema, confira-se a definição constante no caput do art. 3º da Circular Susep nº 637/2021, que disciplina os seguros do grupo responsabilidades: “No seguro de
Ao contrário de outras modalidades de seguro de danos, que visam proteger o interesse do segurado sobre um bem específico – como ocorre, por exemplo, nos seguros de máquinas e equipamentos –, o seguro de responsabilidade civil tem por finalidade resguardar o próprio patrimônio do segurado contra obrigações de indenizar terceiros, nos limites do contrato. É comum, todavia, que seguros patrimoniais em geral incluam, de forma acessória, coberturas de responsabilidade civil.
Embora voltado à proteção do potencial causador do dano injusto, esse tipo de seguro também cumpre uma função de tutela da própria vítima, ao aumentar a chance de efetiva reparação patrimonial dos danos sofridos. Nesse particular, o art. 98, § 2º, da LCS, inova ao dispor: “Na garantia de gastos com a defesa contra a imputação de responsabilidade, deverá ser estabelecido um limite específico e diverso daquele destinado à indenização dos prejudicados”. Busca-se, com isso, evitar que a totalidade da garantia securitária seja consumida com despesas de defesa, em prejuízo dos terceiros lesados.
Ao tratar do seguro de responsabilidade civil, a doutrina adverte:
A complexidade do seu regime jurídico, a justificar o seu tratamento normativo e doutrinário em apartado das demais espécies de seguro, decorre de sua própria causa (função econômico e social), que é a garantia da responsabilidade civil do segurado por danos causados a terceiros, e que pressupõe duas relações jurídicas distintas – aquela estabelecida entre o segurado e o segurador, fundada no contrato de seguro, e aquela responsabilidade civil, a sociedade seguradora garante o interesse do segurado, quando este for responsabilizado por danos causados a terceiros e obrigado a indenizá-los, a título de reparação, por decisão judicial ou decisão em juízo arbitral, ou por acordo com os terceiros prejudicados, mediante a anuência da sociedade seguradora, desde que atendidas as disposições do contrato”. Sublinhe-se, ademais, o § 6º desse mesmo artigo, que trata das despesas de contenção e salvamento: “O seguro de responsabilidade civil cobre, também, as despesas emergenciais efetuadas pelo segurado ao tentar evitar e/ou minorar os danos causados a terceiros, atendidas as disposições do contrato, até o seu LMG, independentemente da contratação de cobertura específica para tais situações”. O referido assunto é disciplinado, com algumas diferenças, no art. 67 da LCS, especialmente em seu caput e § 4º.
-336- Índice
estabelecida entre o segurado e o terceiro, vítima do acidente, por cujos danos supor ta dos o segurado seja responsabilizado. 4
Usualmente, o seguro de responsabilidade civil cobre danos materiais, corporais e morais, de natureza involuntária, decorrentes de atos culposos praticados pelo segurado, observando-se o princípio indenitário e as disposições da apólice. Danos resultantes de condutas dolosas, por sua vez, costumam ser excluídos da cobertura, seja por disposição legal, seja contratual. A Circular Susep nº 637/2021, contudo, estabelece uma exceção relevante: exige-se a cobertura quando a responsabilidade do segurado decorre de atos dolosos praticados por seus empregados ou por pessoas a eles equiparadas, nos termos do art. 6º, inciso I, do ato normativo. Ainda nesse pano de fundo, a LCS estabelece a nulidade de garantias “contra risco de ato doloso do segurado, do beneficiário ou de representante de um ou de outro, salvo o dolo do representante do segurado ou do beneficiário em prejuízo desses” (art. 10, inc. II).5
No mesmo ato normativo, que provavelmente será adaptado à nova lei, a Susep organiza os seguros de responsabilidade civil em grupos específicos, classificando-os por ramo de atividade ou natureza do risco. Essa sistematização facilita a aplicação de regras técnicas e regulatórias adequadas a cada tipo de cobertura. São previstos cinco ramos: (i) responsabilidade civil de administradores; (ii) responsabilidade civil profissional; (iii) responsabilidade civil por
4 MIRAGEM, Bruno; PETERSEN, Luiza. O seguro de responsabilidade civil como tipo contratual. In: PRADO, Camila Affonso; MONTEIRO FILHO, Carlos Edison; SOARES, Flaviana; ROSENVALD, Nelson (Coords.). Seguros e Responsabilidade Civil. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2024. p. 52.
5 Sobre a controvérsia acerca da excludente da culpa grave equiparável ao dolo, consulte-se: ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Imputação de culpa grave em contrato de seguro no âmbito dos grupos de sociedade. In: GOLDBERG, Ilan; JUNQUEIRA, Thiago. Temas Atuais de Direito dos Seguros, Tomo I. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 680 e ss. Um exame detalhado dos principais riscos excluídos nos seguros de responsabilidade civil pode ser encontrado em POLIDO, Walter A. Seguros de responsabilidade civil: manual prático e teórico. Curitiba: Juruá, 2013. p. 460 e ss.; e, na doutrina estrangeira, CLARKE, Malcolm A. The law of liability insurance 2. ed. London: Informa Law from Routledge, 2017.
riscos ambientais; (iv) responsabilidade civil compreensiva para riscos cibernéticos; e (v) responsabilidade civil geral. 6
3. Estrutura Normativa: Ampliação do Interesse Segurado
O Código Civil de 2002 (CC) dedica apenas um dispositivo à regulamentação do seguro de responsabilidade civil facultativo. Nos termos do art. 787, “o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro”. Os quatro parágrafos desse artigo estabelecem importantes deveres e limitações à conduta do segurado: (i) o segurado deve comunicar ao segurador, tão logo tenha conhecimento, os fatos que possam gerar responsabilidade civil coberta pela apólice; (ii) é vedado ao segurado reconhecer sua responsabilidade, confessar a prática do ato, transigir com o terceiro prejudicado ou indenizá-lo diretamente, sem a anuência expressa do segurador; (iii) caso seja demandado judicialmente, o segurado deve dar ciência da lide ao segurador; e (iv) a responsabilidade do segurado perante o terceiro subsiste mesmo em caso de insolvência do segurador.7
A LCS, por sua vez, adotou uma conceituação mais abrangente do seguro de responsabilidade civil. De acordo com o seu art. 98, caput: “O seguro de responsabilidade civil garante o interesse do segurado contra os efeitos da imputação de responsabilidade e do seu reconhecimento, assim como o dos terceiros prejudicados à indenização”. O legislador claramente tomou partido quanto à amplitude do interesse segurado inerente a essa modalidade contratual, estendendo-o, além
6 Quando a apólice não se enquadrar em nenhuma das categorias específicas previstas, a norma determina que ela deve ser classificada no ramo de responsabilidade civil geral. Para exame dos principais elementos característicos de cada um dos cinco ramos de responsabilidade civil definidos pela Susep, veja-se: PRADO, Camila Affonso; PELEGRINI, Laura. Atual panorama dos seguros de responsabilidade civil no Brasil. In: PRADO, Camila Affonso; MONTEIRO FILHO, Carlos Edison; SOARES, Flaviana; ROSENVALD, Nelson (Coords.). Seguros e Responsabilidade Civil. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2024. pp. 72-87.
7 Sobre a aplicação do art. 787 do CC, consulte-se GOLDBERG, Ilan. Comentários ao art. 787 do Código Civil. In: GOLDBERG, Ilan; JUNQUEIRA, Thiago. Direito dos Seguros: comentários ao Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2023. pp. 431440; e TZIRULNIK, Ernesto; CAVALCANTI, Flávio de Queiroz; PIMENTEL, Ayrton. O contrato de seguro de acordo com o Código Civil Brasileiro. 3ª ed. São Paulo: Roncarati, 2016. pp. 205-226.
-338- Índice
do próprio segurado, aos terceiros prejudicados. Essa mudança contribui para afastar a ultrapassada teoria do reembolso, que condicionava o direito à indenização do seguro ao pagamento prévio pelo segurado ao terceiro prejudicado.
4. Critérios de Caracterização do Risco e Modalidades de Contratação
No Brasil, as apólices de responsabilidade civil podem adotar diferentes bases de cobertura, conforme previsto no art. 2º da Circular Susep nº 637/2021: (i) à base de ocorrência (occurrence basis); (ii) à base de reclamação (claims made basis); (iii) à base de reclamação com notificação; e (iv) à base de reclamação com primeira manifestação ou descoberta.8 As apólices à base de ocorrência são comuns nos seguros de responsabilidade civil geral. Já as apólices à base de reclamação com notificação são frequentemente utilizadas em seguros D&O, enquanto aquelas à base
8 Art. 2º da Circular Susep nº 637/2021: “Para fins desta Circular, são adotadas as seguintes definições: I - seguro de responsabilidade civil à base de ocorrências (occurrence basis): tipo de contratação em que a indenização a terceiros, pelo segurado, obedece aos seguintes requisitos: a) os danos ou o fato gerador tenham ocorrido durante o período de vigência da apólice; e b) o segurado apresente o pedido de indenização à seguradora durante a vigência da apólice ou nos prazos prescricionais em vigor; II - seguro de responsabilidade civil à base de reclamações (claims made basis): tipo de contratação em que a indenização a terceiros, pelo segurado, obedece aos seguintes requisitos: a) os danos ou o fato gerador tenham ocorrido durante o período de vigência da apólice, ou durante o período de retroatividade; e b) o terceiro apresente a reclamação ao segurado durante a vigência da apólice, ou durante o prazo adicional, conforme estabelecido no contrato de seguro; III - seguro de responsabilidade civil à base de reclamações (claims made basis) com notificações: tipo de contratação em que a indenização a terceiros obedece aos seguintes requisitos: a) os danos ou o fato gerador tenham ocorrido durante o período de vigência da apólice, ou durante o período de retroatividade; ou b) o segurado tenha notificado fatos ou circunstâncias ocorridas durante a vigência da apólice, ou durante o período de retroatividade; e c) na hipótese “a”, o terceiro apresente a reclamação ao segurado durante a vigência da apólice, ou durante o prazo adicional, conforme estabelecido na apólice; ou d) na hipótese “b”, o terceiro apresente a reclamação ao segurado durante a vigência da apólice, ou durante os prazos prescricionais legais. IV - seguro de responsabilidade civil à base de reclamações (claims made basis) com primeira manifestação ou descoberta: tipo de contratação em que a indenização a terceiros obedece aos seguintes requisitos: a) os danos ou o fato gerador tenham ocorrido durante o período de vigência da apólice, ou durante o período de retroatividade; e b) o terceiro apresente a reclamação ao segurado durante a vigência da apólice, ou durante o prazo adicional, conforme estabelecido na apólice; ou c) o segurado apresente o aviso à sociedade seguradora do sinistro por ele descoberto ou manifestado pela primeira vez durante a vigência da apólice, ou durante o prazo adicional, conforme estabelecido na apólice”.
de reclamação com primeira manifestação ou descoberta são adequadas para riscos sujeitos a longos períodos de latência, como os ambientais.
A respeito do tema, o art. 98, § 1º, da LCS dispõe: “No seguro de responsabilidade civil, o risco pode caracterizar-se pela ocorrência do fato gerador, da manifestação danosa ou da imputação de responsabilidade”. Em uma primeira leitura, conclui-se que a LCS confere respaldo legal às diferentes bases de cobertura adotadas nos seguros de responsabilidade civil, adotando um tratamento mais principiológico. Ao prever que o risco pode se caracterizar por qualquer um desses marcos, a lei reconhece a diversidade de modelos existentes, deixando os contornos operacionais para a regulação da Susep.
5. Vinculação de Colaboração e Limites à Autonomia do Segurado
A dinâmica do seguro de responsabilidade civil apresenta peculiaridades relevantes quanto à configuração do sinistro e à conduta esperada do segurado. Conforme observam Bruno Miragem e Luiza Petersen:
No seguro de responsabilidade civil, o sinistro não se apresenta de modo unívoco e imediato com as suas características definidas. Seus elementos característicos se formam e são identificados ao longo do tempo, de modo que sua plena configuração pressupõe certo período e uma sucessão de atos. Em outros termos, a ocorrência do evento danoso ao terceiro não constitui, a rigor, a concretização do risco garantido, cuja configuração pressupõe a reclamação dos danos pelo terceiro, a qual pode ou não ocorrer, e o reconhecimento da responsabilidade do segurado pela indenização ao terceiro, o que pode se dar por acordo entre o segurado e o terceiro, com anuência do segurador, ou por decisão judicial ou arbitral. Daí a particularidade da disciplina do aviso do sinistro no seguro de responsabilidade e das demais exigências, impostas ao segurado, em caso de iminência do sinistro ou de sua ocorrência parcial, ainda que sem a plena configuração de todos os seus elementos característicos.9
9 MIRAGEM, Bruno; PETERSEN, Luiza. O seguro de responsabilidade civil como
-340- Índice
Sobre os parâmetros de conduta do segurado na disciplina da LCS aplicável ao seguro de responsabilidade civil, destaca-se a vinculação geral de colaboração com a seguradora, sob pena de responder pelos prejuízos decorrentes de omissões ou da prática de atos que lhe sejam prejudiciais. Essa colaboração concretiza-se, nos termos do art. 100 da lei, por meio da pronta comunicação de quaisquer notificações que possam gerar reclamações futuras, do fornecimento de documentos e informações solicitados pela seguradora, do comparecimento a atos processuais, bem como da abstenção de condutas “em detrimento dos direitos e das pretensões da seguradora”.
Quanto a esse último ponto, embora a nova lei não proíba expressamente que o segurado reconheça sua responsabilidade, confesse a prática do ato ou celebre acordo com o terceiro prejudicado sem a anuência prévia da seguradora, como faz o art. 787, § 2º, do CC, a cláusula geral do inciso IV do art. 100 pode, em diversos contextos, conduzir a um resultado semelhante ao da disciplina atualmente praticada. Isso ocorre, em especial, quando a conduta do segurado ocasionar efetivo prejuízo à seguradora, comprometendo sua capacidade de defesa ou de controle sobre os efeitos da imputação de responsabilidade.
6. Dever de Informação da Existência e do Conteúdo do Seguro aos Terceiros Prejudicados: Alcance, Limites e Incertezas
Uma relevante novidade na LCS é a imposição, ao segurado, do dever de “empreender os melhores esforços para informar os terceiros prejudicados sobre a existência e o conteúdo do seguro contratado”, conforme previsto no art. 105. Trata-se de obrigação que, embora inspirada na legítima intenção de beneficiar os terceiros prejudicados, pode acarretar dificuldades práticas consideráveis. Em diversas situações, o segurado não tem controle sobre a forma como o terceiro interage com o seguro, tampouco sobre os meios pelos quais essa informação poderia ser transmitida de forma efetiva. Isso pode resultar em uma carga excessiva ou desproporcional, especialmente quando o segurado não possui relação direta com o terceiro ou quando o terceiro prejudicado não o procura para obter esclarecimentos ou reclamar um prejuízo.
tipo contratual. In: PRADO, Camila Affonso; MONTEIRO FILHO, Carlos Edison; SOARES, Flaviana; ROSENVALD, Nelson (Coords.). Seguros e Responsabilidade Civil. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2024. p. 56.
O desafio se intensifica quando o segurado é pessoa física ou, ainda que sendo pessoa jurídica, o evento danoso envolve múltiplos terceiros prejudicados ou uma pluralidade de responsáveis. Nesses casos, o cumprimento do dever de informação pode se mostrar operacionalmente complexo e juridicamente arriscado.
A norma, ainda que enuncie um dever, carece de densidade normativa. A única certeza que oferece é a de que a obrigação recai exclusivamente sobre o segurado. O padrão de diligência exigido – “melhores esforços” – não encontra correspondência em outras previsões da própria LCS, o que acentua a insegurança.10
Acerca da aplicação do dispositivo, permanecem em aberto questões fundamentais: qual a extensão desse dever? De que forma e em que momento ele deve ser cumprido – por exemplo, seria necessária a afixação de aviso no estabelecimento comercial, como ocorre em estacionamentos? Seria exigida a publicação de comunicado após a ocorrência do sinistro?11 Qual o nível de detalhamento necessário quanto ao conteúdo do seguro? E quais seriam as consequências jurídicas do descumprimento desse dever?
Diante dessas incertezas, é razoável supor que a matéria será objeto de uma regulação infralegal complementar, sobretudo em hipóteses de sinistros de grande escala e/ou com múltiplos potenciais lesados. Independentemente disso, deve-se recordar que a “indenização mede-se pela extensão do dano” (art. 944, caput do CC). Assim, a existência de seguro de forma alguma autoriza a majoração do valor da indenização devida
10 A LCS não adota um padrão uniforme quanto ao grau de diligência exigido do segurado. O art. 45, por exemplo, exige a observância das “regras ordinárias de conhecimento” para fins de declaração do risco acerca do que o segurado deveria saber. Já o art. 46 afasta o dever de tomar providências mitigadoras do sinistro quando isso implicar “sacrifício acima do razoável”. O art. 105, ao exigir “melhores esforços”, eleva o grau de diligência sem oferecer critérios objetivos para sua aferição.
11 Como a literalidade do artigo aponta para um dever de informar “terceiros prejudicados”, afasta-se, em princípio, a sua aplicação a terceiros que apenas potencialmente venham a ser prejudicados. Assim, defende-se que ela não exige, por exemplo, que todo comércio que contrate seguro de responsabilidade civil afixe aviso ao público informando a existência da apólice. No caso do seguro de RC Cibernético, inclusive, a divulgação prévia dessa informação poderia ser contraproducente, ao representar um incentivo a ataques maliciosos, como os de ransomware.
-342- Índice
pelo segurado ao terceiro lesado, tampouco sua limitação ao valor da cobertura contratada. Havendo pagamento parcial pela seguradora, o saldo remanescente permanece de responsabilidade do causador do dano.12
7. Legitimidade Ativa do Terceiro e Litisconsórcio
Nos termos do art. 101 da LCS, quando a pretensão do terceiro prejudicado for dirigida exclusivamente contra o segurado, este deve comunicar a seguradora tão logo seja citado, além de disponibilizar os elementos necessários para o seu adequado conhecimento do processo. Trata-se de uma obrigação de cooperação processual, que visa a preservar os direitos da seguradora e oportunizar o pleno exercício de sua defesa. O dispositivo também confere ao segurado a faculdade de chamar a seguradora a integrar o processo,13 como litisconsorte, sem que isso implique solidariedade entre as partes.
O art. 102 da lei, por sua vez, permite que o terceiro prejudicado promova ação direta contra a seguradora, desde que com a formação de litisconsórcio passivo com o segurado. A regra, em grande medida, consagra entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletido na Súmula nº 529, e busca assegurar tanto o devido processo legal quanto a ampla defesa da seguradora e do próprio segurado.14 A única exceção legal ocorre quando o segurado
12 Ainda que a LCS não preveja disposição equivalente ao art. 787, § 4º, do CC – que estabelece a subsistência da responsabilidade do segurado perante o terceiro, no caso de insolvência do segurador –, não há dúvida de que tal responsabilidade permanece inalterada. A ausência de reprodução do referido dispositivo não afasta, portanto, os efeitos jurídicos decorrentes da atuação do segurado como causador do dano. De todo modo, diante da atuação fiscalizatória da Susep no monitoramento da solvência das seguradoras, trata-se de cenário de baixa probabilidade de concretização no Brasil.
13 Sobre a qualificação dessa hipótese como “chamamento ao processo e não de denunciação da lide”, consulte-se: MELO, Gustavo de Medeiros. O chamamento da seguradora ao processo na nova Lei de Seguros. Disponível em: https://www.conjur. com.br/2025-mai-01/o-chamamento-da-seguradora-ao-processo-na-nova-lei-de-seguros/. Acesso em: 17.06.2025.
14 Aprovada em 2015, a súmula nº 529 do STJ dispõe: “No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano”. Essa linha de raciocínio é mais antiga, conforme demonstra o seguinte leading case: “1.
não possuir domicílio no Brasil, hipótese em que o litisconsórcio é dispensado, em nome da celeridade e da efetividade da tutela do terceiro.
8. Oposição de Defesas pela Seguradora ao Terceiro Prejudicado
Seja na fase extrajudicial – no âmbito da regulação do sinistro –, seja na esfera judicial, a seguradora deve analisar com diligência a reclamação apresentada pelo terceiro prejudicado. Essa análise poderá ocorrer em diferentes contextos, tais como: (i) após o ajuizamento de ação de cobrança contra o segurado, desde que este tenha comunicado o sinistro à seguradora; ou (ii) diretamente em ação que tenha o segurado e a seguradora como réus.
Nessas hipóteses, cabe à seguradora avaliar a procedência da pretensão do terceiro, à luz das condições contratuais pactuadas na apólice e do ordenamento jurídico aplicável.
A esse respeito, os artigos 103 e 104 da LCS disciplinam as defesas que podem ser opostas pela seguradora ao terceiro prejudicado.
O art. 103 permite à seguradora, salvo disposição legal em contrário, opor ao terceiro prejudicado as defesas fundadas no contrato de seguro, desde que anteriores à ocorrência do sinistro.15 Entre essas defesas,
Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Descabe ação do terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente em face da Seguradora do apontado causador do dano. 1.2. No seguro de responsabilidade civil facultativo a obrigação da Seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado, a qual, de regra, não poderá ser reconhecida em demanda na qual este não interveio, sob pena de vulneração do devido processo legal e da ampla defesa. 2. Recurso especial não provido”. STJ, REsp 962.230/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, jul. 08.02.2012, DJe 20/4/2012.
15 Há semelhante norma na Lei do Contrato de Seguro de Portugal, conforme prevê o artigo 147 do Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril: “Meios de defesa. 1 - O segurador apenas pode opor ao lesado os meios de defesa derivados do contrato de seguro ou de facto do tomador do seguro ou do segurado ocorrido anteriormente ao sinistro. 2 - Para efeito do número anterior, são nomeadamente oponíveis ao lesado, como meios de defesa do segurador, a invalidade do contrato, as condições contratuais e a cessação do contrato”. Conquanto inserido em uma subseção dedicada às disposições especiais do seguro obrigatório de responsabilidade civil, ao menos uma parcela da doutrina lusitana defende a aplicabilidade desse artigo também aos seguros facultativos de responsabilidade civil (cfr. VASQUES, José. Anotação ao art.
-344- Índice
incluem-se: exclusões de cobertura, limites de garantia, franquias, e o descumprimento de deveres contratuais por parte do segurado, tais como o inadimplemento do prêmio, o agravamento do risco, a causação dolosa do sinistro e a omissão de informações relevantes na fase pré-contratual. Tais hipóteses, se aplicáveis ao caso concreto, afastam a obrigação da seguradora de indenizar o terceiro, mas não exoneram o segurado da responsabilidade civil que lhe é atribuída pela causação do dano. Em outras palavras, a negativa da cobertura securitária não impede que o terceiro continue tendo direito à reparação, que poderá ser exigida do segurado.
Já o art. 104 da lei autoriza a apresentação de defesas que não derivem diretamente do contrato de seguro, e que podem ser anteriores ou posteriores ao sinistro. Trata-se de fundamentos de ordem jurídica geral, como a ilegitimidade de parte, a prescrição, a inexistência de dano ou de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, entre outros. Caso seja reconhecida a procedência de alguma dessas defesas, tanto a seguradora quanto o segurado estarão exonerados do dever de indenizar o terceiro prejudicado.
A distinção é relevante para evitar a utilização de argumentos contratuais em princípio inoponíveis ao terceiro, porquanto posteriores ao sinistro (ex. a mora no aviso do sinistro), ao mesmo tempo em que preserva o direito da seguradora de se defender de pretensões que extrapolem os limites do seguro ou que sejam juridicamente infundadas.
Um ponto que merece maior atenção – e que tem sido negligenciado – é o impacto do art. 103 da LCS sobre a jurisprudência do STJ, que, em determinadas hipóteses, afasta a oponibilidade do agravamento do risco ao terceiro prejudicado no seguro de responsabilidade civil. Um exemplo emblemático é o da condução de veículo pelo segurado sob efeito de álcool, visto que, de acordo com a referida Corte, “solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco”.16
147. In: MARTINEZ, Pedro Romano et al. Lei do Contrato de Seguro Anotada. 2.ª ed. Coimbra: Almedina, 2011, p. 496).
16 STJ, REsp 1.738.247/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, jul. 27.11.2018, DJe 10.12.2018.
Essa tese da “ineficácia das cláusulas restritivas perante terceiros” compromete o equilíbrio da relação contratual entre seguradora e segurado. Se aplicada de forma ampla, acabaria por impor à seguradora o dever de indenizar mesmo nos casos em que o segurado descumpriu obrigações essenciais do contrato. Essa distorção não se justifica especialmente quando o segurado não se encontra em situação de insolvência, pois, nesses casos, o ressarcimento da vítima pode ser plenamente viabilizado pelo próprio causador do dano, independentemente da atuação da seguradora.
Se prevalecer o entendimento de que a seguradora deve indenizar o terceiro mesmo nos casos de agravamento do risco – com fundamento na suposta inoponibilidade das cláusulas contratuais ao terceiro prejudicado nos seguros de responsabilidade civil –, é juridicamente razoável admitir, como contrapartida, a sub-rogação da seguradora nos direitos do terceiro contra o segurado que deu causa à perda da cobertura (art. 346, inc. III, do Código Civil). Essa solução preserva a coerência interna do contrato de seguro, respeita os deveres de conduta do segurado e impede que o seguro de responsabilidade civil se converta, na prática, em uma garantia automática e irrestrita, independentemente do comportamento do segurado. 17
9. Possibilidade de Celebração de Acordo da Seguradora com o Terceiro Prejudicado
Em disposição inovadora, o art. 106 da LCS estabelece: “Salvo disposição em contrário, a seguradora poderá celebrar transação com os prejudicados, o que não implicará o reconhecimento de responsabilidade do segurado nem prejudicará aqueles a quem é imputada a responsabilidade”.
Trata-se de norma que, ao mesmo tempo em que amplia a autonomia da seguradora na condução da resolução do sinistro, busca preservar os direitos do segurado e o equilíbrio da relação triangular entre seguradora, segurado e terceiro prejudicado. A lei autoriza, como regra, a celebração, pela seguradora, de acordos diretamente com os terceiros, sem que isso implique confissão de
17 Não se ignora que, por razões comerciais ou estratégicas, a seguradora poderá optar por não exercer o direito de regresso contra o segurado, mesmo tendo efetuado o pagamento da indenização ao terceiro prejudicado.
-346- Índice
responsabilidade por parte do s egurado, tampouco configure prejuízo a outros coobrigados. 18
Antes da promulgação da LCS, era comum que as condições contratuais previssem cláusula dispondo que, caso o segurado recusasse acordo recomendado pela seguradora e aceito pelo terceiro, a responsabilidade da seguradora se limitaria ao valor que teria sido pago se o acordo houvesse sido firmado. Um exemplo típico desse tipo de cláusula é o seguinte: “Na hipótese de o Segurado recusar acordo recomendado pela Seguradora e aceito pelo terceiro prejudicado, fica desde já estipulado que a Seguradora não responderá por quantias que excedam aquela pela qual o sinistro seria liquidado com base naquele entendimento”.
O art. 106, embora não afaste a validade de tais previsões contratuais, introduz importante inovação ao conferir legitimidade direta à seguradora para firmar acordos com terceiros. A norma elimina dúvidas quanto à possibilidade jurídica de transação direta entre seguradora e lesado, mesmo sem o consentimento do segurado – desde que não haja disposição contratual em sentido contrário.
Essa inovação, contudo, não é isenta de controvérsias. A autorização legal para que a seguradora transacione diretamente com o terceiro pode gerar tensão com o princípio da autonomia privada do segurado, sobretudo em situações em que haja interesses reputacionais e/ou estratégicos envolvidos na condução da defesa. Ainda que o dispositivo afirme que o acordo não implicará reconhecimento de responsabilidade do segurado, os efeitos práticos da transação podem, em alguns casos, refletir negativamente sobre ele, inclusive, no limite, em eventuais ações regressivas entre coobrigados.
Nessas circunstâncias, o princípio da boa-fé objetiva impõe que a seguradora comunique previamente ao segurado sua intenção de transacionar com o terceiro, concedendo-lhe um prazo para se manifestar antes da efetivação do acordo. Essa medida busca compatibilizar a nova prerrogativa legal com os deveres de lealdade, cooperação e transparência inerentes à relação contratual de seguro.
18 Qualificada como transação, a relação contratual estabelecida entre a seguradora e o terceiro prejudicado observará o disposto nos arts. 840 a 850 do CC.
Por fim, vale destacar que a própria norma admite convenção em sentido diverso, permitindo que o contrato restrinja ou condicione essa faculdade da seguradora. Isso reforça a necessidade de atenção pelo candidato a segurado à redação das condições contratuais no momento da negociação do seguro.
10. Pluralidade de Terceiros Prejudicados e Prestação das Indenizações pela Seguradora
O art. 107 da LCS trata da hipótese de pluralidade de terceiros prejudicados por um mesmo evento. A norma, aparentemente influenciada pela Lei de Contrato de Seguro de Portugal,19 estabelece que a seguradora se libera de suas obrigações com o pagamento integral da importância segurada a um ou mais desses prejudicados, desde que não tenha conhecimento da existência dos demais.
A solução legal pretende mitigar distorções que podem decorrer da concentração da indenização em poucos titulares, como ocorre, por vezes, na lógica first come, first served, especialmente quando há múltiplos prejudicados. No entanto, a expressão legal “sempre que ignorar a existência dos demais” pode ensejar desafios práticos, sobretudo quanto à caracterização dessa ignorância como fator legitimador.
Nesse contexto, importa observar que a seguradora, ao contrário do segurado, não está sujeita ao dever de “empreender os melhores esforços para informar os terceiros prejudicados sobre a existência e o conteúdo do seguro contratado” (art. 105 da LCS). Tampouco lhe é imposto, como regra, diligenciar para identificar proativamente outros eventuais prejudicados além daqueles que apresentarem reclamação de forma tempestiva. Essa delimitação de responsabilidades tende a favorecer maior agilidade operacional e segurança jurídica à liquidação dos sinistros.
Por outro lado, para que a seguradora possa efetivamente se desonerar mediante o pagamento integral da importância segurada, será ne-
19 Artigo 142 do Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril: “Pluralidade de lesados. 1 - Se o segurado responder perante vários lesados e o valor total das indemnizações ultrapassar o capital seguro, as pretensões destes são proporcionalmente reduzidas até à concorrência desse capital. 2 - O segurador que, de boa fé e por desconhecimento de outras pretensões, efectuar o pagamento de indemnizações de valor superior ao que resultar do disposto no número anterior, fica liberado para com os outros lesados pelo que exceder o capital seguro”.
-348- Índice
cessário adotar cautelas adicionais. Caberá à doutrina e à jurisprudência delimitar com maior precisão o que se entende por ignorância escusável, bem como definir se, e em que medida, a seguradora deverá aguardar a manifestação de terceiros prejudicados cuja existência seja conhecida, mas que ainda não tenham sido formalmente identificados ou qualificados. Essa análise deverá considerar os exíguos prazos para regulação e liquidação do sinistro previstos na própria LCS (arts. 86 e 87).
Em situações envolvendo sinistros de grande repercussão ou danos coletivos, a atuação da Susep poderá ser pertinente para possibilitar que os valores indenitários sejam distribuídos de forma proporcional ou adequada, eventualmente até mesmo estabelecendo prazos claros dentro dos quais os terceiros prejudicados poderão se apresentar para solicitar sua parcela na indenização securitária.
11. Acessórios Legais da Indenização no Seguro de Responsabilidade Civil
O art. 99 da Lei nº 15.040/2024 estabelece que “a indenização compreende os mesmos acessórios legais incidentes sobre a dívida do responsável” .
A previsão legal consolida entendimento segundo o qual a obrigação da seguradora deve acompanhar, na medida do limite contratado, a integralidade dos encargos legais decorrentes da responsabilidade civil imputada ao segurado.
A regra confere maior efetividade à cobertura securitária, ao assegurar que a indenização abranja não apenas o valor principal da obrigação de reparar, mas também os acessórios legais normalmente incidentes sobre ela – como juros de mora, correção monetária, custas processuais e honorários de sucumbência.
Trata-se de dispositivo que a um só tempo fortalece a proteção do segurado, ao evitar que seja pessoalmente onerado por encargos adicionais relacionados ao mesmo sinistro, e a do terceiro prejudicado, ao ampliar as chances de integral adimplemento da obrigação de indenizar.
A aplicação do art. 99, contudo, deve ser compatibilizada com os limites de garantia contratados, os sublimites eventualmente estipulados para despesas de defesa e demais cláusulas que estabeleçam restrições válidas.
12. Conclusão
A inserção de uma disciplina específica para o seguro de responsabilidade civil na Lei do Contrato de Seguro representa uma mudança normativa relevante – que terá impactos no estudo e na compreensão do próprio instituto da responsabilidade civil no Brasil.20 Parte dos dispositivos reflete práticas consolidadas no mercado brasileiro, enquanto outros introduzem comandos que suscitam incertezas interpretativas e podem gerar zonas de atrito na relação entre segurado, seguradora e terceiro prejudicado.
Não se trata, propriamente, de uma ruptura com o regime anterior, mas de um redesenho que exigirá esforço hermenêutico consistente, especialmente diante da abertura conceitual de algumas normas e da convivência com disposições de outras leis e atos normativos.
Mais do que trazer soluções definitivas, a nova legislação inaugura uma fase de transição com desafios práticos e jurídicos. A resposta de seguradoras, segurados e intérpretes do direito a esses desafios será determinante para o amadurecimento do novo regime, aplicável aos contratos firmados ou renovados a partir de 11 de dezembro de 2025.
Bibliografia
ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Imputação de culpa grave em contrato de seguro no âmbito dos grupos de sociedade. In: GOLDBERG, Ilan; JUNQUEIRA, Thiago (Coords.). Temas atuais de direito dos seguros. Tomo I. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.
CLARKE, Malcolm A. The law of liability insurance. 2. ed. London: Informa Law from Routledge, 2017.
GOLDBERG, Ilan. Comentários ao art. 787 do Código Civil. In: GOLDBERG, Ilan; JUNQUEIRA, Thiago (Coords.). Direito dos seguros: comentários ao Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2023.
20 Sobre a “interferencia recíproca de la evolución de la responsabilidade civil y su seguro”, confira-se SÁNCHEZ CALERO, Fernando. Anotación art. 73. In: SÁNCHEZ CALERO, Fernando (Dir.). Ley de Contrato de Seguro: Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, y a sus modificaciones. 4ª ed. Navarra: Aranzadi, 2010. pp. 1594-1602.
-350- Índice
JUNQUEIRA, Thiago. Seguro de responsabilidade civil na Lei do Contrato de Seguro – Parte 1. Disponível em: https://www.editoraroncarati.com.br/v2/Artigos-e-Noticias/Artigos-e-Noticias/Seguro-de-Responsabilidade-Civil-na-Lei-do-Contrato-de-Seguro-%E2%80%93-Parte-1.html. Acesso em: 29 jun. 2025.
JUNQUEIRA, Thiago. Seguro de responsabilidade civil na Lei do Contrato de Seguro – Parte 2. Disponível em: https://www.editoraroncarati.com.br/v2/Artigos-e-Noticias/Artigos-e-Noticias/Seguro-de-Responsabilidade-Civil-na-Lei-do-Contrato-de-Seguro-%E2%80%93-Parte-2.html. Acesso em: 29 jun. 2025.
MELO, Gustavo de Medeiros. O chamamento da seguradora ao processo na nova Lei de Seguros. Disponível em: https://www.conjur. com.br/2025-mai-01/o-chamamento-da-seguradora-ao-processo-na-nova-lei-de-seguros/. Acesso em: 17 jun. 2025.
MIRAGEM, Bruno; PETERSEN, Luiza. O seguro de responsabilidade civil como tipo contratual. In: PRADO, Camila Affonso; MONTEIRO FILHO, Carlos Edison; SOARES, Flaviana; ROSENVALD, Nelson (Coords.). Seguros e responsabilidade civil. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2024.
POLIDO, Walter A. Seguros de responsabilidade civil: manual prático e teórico. Curitiba: Juruá, 2013.
PRADO, Camila Affonso; PELEGRINI, Laura. Atual panorama dos seguros de responsabilidade civil no Brasil. In: PRADO, Camila Affonso; MONTEIRO FILHO, Carlos Edison; SOARES, Flaviana; ROSENVALD, Nelson (Coords.). Seguros e responsabilidade civil. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2024.
SÁNCHEZ CALERO, Fernando. Anotación art. 73. In: SÁNCHEZ CALERO, Fernando (Dir.). Ley de Contrato de Seguro: comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, y a sus modificaciones. 4. ed. Navarra: Aranzadi, 2010.
TZIRULNIK, Ernesto; CAVALCANTI, Flávio de Queiroz; PIMENTEL, Ayrton. O contrato de seguro de acordo com o Código Civil Brasileiro. 3ª ed. São Paulo: Roncarati, 2016.
VASQUES, José. Anotação ao art. 147. In: MARTINEZ, Pedro Romano et al. Lei do contrato de seguro anotada. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2011.
Seguros de Dano na Nova Lei de Seguros
Victor Augusto Benes Senhora1
Resumo: Este trabalho analisa os seguros de dano à luz dos dispositivos da Lei n.º 15.040/2024 que versam sobre esse contrato. A abordagem concentra-se na interpretação da Seção I e da Seção II do Capítulo II da referida norma, com o objetivo de identificar os direcionamentos legais propostos pelo legislador ao setor segurador. Inicialmente, são examinados o conceito, o objetivo, a natureza jurídica e o requisito de validade dos seguros de dano. A partir desse referencial teórico, aprofunda-se a análise do princípio indenitário e das hipóteses de aplicação da cláusula de rateio. Na sequência, o estudo se dedica à análise da sub-rogação do segurador nos direitos do segurado, no tocante ao valor da indenização paga, seja pela aquisição do salvado, seja pela busca de ressarcimento frente a terceiros responsáveis pelo dano. Por fim, o trabalho examina o seguro de responsabilidade civil, tratado pelo legislador dentro do Capítulo relativo aos seguros de dano. Ainda que esse tipo de cobertura não se enquadre, em sentido estrito, como um seguro patrimonial clássico — como o de propriedade —, sua inserção nesse capítulo sugere uma aproximação funcional que merece destaque e interpretação à luz da nova legislação.
Abstract: This paper analyzes damage insurance in light of the provisions of Law No. 15,040/2024 that address this type of conctrat . The focus lies on interpreting Sections I and II of Chapter II of the aforementioned statute, with the aim of identifying the legal guidelines proposed by the legislator for the insurance sector. The study begins by examining the concept, purpose, legal nature, and validity requirements of damage insurance. Based on this theoretical framework, the analysis delves into the indemnity principle and the scenarios in which the average clause (cláusula de rateio) applies. Subsequently, the paper turns to the insurer’s subrogation rights regarding the indemnity paid — whether through the acquisition of salvage or through the pursuit of reimbursement from third parties liable for the damage. Finally, the study explores civil liability insurance, addressed by the legislator within the chapter on damage insurance. Although this type of coverage does not, strictly speaking, qualify as traditional property insurance, its inclusion in this section suggests a functional approximation that warrants attention and interpretation under the new legislation.
1 Advogado. Mestre em Direito, Justiça e Desenvolvimento (IDP-SP). Especialista em direito de seguro e resseguro (FGV-SP) e Universidade Nova de Lisboa. Pós-graduado em Processo Civil (PUC-SP). Professor da Escola de Negócios e Seguros. Diretor Acadêmico da AIDA BRASIL (2024-2026). Presidente do Conselho Fiscal da OABPrevSP. Sócio do escritório JAB Advogados
-352- Índice
Palavras-chave: Seguros, Dano, Lei 15.040/2024, Rateio, sub-rogação, Responsabilidade civil
Keywords: Insurance, Damage, Law 15,040/2024, Average clause, Subrogation, Civil liability.
Sumário – 1. Introdução; 2. Conceito, objetivo, natureza jurídica e validade dos seguros de dano; 3. Do princípio indenitário aplicável aos seguros de dano. 4. Do rateio como fator de fixação do valor da indenização. 5. O direito do segurador em recompor o fundo mutual nos sinistros de dano. 6. Seguro de responsabilidade civil e sua função à luz da LCS. 7. Conclusão. 8. Referências Bibliográficas.
1. Introdução
Os seguros de dano remontam à própria origem do contrato de seguro como relevante instrumento de proteção econômica diante dos riscos aos quais a sociedade está cotidianamente exposta. Essa modalidade desempenha papel de destaque no desenvolvimento econômico e social, dada sua capacidade de reparar prejuízos e manter economicamente ativas as pessoas afetadas por eventos adversos.
A pedra de toque dos seguros de dano é o princípio indenitário, que tem por escopo reparar o dano efetivamente sofrido pelo segurado, sem, entretanto, possibilitar qualquer espécie de lucro decorrente do sinistro. A indenização, portanto, jamais poderá exceder o valor da perda, sob pena de violação à natureza compensatória do contrato.
Desde o Código Civil de 1916, o ordenamento jurídico brasileiro contempla dispositivos que asseguram a higidez desse princípio, o que, por consequência, garante a viabilidade técnica e atuarial do contrato de seguro de dano.
Contudo, a indenização nem sempre corresponderá integralmente ao prejuízo sofrido, uma vez que pode variar conforme as condições contratuais, o valor em risco declarado na apólice, o limite máximo indenizável ajustado com a seguradora e outros elementos considerados na subscrição do risco e na precificação do seguro.
Com a entrada em vigor da Lei n.º 15.040/2024, conhecida como Lei do Contrato de Seguro (LCS), os seguros de dano passaram a estar disciplinados nos artigos 89 a 111, no Capítulo II, distribuídos em
três seções: Seção I – Disposições Gerais, Seção II – Do Seguro de Responsabilidade Civil e Seção III – Da Transferência do Interesse.
Diante dessas características, o presente artigo se concentrará na análise das Seções I e II do Capítulo II da LCS, com o objetivo de examinar os principais elementos jurídicos dos seguros de dano, à luz da nova legislação, bem como identificar os impactos práticos e os desafios interpretativos que sua aplicação poderá suscitar, considerando a doutrina, a jurisprudência e os atos regulatórios atualmente em vigor.
2. Conceito, Objetivo, Natureza Jurídica e Validade dos Seguros de Dano
O contrato de seguro de dano tem por finalidade tornar indene o patrimônio material do segurado afetado pela ocorrência de um sinistro. Trata-se, portanto, de modalidade contratual distinta do seguro de pessoa — como o seguro de vida e o seguro por invalidez — cuja indenização é desvinculada de um dano patrimonial específico, conforme estabelece o art. 789 do Código Civil2 e, mais recentemente, o art. 112 da Lei do Contrato de Seguro (LCS) 3 .
Nos seguros de dano, a proteção recai sobre o interesse do segurado relacionado a bens materiais, direitos ou obrigações suscetíveis aos riscos a que está exposto. Esses riscos podem causar prejuízos patrimoniais a tais bens, valores ou interesses econômicos — próprios ou de terceiros.
A título ilustrativo, podem ser citadas as apólices de seguro patrimonial, que garantem a proteção de imóveis e outros bens contra eventos como incêndio, raio e explosão. Outro exemplo clássico é o seguro de automóvel, que ampara o interesse do segurado em face de colisão, furto ou roubo do veículo. Ainda, os seguros de responsabili-
2 Art. 789. Nos seguros de pessoas, o capital segurado é livremente estipulado pelo proponente, que pode contratar mais de um seguro sobre o mesmo interesse, com o mesmo ou diversos seguradores.
3 Art. 112. Nos seguros sobre a vida e a integridade física, o capital segurado é livremente estipulado pelo proponente, que pode contratar mais de um seguro sobre o mesmo interesse, com a mesma ou com diversas seguradoras.
-354- Índice
dade civil facultativa, em suas diversas modalidades, têm como finalidade proteger o patrimônio do segurado caso este venha a ser obrigado a indenizar terceiros por danos causados a estes.
Nesse contexto, a função econômica dos seguros de dano é compensar financeiramente a perda patrimonial do segurado ou de terceiros, visando, na medida do possível, à recomposição da situação econômico-patrimonial anterior ao sinistro.
Por sua vez, sua função social consiste em promover estabilidade econômica, viabilizando a continuidade das atividades desenvolvidas pelos agentes, especialmente em tempos de riscos agravados por fatores como inovações tecnológicas, mudanças climáticas, aumento da urbanização e, no campo, a expansão da atividade agropecuária.
A natureza jurídica do contrato de seguro de dano é a de um contrato bilateral, por envolver obrigações recíprocas; oneroso, em razão do pagamento do prêmio em troca da cobertura oferecida; consensual, por se aperfeiçoar com o acordo de vontades; de adesão, na maior parte das vezes, pois suas cláusulas são previamente estipuladas pela seguradora; e aleatório4, uma vez que a obrigação do segurador depende da ocorrência incerta e futura do sinistro, ou seja, da concretização do risco.
A validade dessa espécie contratual exige a existência de interesse legítimo do segurado sobre o bem ou interesse objeto da cobertura,
4 Não se desconhece a existência de corrente doutrinária que entende o contrato de seguro como sendo comutativo, onde as partes conhecem previamente suas obrigações; no caso do segurado sua obrigação primeira seria a de pagar o prêmio e da seguradora a de oferecer imediatamente a garantia. A exemplo dessa visão cita-se: ‘É importante frisar que o ser de garantia a obrigação a cargo do segurador implica a natureza comutativa do contrato de seguro; desde o estabelecimento do vínculo, contra o pagamento do prêmio pelo segurado, o segurador, imediatamente, passa a dever-lhe e, continuadamente, prestar-lhe garantia. [...] O segurador necessariamente se vincula simultânea e sucessivamente a uma grande quantidade de segurados, sem o que a operação do seguro será impossível. [TZIRULNIK, Ernesto. Regulação de Sinistro (ensaio jurídico), São Paulo: Editora Max Limonad, 2001, p. 56 e seguintes).
conforme estabelece o art. 757 do Código Civil5, reproduzido pelo art. 1º da LCS6.
Sob essa perspectiva, o seguro de dano busca proteger o agente de boa-fé, que visa resguardar objeto lícito contra eventuais perdas materiais decorrentes de fato futuro e alheio à sua vontade7. Nesse sentido, como bem destaca GRAVINA8, o “interesse atua como princípio jurídico do contrato de seguro, no sentido de ser um contrato causal, dependente de uma causa lícita que lhe dê origem, pressuposto legal da contratação”.
3. Do Princípio Indenitário Aplicável aos Seguros de Dano
O princípio norteador dos contratos de seguro de dano é o chamado princípio indenitário, que pressupõe que a indenização deve observar, de forma rigorosa, os exatos limites do prejuízo efetivamente suportado pelo segurado9.
5 Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
6 Art. 1º Pelo contrato de seguro, a seguradora obriga-se, mediante o pagamento do prêmio equivalente, a garantir interesse legítimo do segurado ou do beneficiário contra riscos predeterminados.
7 SENHORA, Victor Augusto Benes. A doença preexistente no seguro de vida. Análise da Súmula 609 do STJ à luz do Direito & Economia, São Paulo: Roncaratti, 2024, p. 41.
8 GRAVINA, Maurício Salomoni. Princípios Jurídicos do Contrato de Seguro. 2ª edição ver. e atual, Rio de Janeiro: ENS-CPES, 2018, p. 53.
9 ‘[...] permeia o conceito de seguro de dano o chamado princípio indenitário segundo o qual, em síntese, a cobertura securitária deve se restringir ao ressarcimento do valor do prejuízo efetivamente experimentado pelo segurado, com o sinistro havido. Trata-se da referência central do ajuste: a indenização. Em diversos termos, quer-se evitar que o seguro possa ser fonte de enriquecimento do segurado, de modo a colocá-lo em situação melhor da que teria se o sinistro, contra o qual se garante seu interesse, não estivesse sucedido. [...] A ideia, enfim, é a de que o seguro se preste tão somente à recomposição, e não ao fomento do patrimônio do segurado, desfalcado pelo sinistro [...]’. [GODOY, Claudio Luiz Bueno de; PELUSO, Cézar, coord. Código Civil Comentado, Doutrina e Jurisprudência, Barueri: Manole, 2007, p. 649.
-356- Índice
O contrato de seguro não admite a obtenção de lucro com o sinistro, afastado, assim, o enriquecimento sem causa. Há uma justificativa lógica sólida para que tanto o valor da garantia contratada quanto o valor da indenização a ser paga não superem, respectivamente, o valor do interesse segurado no momento da contratação nem o do evento danoso. Tal lógica visa prevenir comportamentos especulativos, evitando que o segurado tenha incentivos para provocar, facilitar ou “torcer” pela ocorrência do sinistro.
A legislação brasileira consagra essa regra nos arts. 77810 e 78111 do Código Civil, e no art. 8912 da LCS, em consonância com o direito comparado — como o Código de Seguros Francês13, e as legislações portuguesa14, espanhola15 e chilena16, entre outras.
10 Art. 778. Nos seguros de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato, sob pena do disposto no art. 766, e sem prejuízo da ação penal que no caso couber.
11 Art. 781. A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador.
12 Art. 89. Os valores da garantia e da indenização não poderão superar o valor do interesse, ressalvadas as exceções previstas nesta Lei.
13 Article L121-1 - L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
14 Art. 130º - Seguro de coisas – 1. No seguro de coisas, o dano a atender para determinar a prestação devida pelo segurador é o do valor do interesse seguro ao tempo do sinistro.
15 Artículo veintiséis. El seguro no puede ser objeto de enriquecimiento injusto para el asegurado. Para la determinación del daño se atenderá al valor del interés asegurado en el momento inmediatamente anterior a la realización del siniestro.
16 Art. 552. [...] En los seguros patrimoniales la indemnización no podrá exceder, dentro de los límites de la convención, del menoscabo que sufra el patrimonio del asegurado como consecuencia del siniestro.
Partindo dessa premissa, quando o art. 89 da LCS estabelece que os valores da garantia e da indenização não poderão ultrapassar o valor do interesse segurado, é fundamental compreender o que se entende por “valor do interesse” em duas fases distintas: no momento da contratação e no momento do sinistro.
No que se refere ao valor da garantia contratual, este está vinculado ao tempo da contratação. Nos seguros de propriedade, por exemplo, esse valor corresponde ao chamado Valor em Risco Declarado (VRD), ou seja, à quantificação monetária dos bens ou interesses seguráveis localizados no local do risco, informado pelo segurado à seguradora.
Já nos seguros de responsabilidade civil, a estimativa do valor do interesse não é objetiva, pois não é possível dimensionar com exatidão os eventuais danos que poderão ser causados a terceiros. Assim, o valor da garantia é definido por meio de livre negociação entre as partes, com base em parâmetros de razoabilidade, risco e prática do mercado.
Com base nesses elementos, a seguradora estabelece na apólice o chamado Limite Máximo de Indenização (LMI), que representa o teto da obrigação indenizatória da seguradora, conforme previsto no art. 90 da LCS17. Ainda que o prejuízo venha a ser superior, a seguradora não estará obrigada a pagar além do LMI18.
Por outro lado, o valor da indenização está relacionado ao tempo da ocorrência do sinistro e refere-se à quantificação dos danos efetivamente apurados no processo de regulação do sinistro19, realizado pela
17 Art. 90. A indenização não poderá exceder o valor da garantia, ainda que o valor do interesse lhe seja superior.
18 ‘[...] a indenização a ser recebida pelo segurado, no caso da consumação do risco provocador do sinistro, deve corresponder ao real prejuízo do interesse segurado. Há de ser apurado por perícia técnica o alcance do dano. O limite máximo é o da garantia fixada na apólice. Se os prejuízos forem menores do que o limite máximo fixado na apólice, o segurador só está obrigado a pagar o que realmente aconteceu [...]’. [DELGADO, José Augusto. Comentários ao novo Código Civil, Volume XI: das várias espécies de contrato de seguro, Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 456]
19 ‘A regulação do sinistro integra a fase de execução do contrato de seguro. Constitui etapa contratual voltada ao adimplemento, que se desenvolve para que seja determi-
Índice
-358-
seguradora com a cooperação do segurado. A indenização será devida apenas se o evento estiver coberto, sempre observando o LMI e o valor real do prejuízo.
Ainda em respeito ao princípio indenitário, a LCS trata do chamado seguro cumulativo no art. 3620, disciplinando a hipótese em que o segurado contrata mais de um seguro de dano sobre o mesmo interesse, conforme também já previsto no art. 782 do Código Civil21.
Na prática securitária, essa situação é regulada pela chamada cláusula de concorrência de apólices, cujo objetivo é evitar que o segurado receba múltiplas indenizações pelo mesmo prejuízo. A lei impõe ao segurado o dever de informar a existência de outras apólices sobre o mesmo bem, justamente para garantir que todos os seguradores sejam devidamente cientificados.
A finalidade dessa regra é prevenir o risco moral (moral hazard) e reforçar o princípio de que o seguro não pode ser instrumento de lucro. Assim, os seguradores, ao serem informados da existência de apólices concorrentes, procederão à liquidação do sinistro proporcionalmente, de forma que a soma das indenizações não ultrapasse o valor do interesse segurado, assegurando a integridade técnica e econômica do princípio indenitário.
nada a existência de cobertura para os fatos narrados no aviso de sinistro e sua extensão, com a mensuração do valor a indenizar ou do capital segurado a ser pago. [...] (ainda que esta seja mais própria da liquidação do sinistro, se tomada em destaque, como fase subsequente)’. [MIRAGEM, Bruno; PETERSEN, Luiza. Regulação do sinistro: pressupostos e efeitos na execução do contrato de seguro. Revista dos Tribunais. vol. 1025. ano 110. p. 291-324. São Paulo: Ed. RT, março 2021. Disponível em: 019-regulacao-do-sinistro-pressupostos-e-efeitos-na-execucao-do-contrato-de-seguro.pdf. Acesso em: 21.07.2025.
20 Art. 36. Ocorre seguro cumulativo quando a distribuição entre várias seguradoras for feita pelo segurado ou pelo estipulante por força de contratações independentes, sem limitação a uma cota de garantia.
21 Art. 782. O segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre o mesmo interesse, e contra o mesmo risco junto a outro segurador, deve previamente comunicar sua intenção por escrito ao primeiro, indicando a soma por que pretende segurar-se, a fim de se comprovar a obediência ao disposto no art. 778.
Em síntese, a LCS fortalece o princípio indenitário, conferindo-lhe efetiva segurança jurídica e estabilidade técnica, especialmente ao reafirmar que a seguradora, em nenhuma hipótese, responderá além do LMI, “ressalvadas as exceções previstas nesta Lei”22 .
4. Do Rateio como Fator de Fixação do Valor da Indenização
O rateio é uma disposição legal, normalmente prevista nas condições contratuais, segundo a qual o segurado assume um percentual proporcional da indenização em caso de sinistro parcial, sempre que o valor em risco por ele declarado for inferior ao apurado pela seguradora no momento do evento danoso23.
Essa situação caracteriza o chamado infraseguro, hipótese em que o segurado ou tomador do seguro declara um valor de risco inferior ao real, implicando, em caso de sinistro, na obrigação de arcar com parte proporcional dos prejuízos, correspondente à diferença entre o valor declarado e aquele efetivamente apurado por ocasião do sinistro24.
22 Dentre essas exceções, destacam-se: O §5º do art. 67, que trata das despesas com medidas de contenção ou salvamento recomendadas expressamente pela seguradora, as quais devem ser integralmente suportadas por ela, “ainda que excedam o limite pactuado”; O art. 84, que estabelece que as despesas de regulação e liquidação do sinistro são de responsabilidade exclusiva da seguradora, sem afetar o valor da garantia; E o art. 88, que, tratando da mora da seguradora, impõe responsabilidade contratual adicional, incluindo multa de 2%, correção monetária, juros moratórios e perdas e danos, ainda que esse total exceda o LMI.
23 Art. 783, CC. Salvo disposição em contrário, o seguro de um interesse por menos do que valha acarreta a redução proporcional da indenização, no caso de sinistro parcial.
24 ‘Se a importância segurada [...] for, na ocasião do sinistro, inferior ao valor real dos bens cobertos, o segurado será considerado o segurador da parte excedente e suportará o respectivo prejuízo em rateio. Isto significa que, se o cliente atribuir, no seguro de seus bens, importância inferior à que eles realmente valem, em caso de sinistro parcial a indenização será paga uma percentagem sobre o prejuízo apurado, igual à percentagem do valor dos bens que efetivamente segurou. [...]. [DOS SANTOS, Ricardo Bechara. Direito de Seguro no Novo Código Civil e Legislação Própria. Editora Forense, 2006, pág. 261
-360- Índice
A LCS, no caput do art. 9125, estabelece um novo regime para o rateio, sem, contudo, modificar sua natureza jurídica. Ao contrário do que dispõe o art. 783 do Código Civil, ela inverte a lógica tradicional, ao prever como regra a não aplicação do rateio, salvo se houver cláusula expressa em sentido contrário, com a devida indicação da fórmula a ser utilizada, de modo a garantir ao segurado transparência e previsibilidade na apuração da indenização (§1º).
Também inova a LCS ao reconhecer que a discrepância entre o valor em risco declarado e o efetivamente apurado pode ser superveniente à contratação, ou seja, surgir durante a vigência da apólice. Nesses casos, a lei restringe a incidência do rateio às hipóteses em que: (i) inexistir cláusula contratual que permita o ajuste do prêmio, e (ii) a alteração do valor do risco tenha decorrido de ato voluntário do segurado (§2º). Em outras palavras, se a modificação do valor do risco for involuntária, e o contrato admitir o reajuste do prêmio, o rateio não se aplicará.
É relevante destacar que, ainda que a LCS admita a aplicação do rateio, essa cláusula não incide automaticamente sobre todas as apólices de seguros de dano. Antes, é imprescindível verificar a forma de contratação ajustada pelas partes.
A esse respeito, a Circular SUSEP n.º 621/2021 que, atualmente, regulamenta os seguros de danos, prevê em seu art. 16 que o contrato deve indicar se o seguro foi contratado sob a forma de risco absoluto, relativo ou total:
• No seguro a risco absoluto (ou não proporcional), não se exige correlação entre o valor declarado e o valor real do interesse segurado. Assim, mesmo que o segurado declare apenas 50% do valor real do bem, por exemplo, esse fato não repercute no cálculo da indenização, desde que respeitado o Limite Máximo de Indenização (LMI). Portanto, não se aplica a cláusula de rateio nesse tipo de apólice.
25 Art. 91. Na hipótese de sinistro parcial, o valor da indenização devida não será objeto de rateio em razão de seguro contratado por valor inferior ao do interesse, salvo disposição em contrário.
• No seguro a risco relativo ou total (também conhecido como seguro proporcional26), o segurado declara o valor em risco e estima um dano máximo provável, que servem de referência para a fixação do LMI. Nesse modelo, havendo sinistro e sendo apurado que o valor real em risco supera aquele declarado, aplica-se a cláusula de rateio, de modo que a indenização será proporcionalmente reduzida.
Dessa forma, voltando a analisar o caput do artigo 91 da LCS, percebe-se que o legislador adotou, como regra geral para o seguro patrimonial, a forma de contratação como sendo a risco absoluto.
Essa disposição tem influência do artigo 8:10127do Principles of European Insurance Contract Law (PEICL)28, projeto acadêmico produzido pelo grupo Restatement of European Insurance Contract Law com o apoio do Parlamento Europeu que, de forma propositiva, visou criar um modelo de código unificado de seguros aplicável para toda a União Europeia, publicado no ano de 2009, e serve como uma espécie de soft law.
Outro aspecto relevante, especialmente nos seguros patrimoniais, diz respeito à forma de indenização: a valor de novo ou a valor atual.
26 ‘[...] Seguros proporcionais: Apresentam características patrimoniais. Como o nome está a indicar, deve haver correlação entre a importância segurada do bem e o valor em risco do mesmo, de modo que não haja desequilíbrio no caso de eventual cálculo de indenização, gerando perda para o segurado, que não receberá o valor a que pensava ter direito.’ [MARTINS, João Marcos Brito. Direito de Seguro. Comentado conforme as disposições do Novo Código Civil. 2ª edição, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, pág. 51).
27 ‘The insurer shall be liable for any insured loss up to the sum insured even if the sum insured is less than the Value of the property insured at the time when the insured event occurs’. Tradução livre: A seguradora será responsável por qualquer perda segurada até o valor segurado, mesmo que o valor segurado seja inferior ao valor do bem segurado no momento em que o evento segurado ocorrer.
28 https://ius.uzh.ch/dam/jcr:0e4dca21-bb3e-4fb8-a189-e3a5e2ccb0dd/peicl-en. pdf Visto em 20.07.2025.
-362- Índice
Essa escolha também impacta na aplicação ou não da cláusula de rateio29.
O caput do art. 92 da LCS30 reconhece expressamente a licitude da contratação a valor de novo, modalidade já consolidada na prática de mercado, embora em um passado remoto tenha havido controvérsia quanto à sua validade jurídica por, supostamente, violar o princípio indenitário, em razão de a indenização se dar de forma desatrelada do valor do prejuízo apurado por ocasião do sinistro 31 .
A inovação trazida pela LCS está no §1º do art. 92, ao admitir que, havendo previsão de reconstrução do bem, o pagamento da indenização pode ser fracionado, conforme o andamento das obras, desde que essa forma não cause prejuízo ao segurado ou impeça a efetiva liquidação do sinistro.
Já o §2º do mesmo artigo estabelece outra importante novidade, ao vedar a aplicação da cláusula de rateio no contrato firmado a valor de novo, tornando-o, compulsoriamente, em seguro a risco absoluto. Trata-se de alteração em relação à prática atual32, que não distingue entre valor de novo ou valor atual para fins de aplicação do rateio.
29 Nesse tipo de contratação é muito comum a seguradora, em apólices com valores significativos, exigir do segurado um laudo de avaliação patrimonial objetivando ter maior segurança em relação ao valor em risco declarado, justamente por saber que sua responsabilidade observará o LMI, sem aplicação da cláusula de rateio.
30 As indenizações de forma geral nos seguros de propriedades se dão a valor atual ou valor de novo, a depender do que restou ajustado na contratação. Enquanto a valor atual significa o custo de reposição do bem sinistrado, em estado de novo, na época do sinistro, com aplicação de fator de depreciação, considerando o uso, desgaste, idade etc., a valor de novo, não há incidência da depreciação.
31 GONÇALVES, Tiago Moraes. O seguro a valor de novo. Revista Brasileira de Direito do Seguro e da Responsabilidade Civil, São Paulo, Ano I, 1ª Edição, 2009, p. 234 e seguintes.
32 Art. 16, § 2º, da Circular SUSEP 621/2021: ‘Nos seguros contratados a risco relativo, deverá ser informado o critério de rateio dos prejuízos indenizáveis em caso de sinistro, devendo ser especificado se o valor em risco apurado (VRA) será calculado com base no valor de novo ou no valor atual do bem’.
5. O Direito do Segurador em Recompor o fundo mutual nos sinistros de dano
O contrato de seguro se fundamenta na lógica do mutualismo, em que o risco é diluído entre uma coletividade de segurados. A seguradora atua como gestora do fundo mutual, sendo responsável pela administração dos recursos que compõem essa massa coletiva. Assim, toda e qualquer indenização paga decorre de valores retirados do fundo comum, alimentado pelos prêmios pagos pelos segurados.
Nesse contexto, o art. 9433 da LCS confere à seguradora o direito à sub-rogação nos direitos do segurado, após o pagamento da indenização — seja por meio da aquisição do bem indenizado, seja pelo exercício do direito de regresso contra o causador do dano. Essa prerrogativa tem dupla fundamentação jurídica: de um lado, repousa sobre o princípio que veda o enriquecimento sem causa do segurado, que não pode ser indenizado integralmente e ainda manter direitos residuais; de outro, visa à proteção do fundo mutual, uma vez que a recuperação de valores pela seguradora é reintegrado aos recursos do fundo mutual, anteriormente despendidos, beneficiando toda a coletividade de segurados por meio da contenção dos custos e da estabilização do prêmio.
A LCS trata o instituto da sub-rogação de forma mais analítica do que a legislação atual, ampliando sua função protetiva do mutualismo. O §1º do art. 94 reforça que qualquer ato do segurado que prejudique o direito de sub-rogação do segurador será ineficaz. Mais do que isso, o §2º atribui ao segurado o dever de colaborar com a seguradora no exercício desse direito, sob pena de responder pelos prejuízos a que der causa.
Contudo, o §3º estabelece importante limite ao exercício da sub-rogação, determinando que ele não poderá prejudicar eventual direito remanescente do segurado ou beneficiário34.
33 Art. 94. A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado pelas indenizações pagas nos seguros de dano.
34 O próprio artigo 96 da LCS diz que ‘A seguradora e o segurado ratearão os bens atingidos pelo sinistro, na proporção do prejuízo suportado’, ou seja, se a indenização for parcial, a sub-rogação não se fará pelo todo, estando protegida a parte cabente ao segurado’.
-364- Índice
A mitigação ao exercício pleno da sub-rogação também está presente no art. 95 da LCS, que veda o ressarcimento contra o cônjuge, ascendentes ou descendentes do segurado, salvo em caso de culpa grave (inciso I). De forma semelhante, restringe-se o regresso contra empregados ou pessoas sob responsabilidade do segurado (inciso II)35.
Trata-se de uma proteção ao núcleo familiar e aos vínculos trabalhistas, refletindo valores sociais e jurídicos como a preservação da paz doméstica e a estabilidade nas relações de trabalho — tal como já sinalizado parcialmente no §1º do art. 786 do Código Civil36. Vale dizer que essa disposição é praticamente uma cópia do item 3 do artigo 10:101 do já mencionado PEICL37
Contudo, a LCS inova ao prever uma exceção a essas restrições, permitindo o exercício da sub-rogação quando tais pessoas estiverem amparadas por seguro de responsabilidade civil. Nessa hipótese, a seguradora sub-rogada poderá buscar o ressarcimento perante a seguradora do causador do dano, com fundamento no contrato de responsabilidade civil deste último.
Em uma interpretação inicial, essa previsão poderia sugerir a possibilidade de uma ação direta entre seguradoras, sem a presença do causador do dano. No entanto, essa leitura revela-se juridicamente
35 Art. 95. A seguradora não terá ação própria ou derivada de sub-rogação quando o sinistro decorrer de culpa não grave de: I - cônjuge ou parentes até o segundo grau, consanguíneos ou por afinidade, do segurado ou do beneficiário; II - empregados ou pessoas sob a responsabilidade do segurado.
36 Art. 786 [...] § 1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.
37 ‘(3) The insurer shall not be entitled to exercise rights of subrogation against a member of the household of the policyholder or insured, a person in an equivalent social relationship to the policyholder or insured, or an employee of the policyholder or insured, except when it proves that the loss was caused by such a person intentionally or recklessly and with knowledge that the loss would probably result’. Tradução livre: (3) A seguradora não terá o direito de exercer direitos de sub-rogação contra um membro da família do segurado ou segurado, uma pessoa em relação social equivalente à do segurado ou segurado, ou um empregado do segurado ou segurado, exceto quando provar que a perda foi causada por tal pessoa intencionalmente ou imprudentemente e com conhecimento de que a perda provavelmente resultaria.
imprópria e tecnicamente arriscada, pois colocaria a seguradora do causador do dano em situação de vulnerabilidade, especialmente por não deter conhecimento direto sobre os fatos e por comprometer sua capacidade de apuração e regulação do sinistro.
Com razão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 529, que afirma ser inadmissível a ação do terceiro (ou da seguradora sub-rogada) contra a seguradora do causador do dano, sem a presença deste como litisconsorte necessário. O entendimento jurisprudencial visa justamente garantir o contraditório, a ampla defesa e a adequada instrução probatória, reconhecendo que o segurado causador do dano é parte essencial, por ser quem detém o maior conhecimento sobre os fatos e circunstâncias do sinistro.
A própria LCS, em seu art. 10238, reforça a importância e indispensabilidade da participação do segurado na ação judicial, na exata forma disciplinada na mencionada Súmula 529.
Diante disso, a disposição do parágrafo único39 do art. 95 da LCS, embora inovadora e tecnicamente relevante, enfrenta limites práticos de aplicabilidade, sobretudo no plano judicial. Isso porque, para o exercício do direito de regresso da seguradora sub-rogada contra a congênere, será necessária a presença do segurado responsável pelo dano no polo passivo da demanda. Tal exigência, na prática, pode esvaziar a eficácia da norma, justamente nos casos que envolvem familiares ou pessoas sob a responsabilidade do segurado — os mesmos sujeitos que a lei busca preservar ao proibir o regresso direto contra eles nos incisos I e II do art. 95.
6. Seguro de Responsabilidade Civil e sua Função à Luz da LCS
As pessoas, em sociedade, estão constantemente sujeitas a causar ou sofrer danos. Para enfrentar essa segunda hipótese — a de causar
38 Art. 102. Os prejudicados poderão exercer seu direito de ação contra a seguradora, desde que em litisconsórcio passivo com o segurado.
39 Art. 95. [...]. Parágrafo único. Quando o culpado pelo sinistro for garantido por seguro de responsabilidade civil, é admitido o exercício do direito excluído pelo caput deste artigo contra a seguradora que o garantir.
Índice
-366-
danos a terceiros — e preservar a harmonia nas relações sociais, surgiu o instituto da responsabilidade civil, que atribui ao lesante o dever de indenizar o lesado pelo prejuízo experimentado.
A responsabilidade civil, no ordenamento brasileiro, subdivide-se em subjetiva e objetiva. A primeira decorre da necessidade de apuração de culpa, exigindo a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 186 do Código Civil40. Já a responsabilidade objetiva prescinde da culpa, fundando-se na lei ou no risco da atividade, bastando a prova do nexo causal e do dano.
Como o seguro opera com base na gestão de riscos, desenvolveu-se no mercado o seguro de responsabilidade civil (RC), voltado à proteção do patrimônio do causador do dano. Trata-se de seguro de adesão facultativa — salvo nos casos de obrigatoriedade legal, quando o risco gerado pela atividade extrapola os interesses individuais, assumindo relevância social e econômica.
Nestes casos, o seguro obrigatório visa prioritariamente a proteção da vítima, consagrando a função social do seguro, que se torna evidente ao ser inserido como instrumento de proteção coletiva41.
O art. 787 do Código Civil define o seguro de responsabilidade civil como aquele em que o segurador “garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro”. Embora se trate, em regra, de contrato celebrado com o intuito de proteger o patrimônio do segurado, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer a existência de
40 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
41 O seguro obrigatório assim se faz quando o Estado observa que o interesse legítimo a ser protegido é de tal relevância que transcende o interesse do particular, reverberando importantes consequências à sociedade, ou seja, possui uma função social de tão alta magnitude que justifica estabelecer a compulsoriedade na contratação desse mecanismo de proteção, mesmo que para isso ocorra de certo modo uma intromissão na própria atividade privada. [SENHORA, Victor Augusto Benes. O seguro obrigatório de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga para a hipótese de roubo – análise da (in)constitucionalidade da lei n. 14.599/2023 e da opção legislativa na perspectiva econômica. Aspectos Jurídicos dos Contratos de Seguro, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2025, p. 159].
uma dupla função: proteção do segurado e do terceiro lesado, equiparando, neste aspecto, o seguro facultativo ao obrigatório.
Esse entendimento foi positivado no art. 98 da LCS42, consolidando interpretação já adotada, inclusive, pelo STJ43, quando reconhece que o seguro de RC não visa apenas proteger o patrimônio do segurado, mas também garantir o direito da vítima à indenização, reforçando a função social da garantia securitária. O mesmo entendimento se extrai das lições de DELGADO44 e do Enunciado 544 da VI Jornada de Direito Civil do CJF, ao afirmar que tanto o segurado quanto a vítima são destinatários da proteção do contrato de seguro de responsabilidade civil45.
Além da previsão de dupla função, a LCS institui mecanismos que favorecem a efetividade da proteção à vítima, como o dever do segurado de informar ao terceiro prejudicado a existência e os termos
42 Art. 98. O seguro de responsabilidade civil garante o interesse do segurado contra os efeitos da imputação de responsabilidade e do seu reconhecimento, assim como o dos terceiros prejudicados à indenização.
43 ‘[...] espécie securitária não se visa apenas proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu patrimônio, mas, em igual medida, também se garante o interesse dos terceiros prejudicados à indenização, ganhando relevo a função social desse contrato’. No acórdão se faze alusão aos arts. 105 e 106 do então PLC 29/2017, que posteriormente deu origem a LCS. [REsp n. 1.738.247/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 10/12/2018.]
44 ‘O artigo 787 do Código Civil de 2002 registra proteção ao terceiro vítima de danos produzidos por outrem, em razão de sinistro cujo risco está acobertado por seguro. A lei alcança, portanto, uma relação jurídica que nasce do seguro celebrado e do dano produzido e que tem como partes o segurador e a vítima que, originalmente, não integrou a formação do contrato’. [DELGADO, José Augusto. Comentários ao novo Código Civil, Volume XI: das várias espécies de contrato de seguro, Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 563]
45 ‘O seguro de responsabilidade civil facultativo garante dois interesses, o do segurado contra os efeitos patrimoniais da imputação de responsabilidade e o da vítima à indenização, ambos destinatários da garantia, com pretensão própria e independente contra a seguradora’
-368- Índice
da apólice (art. 10546). Ainda que não haja sanção expressa para o descumprimento, a norma busca criar condições para que a vítima possa avaliar a viabilidade de seu pleito indenizatório de forma ampla, inclusive em face da seguradora do causador do dano.
Ademais, a boa-fé objetiva e a cooperação, princípios que regem o contrato de seguro, são reforçados pela LCS em diversos dispositivos. O art. 10047 impõe ao segurado o dever de cooperar com a seguradora na regulação do sinistro. O descumprimento pode acarretar responsabilidade por eventuais prejuízos.
No caso de judicialização da demanda o art. 101 exige que o segurado comunique imediatamente à seguradora o recebimento da citação. Essa obrigação deve ser analisada em consonância com o art. 66, II, da LCS48, que prevê a perda integral do direito em caso de conduta dolosa, ou no equivalente aos prejuízos causados, se a omissão for culposa.
O parágrafo único do art. 101 autoriza o segurado a chamar a seguradora ao processo, como litisconsorte sem responsabilidade solidária. Essa previsão, entretanto, parece desconectada da própria LCS, uma vez que o art. 102 permite que o terceiro lesado proponha diretamente a ação contra a seguradora, desde que o segurado dela participe. Além
46 Art. 105. O segurado deverá empreender os melhores esforços para informar os terceiros prejudicados sobre a existência e o conteúdo do seguro contratado.
47 Art. 100. O responsável garantido pelo seguro que não colaborar com a seguradora ou praticar atos em detrimento dela responderá pelos prejuízos a que der causa, cabendo-lhe: I - informar prontamente a seguradora das comunicações recebidas que possam gerar reclamação futura; II - fornecer os documentos e outros elementos a que tiver acesso e que lhe forem solicitados pela seguradora; III - comparecer aos atos processuais para os quais for intimado; IV - abster-se de agir em detrimento dos direitos e das pretensões da seguradora.
48 Art. 66, II, § 1º O descumprimento doloso dos deveres previstos neste artigo implica a perda do direito à indenização ou ao capital pactuado, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora. § 2º O descumprimento culposo dos deveres previstos neste artigo implica a perda do direito à indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.
disso, a Súmula 537 do STJ49 e o art. 128, §único, do CPC50 admitem que o denunciado (no caso, a seguradora) seja executado juntamente com o denunciante, nos limites de sua responsabilidade, sobretudo porque uma vez aceita a denunciação ou contestado o pedido do autor, ele se torna litisconsorte.
Essa aparente inconsistência pode reavivar o debate sobre a inexistência de solidariedade por força do que dispõe o art. 265 do Código Civil51, embora, diante da função social da apólice de RC e da sua dupla função garantidora positivada na lei, a tendência da jurisprudência parece ser a de conferir primazia ao interesse da vítima.
Contudo, a responsabilidade da seguradora não é irrestrita. O art. 103 da LCS52 autoriza o segurador a opor ao terceiro prejudicado as defesas contratuais que possua contra o segurado, desde que anteriores
49 Art. 128. Feita a denunciação pelo réu: I - se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado; II - se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva; III - se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva.
50 Art. 128. Feita a denunciação pelo réu: I - se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado; II - se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva; III - se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva.
51 Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.
52 Art. 103. Salvo disposição legal em contrário, a seguradora poderá opor aos prejudicados as defesas fundadas no contrato de seguro que tiver contra o segurado antes do sinistro.
-370- Índice
O art. 104 da LCS53 vai além, permitindo à seguradora apresentar todas as defesas que o próprio segurado possua com o terceiro, como ausência de culpa, nexo de causalidade, inexistência de dano, prescrição, decadência, ou excludentes de responsabilidade civil.
Por sua vez, o art. 106 da LCS, ao autorizar a seguradora a firmar acordos diretamente com o terceiro, sem reconhecer culpa ou depender de consentimento do segurado, é outro ponto trazido e representa importante avanço.
Ainda assim, a prudência se impõe, pois o pagamento de indenização afeta o LMI da apólice e pode prejudicar o segurado com outros reclamantes ou sinistros futuros e, nesse contexto, ser ele for alvo de questionamento, ao argumento de que a composição foi impertinente ou indevida.
Dessa forma, a interpretação sistemática do art. 106 deve considerar a possibilidade de ajuste contratual prévio, estabelecendo critérios e limites objetivos para que a seguradora possa, com transparência e segurança jurídica, exercer essa prerrogativa54.
Por fim, o art. 107 da LCS trata da hipótese de sinistro com múltiplas vítimas, fixando que, uma vez atingido o LMI, a seguradora será liberada de sua responsabilidade, desde que não tenha conhecimento prévio da existência das demais vítimas.
A preocupação da norma com a justa distribuição da cobertura securitária entre todos os lesados, evitando concentração do benefício
53 Art. 104. A seguradora poderá opor aos terceiros prejudicados todas as defesas que contra eles possuir.
54 É possível encontrar no mercado cláusulas contratuais prevendo que, se o acordo for inviabilizado pelo segurado, a eventual indenização futura será limitada ao valor da proposta recusada por ele, mas aceita pelo terceiro. A partir do espaço conferido pela lei, entendemos que os contratos podem ser aperfeiçoados nessa matéria.
Índice ao sinistro. São exemplos: exclusões de cobertura, perda de direito por omissão de informações, agravamento de risco, atos dolosos, cancelamento da apólice etc.
em apenas um deles, não impede que surjam desafios relevantes na esfera administrativa e judicial.
Administrativamente, questiona-se se a seguradora teria algum dever de diligência para identificar outras vítimas, especialmente considerando o prazo imposto para a regulação e liquidação do sinistro e suas consequências em caso de não observância. Judicialmente, discute-se como garantir essa distribuição proporcional, especialmente quando há múltiplas demandas em diferentes estágios processuais. Haveria possibilidade de reservar parte do LMI em face de ações em curso? O magistrado acolheria o argumento de cumprimento da obrigação, mesmo com pagamento parcial, com base na preservação de recursos para futuras condenações?
Essas são questões que a jurisprudência deverá enfrentar.
Em qualquer hipótese, deve-se preservar o equilíbrio do sistema, assegurando a efetividade do direito da vítima, sem prejudicar o interesse coletivo dos segurados (o mutualismo), que financiam o sistema securitário por meio do pagamento de prêmios — e que não devem ser penalizados por indenizações que ultrapassem os limites contratuais de cobertura.
7. Conclusão
A sistematização promovida pela nova LCS consolida, amplia e traz novos rumos aos fundamentos jurídicos dos seguros de dano, os quais, necessitam ser corretamente aplicados, visando acima de tudo, trazer segurança jurídica e equilíbrio entre os interesses das partes envolvidas. O contrato de seguro de dano, especialmente aquele vinculado à coisa, em sua essência, se alicerça no princípio indenitário, o qual impede o enriquecimento sem causa e assegura a reparação exata do prejuízo sofrido, dentro dos limites previamente pactuados, e esse deve continuar sendo a referência básica na aplicação e interpretação dessa modalidade de seguro.
A LCS deve ser aplicada com o olhar de reforçar a proteção do fundo mutual, e nenhuma interpretação pode se dar em desfavor dos consumidores que estão inseridos na massa segurada, tudo, a fim de que esse instrumento de proteção permaneça hígido e funcional, para o bem de toda a sociedade.
-372- Índice
Mesmo nas hipóteses de pagamento de indenização, que certamente é a infinita maioria das conclusões dos processos de regulação e liquidação do sinistro, a LCS garante à seguradora o direito de sub-rogação, contando com a cooperação do segurado, de modo que o fundo mutual possa ser recomposto, em nome e benefício de todos os segurados, ante seu efeito de contribuir com a redução do preço do seguro, com a consequente possibilidade de dar mais acesso a mais pessoas, especialmente aquelas de poder aquisitivo mais restrito.
No que se refere ao seguro de responsabilidade civil, a legislação reafirma sua função social ampliada, que ultrapassa a tutela do patrimônio do segurado para alcançar também os direitos da vítima. Há consagração da possibilidade de ação direta do terceiro contra a seguradora, desde que o segurado seja litisconsorte, como já era autorizado pela jurisprudência. No entanto, a LCS garante ao segurador o direito de se defender de maneira ampla, não só em relação aos limites da apólice por ele emitida, mas também quanto a própria existência ou não do dever de indenizar do seu segurado, contando com a obrigação deste em colaborar para o melhor e mais adequado desfecho da celeuma.
Bibliografia
GODOY, Claudio Luiz Bueno de; PELUSO, Cézar, coord. Código Civil Comentado, Doutrina e Jurisprudência, Barueri: Manole, 2007
DELGADO, José Augusto. Comentários ao novo Código Civil, Volume XI: das várias espécies de contrato de seguro, Rio de Janeiro: Forense, 2004
DOS SANTOS, Ricardo Bechara. Direito de Seguro no Novo Código Civil e Legislação Própria, Rio de Janeiro: Forense, 2006
GONÇALVES, Tiago Moraes. O seguro a valor de novo. Revista Brasileira de Direito do Seguro e da Responsabilidade Civil, São Paulo, Ano I, 1ª Edição, 2009
GRAVINA, Maurício Salomoni. Princípios Jurídicos do Contrato de Seguro. 2ª edição ver. e atual, Rio de Janeiro: ENS-CPES, 2018
MARTINS, João Marcos Brito. Direito de Seguro. Comentado conforme as disposições do Novo Código Civil. 2ª edição, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003
MIRAGEM, Bruno; PETERSEN, Luiza. Regulação do sinistro: pressupostos e efeitos na execução do contrato de seguro. Revista dos Tribunais. vol. 1025. ano 110. p. 291-324. São Paulo: Ed. RT, março 2021. Disponível em: 019-regulacao-do-sinistro-pressupostos-e-efeitos-na-execucao-do-contrato-de-seguro.pdf. Acesso em: 21.07.2025
SENHORA, Victor Augusto Benes. A doença preexistente no seguro de vida. Análise da Súmula 609 do STJ à luz do Direito & Economia, São Paulo: Roncaratti, 2024
SENHORA, Victor Augusto Benes. O seguro obrigatório de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga para a hipótese de roubo – análise da (in)constitucionalidade da lei n. 14.599/2023 e da opção legislativa na perspectiva econômica. Aspectos Jurídicos dos Contratos de Seguro, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2025
TZIRULNIK, Ernesto. Regulação de Sinistro (ensaio jurídico), São Paulo: Editora Max Limonad, 2001
NORMAS DE PUBLICAÇÃO PARA AUTORES DE TRABALHOS PARA A REVISTA JURÍDICA DE SEGUROS DA CNSEG – EDIÇÃO ESPECIAL Nº 20
1. Os trabalhos enviados para a REVISTA JURÍDICA DE SEGUROS DA CNSEG Nº 20 serão submetidos a uma Comissão de Avaliação Editorial que terá por incumbência:
1.1. Avaliar a adequação do artigo a estas normas;
1.2. Avaliar a adequação do artigo aos objetivos técnico e científicos da RJS;
1.3. Avaliar a adequação ética do artigo às normas de conduta da CNSEG.
2. Os textos deverão ser redigidos de acordo com as normas definidas pelo Novo Acordo Ortográfico, assinado pela Academia Brasileira de Letras, vigente no Brasil desde Janeiro de 2016.
3. Os trabalhos enviados para a REVISTA JURÍDICA DE SEGUROS DA CNSEG que não atenderem a estas normas de publicação serão devolvidos aos autores para que seja realizada a adequação, no prazo fixado pela comissão de avaliação.
4. Os autores ao encaminhar trabalhos para publicação na REVISTA JURÍDICA DE SEGUROS DA CNSEG, aceitam ceder seus direitos autorais para a revista e autorizam divulgação por meio impresso ou digital dos conteúdos e/ou de seus nomes.
5. A publicação de artigo na Revista Jurídica da CNseg implica na obrigatoriedade de referência a esta publicação em qualquer outro veículo em que o artigo venha a ser publicado posteriormente, em parte ou no todo.
6. Os trabalhos para publicação poderão ser encaminhados em fluxo contínuo para o endereço eletrônico revistajuridica@cnseg.org. br, mesmo endereço que deverá ser utilizado para toda e qualquer comunicação com os editores.
7. Os trabalhos enviados deverão obedecer ao limite de 10 a 15 laudas.
8. Os trabalhos encaminhados para a RJS deverão conter, obrigatoriamente:
a) Título; b) Nome do Autor alinhado à esquerda; c) Breve currículo – limitado a 4 linhas – em nota de rodapé com indicação de referência junto ao nome do autor; d) Resumo – no máximo 250 (duzentos e cinquenta) palavras em português e em inglês ou espanhol; e) Palavras-chave – limitadas a 10 (dez) – em português e em inglês ou espanhol; f) Sumário – numerado em arábico – contendo Introdução; Itens de Desenvolvimento; Conclusão e Referências Bibliográficas.
9. As referências deverão ser citadas em notas de rodapé ao final de cada página e nunca em notas de final de texto.
10. As referências no rodapé deverão obedecer às seguintes normas:
- Livros – Exemplo de referência: GOMES, Orlando. Contratos. 16ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 83.
- Artigos de Revista – BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 12, p. 44-62, out-dez.1994.
- Citações de sites – SARLET, Ingo W. A titularidade simultaneamente individual e transindividual dos direitos sociais analisada à luz do exemplo do direito à proteção e promoção da saúde. Revista Páginas de Direito. Porto Alegre, ano 15, n. 1.240, 12.05.2015. Disponível em www. Xxxxx. Acesso em 30.10.2016.
- Citações de dissertações e teses – LOPES, A. Estudos sobre Regiões Superpovoadas. Tese (Doutorado em Geologia) – Faculdade de Geologia, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, p. 259, 2014.
- Referências Legislativas ou Jurisprudenciais – deverão conter todos os dados necessários (número de lei, número de julgado, tribunal, data de julgamento e de publicação, nome do relator, entre outros) que permitam identificar e localizar a referência se necessário.
11. As referências bibliográficas ao final do texto deverão seguir as mesmas regras da citação de rodapé, porém sem necessidade de
-376- Índice
menção, para livros, do(s) número(s) da(s) página(s) mencionada(s).
Exemplo: GOMES, Orlando. Contratos. 16ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 1995.
12. Os trabalhos deverão ser escritos com fonte Garamond 12; espaço entre linhas 1,15; margens superior e esquerda 3,0; inferior e direita 2,0. Os parágrafos deverão ser JUSTIFICADOS, sem uso de recuo, nem espaçamento anterior ou posterior. As páginas deverão ser numeradas à direita, no rodapé inferior.
13. Os destaques no texto deverão ser feitos em itálico, sendo vedado o uso de negrito ou sublinhado.
14. As reproduções de texto de autores até 03 linhas deverão ser feitas no corpo do texto, com uso de aspas e sem recuo. As reproduções de texto de autores superiores a 03 linhas deverão ser feitas com recuo de 2 cm.
Nossa missão
“É congregar as lideranças das Associadas, elaborar o planejamento estratégico do setor, colaborar para o aperfeiçoamento da regulação governamental, coordenar ações institucionais de debates, divulgação e educação securitária e representar as Associadas perante as autoridades públicas e entidades nacionais e internacionais do mercado de seguros.”
Diagramação Eletrônica: Agência Eclipse Impressão: RCC
Capa: papel Duo Design LD 250 g/m2 | Miolo: papel Pólen Soft 80 g/m2





















